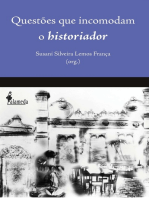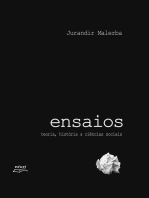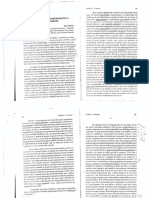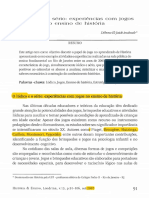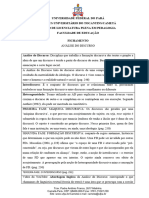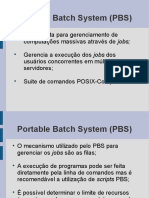Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Que É A História - Jenkins
Enviado por
Wheriston Neris0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
171 visualizações18 páginas1) O documento discute a distinção entre passado e história como discurso, afirmando que o passado não pode ser totalmente recuperado pelos historiadores.
2) É analisada a fragilidade epistemológica da história devido aos limites dos historiadores em captar a totalidade do passado.
3) A ideologia é apontada como o fator que mais determina a interpretação histórica, já que teorias e conceitos expressam sempre um ponto de vista sobre o mundo.
Descrição original:
History
Título original
O Que é a História_jenkins
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1) O documento discute a distinção entre passado e história como discurso, afirmando que o passado não pode ser totalmente recuperado pelos historiadores.
2) É analisada a fragilidade epistemológica da história devido aos limites dos historiadores em captar a totalidade do passado.
3) A ideologia é apontada como o fator que mais determina a interpretação histórica, já que teorias e conceitos expressam sempre um ponto de vista sobre o mundo.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
171 visualizações18 páginasO Que É A História - Jenkins
Enviado por
Wheriston Neris1) O documento discute a distinção entre passado e história como discurso, afirmando que o passado não pode ser totalmente recuperado pelos historiadores.
2) É analisada a fragilidade epistemológica da história devido aos limites dos historiadores em captar a totalidade do passado.
3) A ideologia é apontada como o fator que mais determina a interpretação histórica, já que teorias e conceitos expressam sempre um ponto de vista sobre o mundo.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PPTX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 18
POR KEITH JENKINS
Keith Jenkins é professor-adjunto de História na
University College Chichester, um dos principais e mais
renomados centros ingleses para formação de
professores. A sua obra A História Repensada, foi
traduzida por Mário Vilela e publicada no Brasil em 2001
pela editora contexto, neste livro o autor propõe uma
reflexão metodológica, questionando mais do que
respondendo a proposições que estão inseridas no
trabalho do pesquisador. Este livro, segundo Jenkins, é
uma obra que foi escrita como um “manual de história”,
destinado o professores e alunos, com o objetivo de
colaborar e provocar um debate reflexivo - crítico sobre
a escrita da história, onde o historiador deve ter controle
sobre seu próprio discurso, que para o autor significa”
ter poder sobre o que você quer que a história seja, em
vez de aceitar o que outras pessoas dizem que ela é, em
consequência, isso outorga poder a você, e não a essas
outras pessoas” (JENKINS,2001,pg.109).
O objetivo do autor neste texto é examinar o que é a História de dois ângulos: por
um lado, a história na perpectiva teórica e, em segundo lugar, como ela funciona
na prática. Por fim, ele esboça uma relação entre teoria e prática.
A ideia é familiarizar o leitor com alguns dos debater em torno da História.
1. Da teoria
Para falar em termos teórico, a autor inicia pela concepção de que a história
constitui uma série de discursos a respeito do mundo, tendo como foco principal o
passado. Dessa perspectiva, “a história como discurso está, portanto, numa
categoria diferente daquela sobre a qual discursa”.
A segunda observação importante é de que o passado e a história enquanto
discurso encontram-se livres um do outro, não tendo qualquer relação necessária e
única. Desse modo, aquilo que ocorreu no passado pode ser submetido a
diferentes práticas discursivas. No que diz respeito à história, a historiografia
mostra isso muito bem.
Para ser mais claro, o autor se aprofunda na distinção entre passado e história,
realizando um exercício mental instigante. A dificuldade de percepção no senso
comum dessa diferença decorre do fato mesmo de que a palavra História
geralmente é interpretada como sendo as duas coisas: o passado e o discurso
sobre esse passado.
Para ficar mais claro então, seria necessário começar por
fazer algumas distinções:
Por passado o autor define tudo que se passou antes, em
todos os lugares;
Para tratar os discursos produzidos por historiadores a
respeito desse passado, o autor prefere o termo
historiografia (escrita da história)
Mas por que razão essa distinção é importante?
Por que o passado já aconteceu, não existe mais. Nunca teremos acesso à
integralidade do passado. Nós só conseguimos abordá-lo através dos vestígios,
rastros e sinais deixados pela experiência humana. São esses elementos que
constituem a matéria prima do trabalho dos historiadores.
Mas o discurso produzido pelos historiadores não é um discurso uno, homogêneo.
Ele também é plural, resultante de diferentes visões sobre o passado. Isto é
exemplificado no texto através da obra de Geoffrey Elton.
Essa visão é importante pelo fato também de que a História nunca consegue
resgatar todo o passado, todas as diferentes visões da época e as histórias dos
diferentes sujeitos. Ao longo da história, diversos grupos, pessoas, povos e classes
não tiveram a sua história escrita. E durante muito tempo a história esteve presa
somente aos relatos e narrativas sobre os grandes homens, os poderosos e
dominantes, cujos vestígios da presença geralmente são mais vastos.
Ainda sobre as relações entre passado e discurso sobre o passado, Jenkins reforça
logo em seguida que, a despeito do que possa parecer aos leigos, a historiografia
nunca produz apenas uma leitura do passado, de um fenômeno ou de um
acontecimento.
Evidentemente, algo ocorreu e o historiador se interessa por isso, mas para tentar
resgatar esse passado, para descrevê-lo nós acabamos por produzir uma coisa
diferente desse passado, um discurso sobre ele.
Nesse sentido, uma vez estando clara essa distinção, o problema passa a ser
então saber como o historiador tenta conciliar as duas coisas. É nesse
domínio que se destacam três campos teóricos muito importantes para o
historiador:
A epistemologia
A metodologia
A ideologia.
A epistemologia, como o próprio termo já sugere (episteme vem do grego e
significa conhecimento), no campo historiográfico diz respeito à reflexão sobre
como conhecemos o passado na história. Que tipo de preocupações, escolhas e
opções são realizadas por aqueles que desejam investigar o passado.
E isto, que fique claro, decorre do fato de que não é o passado que se impõe sobre
nós. O que o passado no diz ou pode dizer depende do tipo de questões que
lançamos sobre ele, nossos interesses de pesquisa, nossas curiosidades.
Além disso, muito embora o discurso historiográfico tente captar a realidade e
apreender a verdade de um fenômeno, isto, para o autor, nunca seria passível de
ser realizado. E isto por causa da fragilidade epistemológica da história.
Para essa Fragilidade Epistemológica, o autor apresenta 4 causas básicas:
Em primeiro lugar, nenhum historiador consegue abarcar e assim recuperar a
totalidade dos acontecimentos passados. Sempre relatamos uma parte dos
acontecimentos, uma fração do que ocorreu, um ponto de vista sobre o ocorrido.
Quer dizer, embora por vezes seja apresentado desta forma, o relato de um
historiador nunca corresponde exatamente ao passado.
Em segundo lugar, nenhum relato consegue recuperar o passado por que o
passado são experiências, situações, dilemas, vivências... O que nós fazemos são
interpretações de interpretações. Relatos, descrições, narrativas que nunca podem
ser tomadas como última palavra sobre o assunto. Não há nenhuma acontecimento,
processos, fenômeno que possua uma única explicação válida e definitiva. Estamos
condenados sempre a rever e a reler o passado em função de novas fontes, de
novas preocupações...
A história depende, em terceiro lugar, também de um sujeito histórico, de um narrador,
de um olhar. Evidentemente, não estamos aqui no plano da literatura, da ficção, mas a
história é um conhecimento mediado pela escrita, condicionado pelas fontes de que
dispõe e também pelas avaliações dos outros historiadores. Mesmo assim, o que o
historiador escreve ainda depende de suas predileções, de suas visões e preocupações
formuladas no presente.. “As fontes impedem a liberdade total do historiador e, ao
mesmo tempo, não fixam as coisas de tal modo que se ponha mesmo fim a infinitas
interpretações” (p. 33).
A quarta e não menos importante das razões da fraqueza epistemológica da história
decorre do fato de que pela sua posição de observador à distância, cuja perspectiva
goza das vantagens da retrospectiva (como se já conhecêssemos o fim da história)
garante ao historiadores a possibilidade de saber mais do que as pessoas sabiam,
mesmo que elas tenham vivido o tempo histórico, o período analisado. Por sua própria
condição, isto é, como sujeito histórico de outra época e também marcado pela sua
condição, o que o historiador faz é tentar traduzir essa experiência passado para o
presente, utilizando-se tanto de conceitos do passado, como também de conceitos do
presente. Quer dizer, ao tentar reconstituir o passado, o historiador acaba sempre
dando novas feições às coisas, ressaltando aspectos que eram vistos como menos
importantes, resumindo ou complexificando a realidade.
Se a história apresenta todas essas fragilidades, em certa medida o mesmo pode
ser dito quanto às suas metodologias. E isto muito embora todos os historiadores
se empenhem em ser o mais objetivos possível, e que a busca da verdade
transcenda as posições ideológicas e metodológicas dentro dessa disciplina.
“O historiador sabe que o que está estudando é real, mas sabe que nunca
conseguirá recuperar todo o real [...] ele sabe que o processo da pesquisa e
reconstituição histórica não termina nunca, mas também está cônscio de que isso
não torna seu trabalho irreal ou ilegítimo”.
Após examinar diferentes posições políticas das correntes historiográficas, Jenkins
sentencia então que para a maioria dos historiadores, o conhecimento e a
legitimidade do conhecimento advêm de regras e procedimentos metodológicos
rígidos – quer dizer a liberdade administrativa dos historiadores encontra-se
condicionada pelo rigor metodológico e pela administração que fazem das provas
sobre as quais se baseiam suas explicações.
Porém, para Jenkins o que em última instância determina a
interpretação não está exatamente no método ou nas provas, mas na
ideologia.
A questão pode ser formulada da seguinte maneira: em um espaço
que conta com tantas opções teórico-metodológicas, que critério
adotamos para selecionar uma delas como referência para os nossos
trabalhos? E os conceitos selecionados, seriam eles neutros,
objetivos?
Para o autor, todas as teorias e conceitos expressam um ponto de
vista ideológico sobre o mundo. Mesmo naquelas análises
consideradas como mais neutras, ainda aqui se encontra uma visão
de mundo, uma forma de interpretar a realidade que nunca é
inteiramente descritiva.
O conhecimento é ele também perpassado por relações de poder.
Nada na forma como descrevemos o passado, como são selecionados
os acontecimentos, os atores dignos de serem rememorados
encontra-se longe de uma posição ideológica. Ela pode não estar
explícita, mas encontra-se sempre lá!
Por isso o autor afirma:
“O fato de que a história propriamente dita seja um constructo
ideológico significa que ela está sendo constantemente retrabalhada
e reordenada por todos aqueles que, em diferentes graus, são
afetados pelas relações de poder – pois os dominados, tanto quanto
os dominantes, tem suas próprias versões do passado para legitimar
suas respectivas práticas, versões que precisam ser tachadas de
impróprias e assim excluídas de qualquer posição no projeto do
discurso dominante”.
Para encerrar então Jenkins sentencia: a História se compõe de epistemologia,
metodologia e ideologia.
A epistemologia nos diz que a experiência vivida e o discurso sobre o passado não
são a mesma coisa, visto que suas conexões apresentam uma série de fragilidades.
Metodologicamente, ainda que a busca pela verdade e pela objetividade se
imponham aos historiadores de maneira quase que unânime – o rigor da
administração das provas é fundamental neste caso – existem muitas metodologias
disponíveis no mercado intelectual.
Essas metodologias não são instrumentos neutros, visto que se constituem sempre
como um campo de batalhas de litígios e de posicionamentos ideológicos de
fundo (visões de mundo), o que nos remete sempre a questões de poder, dentro e
fora do universo da história propriamente dita.
Repensando a HISTÓRIA PROISSIONAL, isto é, produzida por historiadores que em
geral são assalariados e trabalham no ensino superior.
A questão desse tópico é caracterizar a atuação dos profissionais da história e a
maneira como eles produzem essas histórias. Como eles fazem isso?
A) Partindo dos seus valores, posições e perspectivas ideológicas;
B) Dependem sempre dos seus pressupostos epistemológicos,
independentemente de ter consciência ou não disso, e empregam vocabulários
próprios, conceitos característicos: tempo, duração, processo, transformação,
permanência, diferença, desigualdade...
C) Os historiadores têm rotinas e procedimentos para lidar com o material;
D) Os historiadores exercem pressão uns sobre outros e dialogam entre si e com
fontes novas;
E) Suas pesquisas devem se traduzir na escrita, o que constitui uma atividade mais
complexa do que pode parecer a princípio;
F) Ao produzir textos para serem lidos e consumidos, os historiadores ativam o
processo de (re)interpretação ininterrupta de fenômenos, acontecimentos e
processos;
Levando em consideração as fragilidades epistemológicas da história, a
pluralidade de metodologias e teorias disponíveis e a inevitável dimensão política
e ideológica da história, surge então um dilema, uma aflição junto aos aspirantes:
A aflição é esta: se entendermos que a história é o que fazem os
historiadores; que eles a fazem com base em frágeis comprovações;
que a história é inevitavelmente interpretativa; que há pelo menos
meia dúzia de lados em cada discussão e que, por isso, a história é
relativa... Se entendermos tudo isso, então podemos muito bem
pensar: “Bom, se a história parece ser só interpretação e ninguém
sabe nada realmente, então para que estudá-la? Se tudo é relativo,
para que fazer história? Trata-se de um estado de espírito que
poderíamos chamar de “desventura do relativismo”
O QUE É A HISTÓRIA? PRA QUEM É A HISTÓRIA?
Você também pode gostar
- Hayden White - O Fardo Da História 2Documento25 páginasHayden White - O Fardo Da História 2Darcio Rundvalt100% (1)
- Educação Histórica e Literacia HistóricaDocumento11 páginasEducação Histórica e Literacia HistóricaRegina Ribeiro100% (2)
- Escolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXNo EverandEscolas de Primeiras Letras: Civilidade, Fiscalização e Conflito nas Minas Gerais do Século XIXAinda não há avaliações
- Teoria Da História - Luiz Henrique Torres PDFDocumento140 páginasTeoria Da História - Luiz Henrique Torres PDFDomingos Martins Jr.Ainda não há avaliações
- BNCC e os currículos subnacionais: prescrições indutoras das políticas educacionais e curricularesNo EverandBNCC e os currículos subnacionais: prescrições indutoras das políticas educacionais e curricularesAinda não há avaliações
- O Ensino de História No BrasilDocumento17 páginasO Ensino de História No BrasilViviane Cavalcante100% (1)
- Egito MesopotâmiaDocumento2 páginasEgito MesopotâmiaSérgio RêgoAinda não há avaliações
- Fundamentos Metódológicos Do Ensino de HistóriaDocumento68 páginasFundamentos Metódológicos Do Ensino de Históriamariajulianafa-1100% (1)
- BITTENCOURT, Circe. Introdução A 'Livro Didático e Saber Escolar'Documento20 páginasBITTENCOURT, Circe. Introdução A 'Livro Didático e Saber Escolar'TommySantos0% (1)
- Analise Tematica Todos Os Capitulos MARC BLOCHDocumento10 páginasAnalise Tematica Todos Os Capitulos MARC BLOCHGabrieli DondaAinda não há avaliações
- A História Nossa de Cada Dia: Saber Escolar e Saber Acadêmico Na Sala de Aula.Documento11 páginasA História Nossa de Cada Dia: Saber Escolar e Saber Acadêmico Na Sala de Aula.Rodrigo SennaAinda não há avaliações
- LDB 4024 - 61 - Pesquisas e Algumas ReferênciasDocumento3 páginasLDB 4024 - 61 - Pesquisas e Algumas ReferênciasMarcos Vinicius BarbosaAinda não há avaliações
- Fichamento Regência-Boris FaustoDocumento5 páginasFichamento Regência-Boris FaustoGiovany Pereira ValleAinda não há avaliações
- Ensino de História - Lugar de FronteiraDocumento19 páginasEnsino de História - Lugar de FronteiraJoana MoitasAinda não há avaliações
- FALCON, Francisco. História e Cidadania. in História e Cidadania.Documento28 páginasFALCON, Francisco. História e Cidadania. in História e Cidadania.EllocopablitoAinda não há avaliações
- Por Um Ensino Que DeformeDocumento14 páginasPor Um Ensino Que Deformemariana_santos_36Ainda não há avaliações
- HISTÓRIA PÚBLICA, MÍDIAS E LINGUAGENS CULTURAIS: DESAFIOS À PESQUISA E ÀS PRÁTICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA Éder Cristiano de Souza Márcia Elisa Teté RamosDocumento29 páginasHISTÓRIA PÚBLICA, MÍDIAS E LINGUAGENS CULTURAIS: DESAFIOS À PESQUISA E ÀS PRÁTICAS NO ENSINO DE HISTÓRIA Éder Cristiano de Souza Márcia Elisa Teté RamosMárcia TetéAinda não há avaliações
- Teoria e HistoriografiaDocumento114 páginasTeoria e HistoriografiaDaniel RodrigueAinda não há avaliações
- RÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeDocumento18 páginasRÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeJuliana GelbckeAinda não há avaliações
- Saddi - Parafuso Da Didatica Da HistoriaDocumento10 páginasSaddi - Parafuso Da Didatica Da HistoriaRafael SaddiAinda não há avaliações
- De Certeau e A Operação HistoriográficaDocumento9 páginasDe Certeau e A Operação HistoriográficaJosi BroloAinda não há avaliações
- Professor de HistoriaDocumento16 páginasProfessor de HistoriaDiego AlmeidaAinda não há avaliações
- Ensinar Historia No Sec Xxi PDFDocumento204 páginasEnsinar Historia No Sec Xxi PDFIsadoraMariaAinda não há avaliações
- História Da Educação Vol.1Documento182 páginasHistória Da Educação Vol.1AparecidoCostaAinda não há avaliações
- O Uso de Fontes e Diferentes Linguagens No Ensino de História Na EducaçãoDocumento14 páginasO Uso de Fontes e Diferentes Linguagens No Ensino de História Na Educaçãocleiton_jonesAinda não há avaliações
- A História, Os Homens e o TempoDocumento17 páginasA História, Os Homens e o TempoDavison RochaAinda não há avaliações
- O Lúdico No Ensino de História. Revista História e EnsinoDocumento16 páginasO Lúdico No Ensino de História. Revista História e EnsinoDiego Barreto AzevedoAinda não há avaliações
- Ementa - Didática de História I - 1-2017Documento6 páginasEmenta - Didática de História I - 1-2017Fatima SilvaAinda não há avaliações
- Texto6 - Flávia Eloisa CaimiDocumento24 páginasTexto6 - Flávia Eloisa CaimiAntonielton Souza SilvaAinda não há avaliações
- A Identidade Do Historiador - Francisco J. C. FalconDocumento24 páginasA Identidade Do Historiador - Francisco J. C. FalconMárcia TetéAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A História Ensinada (Reduzido)Documento13 páginasReflexões Sobre A História Ensinada (Reduzido)Wallace Rodrigo100% (1)
- Representação Chartier OkDocumento24 páginasRepresentação Chartier OkSariza CaetanoAinda não há avaliações
- Programa de Teoria Da História II VasconcelosDocumento4 páginasPrograma de Teoria Da História II VasconcelosJosé VasconcelosAinda não há avaliações
- O Tempo Historico Como Representação IntelectualDocumento21 páginasO Tempo Historico Como Representação IntelectualpsmsilvaAinda não há avaliações
- CATROGA, Fernado. Ainda Será A História Mestra Da VidaDocumento28 páginasCATROGA, Fernado. Ainda Será A História Mestra Da VidaArtur Barracosa Mendonça100% (1)
- Cognição Historica SituadaDocumento9 páginasCognição Historica SituadaIasmyn MirandaAinda não há avaliações
- SCHMIDT, Maria Auxiliadora MOreira Dos Santos. História Do Ensino de HistóriaDocumento19 páginasSCHMIDT, Maria Auxiliadora MOreira Dos Santos. História Do Ensino de HistóriaDenise Quitzau KleineAinda não há avaliações
- História Dos, Nos e Por Meio Dos PeriódicosDocumento45 páginasHistória Dos, Nos e Por Meio Dos PeriódicosPaulo PasqualAinda não há avaliações
- Lista Grecia VunespDocumento6 páginasLista Grecia VunespKxyrr8Ainda não há avaliações
- 05-NORA, Pierre - Entre Memoria e Historia - A Problematic A Dos LugaresDocumento14 páginas05-NORA, Pierre - Entre Memoria e Historia - A Problematic A Dos LugaresMichel PlatiniAinda não há avaliações
- 4º Fichamento - Os Excluídos Da HistóriaDocumento8 páginas4º Fichamento - Os Excluídos Da HistóriamanuAinda não há avaliações
- 2016 - A Teoria Da História de Jörn Rüsen para Alunos de Graduação em História e Educação - REVISTA AlbuquerqueDocumento36 páginas2016 - A Teoria Da História de Jörn Rüsen para Alunos de Graduação em História e Educação - REVISTA AlbuquerqueWilian Carlos Cipriani Barom100% (1)
- Documento Orientador Novo Ensino Médio Na Bahia Versão Final Lido I PDFDocumento24 páginasDocumento Orientador Novo Ensino Médio Na Bahia Versão Final Lido I PDFVagner Gonçalves Viana0% (1)
- Plano de Disciplina - Introdução Aos Estudos Históricos 2016.1Documento5 páginasPlano de Disciplina - Introdução Aos Estudos Históricos 2016.1Fábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Programa Didatica Da HistóriaDocumento5 páginasPrograma Didatica Da Históriamendes_breno2535Ainda não há avaliações
- BNCC e o Ensino de História CriticaDocumento8 páginasBNCC e o Ensino de História CriticaSandro NandolphoAinda não há avaliações
- História Da Educação No Brasil - A Constituição Histórica Do Campo - Diana Vidal e Luciano MendesDocumento34 páginasHistória Da Educação No Brasil - A Constituição Histórica Do Campo - Diana Vidal e Luciano MendesAlexsandro CabralAinda não há avaliações
- Ensino de História Medieval e História Pública 2020Documento199 páginasEnsino de História Medieval e História Pública 2020MarianaAinda não há avaliações
- A Nova História CulturalDocumento20 páginasA Nova História Culturalchristiano_tre3Ainda não há avaliações
- BRAUDEL, Fernand - História e Ciências Sociais - A Longa DuraçãoDocumento18 páginasBRAUDEL, Fernand - História e Ciências Sociais - A Longa DuraçãoTiago AlmeidaAinda não há avaliações
- 1 1 Historia Da Educação e História Política Ler 39-55 PDFDocumento328 páginas1 1 Historia Da Educação e História Política Ler 39-55 PDFsouza900Ainda não há avaliações
- Livro 17. Capítulos Da História Do Brasil ImperialDocumento108 páginasLivro 17. Capítulos Da História Do Brasil ImperialCarlos LarataAinda não há avaliações
- Historia Regional em Sala de AulaDocumento199 páginasHistoria Regional em Sala de AulaDavison RochaAinda não há avaliações
- Conteúdo Concurso Professor HistóriaDocumento6 páginasConteúdo Concurso Professor HistóriaMateus ZangaliAinda não há avaliações
- Relatório Unidade I Renascimento Italiano Peter BurkeDocumento4 páginasRelatório Unidade I Renascimento Italiano Peter BurkeAnderson da Silva67% (3)
- 01 Livro de Resumo VI CBHE-2011Documento652 páginas01 Livro de Resumo VI CBHE-2011omaratom100% (1)
- A Reforma e o Ensino Da SociologiaDocumento13 páginasA Reforma e o Ensino Da SociologiaWheriston NerisAinda não há avaliações
- Eventos Cientificos-Pro - 0012018-2105-18 PDFDocumento13 páginasEventos Cientificos-Pro - 0012018-2105-18 PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- Eventos Cientificos-Pro - 0012018-2105-18 PDFDocumento13 páginasEventos Cientificos-Pro - 0012018-2105-18 PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- 641 2260 1 PB PDFDocumento17 páginas641 2260 1 PB PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- A Luta HistoricaDocumento15 páginasA Luta HistoricaWheriston NerisAinda não há avaliações
- 1108 4061 1 PBDocumento13 páginas1108 4061 1 PBWheriston NerisAinda não há avaliações
- A Reforma e o Ensino Da SociologiaDocumento13 páginasA Reforma e o Ensino Da SociologiaWheriston NerisAinda não há avaliações
- Lattes Atualizado Fev 2019Documento13 páginasLattes Atualizado Fev 2019Wheriston NerisAinda não há avaliações
- Texto 1Documento40 páginasTexto 1Wheriston Neris100% (1)
- A Luta HistoricaDocumento15 páginasA Luta HistoricaWheriston NerisAinda não há avaliações
- Edital Fapema #001 2018 Eventos Científicos PDFDocumento11 páginasEdital Fapema #001 2018 Eventos Científicos PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- Religião e Religiosidades História, Historiografia e Ensino FINAL PDFDocumento421 páginasReligião e Religiosidades História, Historiografia e Ensino FINAL PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- Edital Fapema #001 2018 Eventos Científicos PDFDocumento11 páginasEdital Fapema #001 2018 Eventos Científicos PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- Licenciatura em Ciências Humanas PDFDocumento165 páginasLicenciatura em Ciências Humanas PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- Educacao Como Objeto Sociologico - Surgimento Dos Colegios ModernosDocumento16 páginasEducacao Como Objeto Sociologico - Surgimento Dos Colegios ModernosWheriston NerisAinda não há avaliações
- Estudo 1Documento3 páginasEstudo 1Wheriston NerisAinda não há avaliações
- A Historia Hoje - VavyDocumento11 páginasA Historia Hoje - VavyWheriston NerisAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre EtiquetaDocumento2 páginasTrabalho Sobre EtiquetaWheriston NerisAinda não há avaliações
- A Etiqueta No Antigo Regime - FinalDocumento15 páginasA Etiqueta No Antigo Regime - FinalWheriston NerisAinda não há avaliações
- Peter Burke RenascimentoDocumento32 páginasPeter Burke RenascimentoWheriston NerisAinda não há avaliações
- A Etiqueta No Antigo Regime - FinalDocumento15 páginasA Etiqueta No Antigo Regime - FinalWheriston NerisAinda não há avaliações
- Teóricos Do AbsolutismoDocumento29 páginasTeóricos Do AbsolutismoWheriston NerisAinda não há avaliações
- Selvagens, Exóticos, Demoníacos. Idéias e Imagens Sobre Uma Gente de Cor PretaDocumento15 páginasSelvagens, Exóticos, Demoníacos. Idéias e Imagens Sobre Uma Gente de Cor PretaFernando Carmo VianaAinda não há avaliações
- Licoes de Historia O Caminho Da Ciencia PDFDocumento489 páginasLicoes de Historia O Caminho Da Ciencia PDFWheriston NerisAinda não há avaliações
- Resultado PibidDocumento7 páginasResultado PibidWheriston NerisAinda não há avaliações
- A Reforma e o Ensino Da SociologiaDocumento13 páginasA Reforma e o Ensino Da SociologiaWheriston NerisAinda não há avaliações
- Original - Artigo 2, SANTOSDocumento27 páginasOriginal - Artigo 2, SANTOScentrosteinAinda não há avaliações
- Dosse - Historiador Como Um Mestre Da VerdadeDocumento9 páginasDosse - Historiador Como Um Mestre Da VerdadeWheriston NerisAinda não há avaliações
- PPP Ciencias Humanas BacabalDocumento125 páginasPPP Ciencias Humanas BacabalWheriston NerisAinda não há avaliações
- Alessandra Samadello - Jesus É A Rocha - Partitura PDFDocumento7 páginasAlessandra Samadello - Jesus É A Rocha - Partitura PDFBruno SouzaAinda não há avaliações
- Reseña de - A Filosofia de Rudolf Steiner e A Crise Do Pensamento Contemporâneo - de WELBURN, A.Documento5 páginasReseña de - A Filosofia de Rudolf Steiner e A Crise Do Pensamento Contemporâneo - de WELBURN, A.Ispaide Idilécio IIAinda não há avaliações
- Atividade 5 - Arranjo Permutação e CombinaçãoDocumento1 páginaAtividade 5 - Arranjo Permutação e CombinaçãoGrasielle SantanaAinda não há avaliações
- Ae Avaliacao Trimestral Port 2 SolucoesDocumento8 páginasAe Avaliacao Trimestral Port 2 SolucoesandregafanhaAinda não há avaliações
- Trabalho Gabriel 1Documento2 páginasTrabalho Gabriel 1Claudia Leocinara Lopes BiccaAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento129 páginasApostilacampannha8611Ainda não há avaliações
- Legenda Descritiva - Pensando em Acessibilidade para Pessoas Surdas em Processo de Aprendizagem Da Língua PortuguesaDocumento13 páginasLegenda Descritiva - Pensando em Acessibilidade para Pessoas Surdas em Processo de Aprendizagem Da Língua PortuguesaRafael OliveiraAinda não há avaliações
- A Casa Dos PronomesDocumento4 páginasA Casa Dos PronomesRenata Alfaia FernandesAinda não há avaliações
- Sucess OesDocumento5 páginasSucess OesFi GeraldesAinda não há avaliações
- PORTUGUÊSDocumento85 páginasPORTUGUÊSmiluizasAinda não há avaliações
- Bibliografia-Pedagogia EaD 25 04 20141 PDFDocumento29 páginasBibliografia-Pedagogia EaD 25 04 20141 PDFRogério TrindadeAinda não há avaliações
- Versículo Ame Ao Teu Próximo Como A Ti Mesmo - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaVersículo Ame Ao Teu Próximo Como A Ti Mesmo - Pesquisa GoogleadrianeclaudioAinda não há avaliações
- Macunaíma - Resumo Por CapítulosDocumento2 páginasMacunaíma - Resumo Por CapítulosCristiane Postal50% (6)
- Fichamento 02 - Análise Do DiscursoDocumento2 páginasFichamento 02 - Análise Do DiscursovinnicyusrvAinda não há avaliações
- Cartão de Classe AMIGODocumento8 páginasCartão de Classe AMIGORaniere SilvaAinda não há avaliações
- Baby BossDocumento2 páginasBaby BossCarlinhos MacielAinda não há avaliações
- NUQ Expressoes Culturais 2019 Web PDFDocumento277 páginasNUQ Expressoes Culturais 2019 Web PDFAriel CostaAinda não há avaliações
- PbsDocumento9 páginasPbsJuan RoldaoAinda não há avaliações
- Luiz Gonzaga de Carvalho As Religioes Do Mundo I Aula 02 TranscricaoDocumento25 páginasLuiz Gonzaga de Carvalho As Religioes Do Mundo I Aula 02 TranscricaoYcaro SousaAinda não há avaliações
- Autorregulação para Alunos Do 5º Ano - DissertaçãoDocumento181 páginasAutorregulação para Alunos Do 5º Ano - DissertaçãoThania MiyanoAinda não há avaliações
- Arthur Schnitzler - "ICH" PDFDocumento19 páginasArthur Schnitzler - "ICH" PDFEloisa BenvenuttiAinda não há avaliações
- Significado Do Tridente de ExúDocumento4 páginasSignificado Do Tridente de ExúTateto Omulu89% (9)
- A Alma e Imortal Demonstracao Experimental Da Imortalidade GabrielDocumento247 páginasA Alma e Imortal Demonstracao Experimental Da Imortalidade Gabrielroland nitscheAinda não há avaliações
- Resumo Do Resumo de Teoria Da ComputaçãoDocumento8 páginasResumo Do Resumo de Teoria Da ComputaçãoRafael KlebsonAinda não há avaliações
- 14 PT Manual 1682347211Documento29 páginas14 PT Manual 1682347211Crisanto (Cris)Ainda não há avaliações
- Jesus e A Samaritana Larissa Lidiane e Roberto.Documento11 páginasJesus e A Samaritana Larissa Lidiane e Roberto.Wagner Alexandre Oliveira de JesusAinda não há avaliações
- Exame de Filosofia 2023, 1 Fase, Prova, Versão 2Documento8 páginasExame de Filosofia 2023, 1 Fase, Prova, Versão 2António GomesAinda não há avaliações
- Avaliação de Habilidades Básicas de Estudantes No Espectro Do AutismoDocumento14 páginasAvaliação de Habilidades Básicas de Estudantes No Espectro Do AutismoAline Nabono DuboviskiAinda não há avaliações
- Discipulado 02Documento15 páginasDiscipulado 02Paulo RomãoAinda não há avaliações
- Concordância Dos Verbos ImpessoaisDocumento2 páginasConcordância Dos Verbos ImpessoaisObras Proje GenesAinda não há avaliações