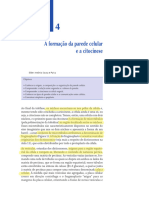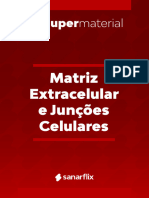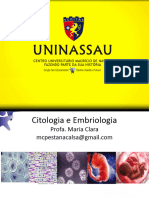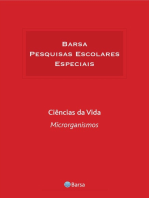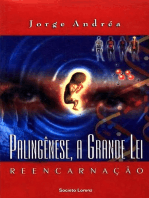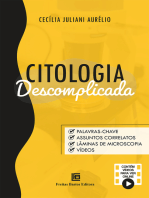Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila de Citologia e Histologia Vegetal
Enviado por
Gabriel ResendeDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila de Citologia e Histologia Vegetal
Enviado por
Gabriel ResendeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anatomia e Morfologia de Plantas
Vasculares
Parte I: Citologia e Histologia
Parte II: Raiz, Caule e Folha (Morfologia Externa e Interna)
Parte III: Flor, Fruto e Semente - Reproduo nas Angiospermas
Neuza Maria de Castro
Instituto de Biologia
Universidade Federal de Uberlndia
Uberlndia
2o. Semestre 2011
CLULA VEGETAL
PAREDE CELULAR
1. INTRODUO
As clulas so universalmente consideradas as unidades estruturais e funcionais da vida, pela
capacidade de vida prpria e pela capacidade de autoduplicao, como no caso dos organismos unicelulares ou
ainda artificialmente, quando em cultura nos laboratrios. Podem existir isoladamente, como seres unicelulares
ou constituir arranjos ordenados de clulas - os tecidos - que formam o corpo dos animais e plantas
pluricelulares.
A clula vegetal semelhante da clula
animal, e vrios processos metablicos so comuns
as duas. No entanto, as clulas vegetais tm
algumas caractersticas exclusivas, tais como:
presena de uma parede celular constituda,
principalmente, de celulose, a presena de
plasmodesmas, dos vacolos, dos plastos e a
ocorrncia de substncias ergsticas (Fig. 1).
2. PAREDE CELULAR
A parede celular um componente tpico da
clula vegetal e a diferena mais marcante entre a
clula vegetal e a animal. Ela produzida pela clula e depositada por fora da plasmalema ou membrana
plasmtica. Nas plantas vasculares, apenas os gametas
e as primeiras clulas resultantes da diviso do zigoto
no apresentam parede celular. Cada clula possui a
sua prpria parede, que est cimentada parede da
clula vizinha pela lamela mediana (Fig. 2), composta
principalmente de substncias pcticas.
A presena da parede celular restringe ou limita
a distenso do protoplasto e, o tamanho e a forma da
clula tornam-se fixos na maturidade. Esta parede
tambm protege o citoplasma contra agresses
mecnicas e contra a ruptura quando acontece um
desequilbrio osmtico.
Figura 2. Esquema da parede celular.
2.1 Componentes Macromoleculares e a sua Organizao na Parede Celular
O principal componente da parede celular a celulose, um polissacardeo, formado por molculas de
glicose, cuja frmula emprica (C
6
H
10
O
5
)
n
. Associada celulose aparece outros carboidratos como a
hemicelulose, pectinas e protenas estruturais chamadas glicoprotenas. Devemos considerar ainda, a
ocorrncia de outras substncias orgnicas tais como: lignina, compostos graxos (cutina, suberina e as ceras),
tanino, resinas, etc., alm de substncias minerais (slica, carbonato de clcio, etc.) e gua. A proporo com
que cada um destes componentes aparece, varia bastante nas paredes celulares de diferentes espcies, tecidos
e mesmo nas diferentes camadas da parede de uma nica clula.
A arquitetura da parede celular determinada, principalmente, pela celulose (polissacardeo cristalino)
que forma um sistema de fibrilas entrelaadas, embebidas por uma matriz amorfa, composta de
polissacardeos no celulsicos, tais como, hemiceluloses, pectinas, protenas (protenas estruturais e enzimas).
Substncias incrustantes, tais como a lignina e a suberina so depositadas nesta matriz.
A sntese das microfibrilas de celulose realizada por enzimas situadas no plasmalema. As fibrilas de
celulose so de diferentes tamanhos. Molculas lineares de celulose unem-se paralelamente por pontes de H
Figura 1 Esquema de uma clula vegetal,
mostrando vrios dos seus componentes
caractersticos.
formando as microfibrilas, que podem apresentar de 30 a 100 molculas de celulose. As microfibrilas por sua
vez, enrolam-se umas sobre as outras para formar as macrofibrilas (Fig. 3). As microfibrilas apresentam certas
regies com um arranjo ordenado das molculas de celulose - estrutura micelar - (Fig. 3) que confere a
celulose propriedades cristalinas e
birrefringncia, o que a torna brilhante
quando vista sob polarizada.
A lignina, um polmeros de alto
teor de carbono, o componente de
parede mais abundante depois da
celulose e aparece impregnando as
paredes celulares de certos tecidos,
como por exemplo, as clulas do
xilema e do esclernquima, conferindo-
lhes rigidez e resistncia
compresso.
Figura 3. Esquema mostrando a organizao da celulose na parede celular. Raven, et al. (Biologia Vegetal, 2007).
Os compostos graxos, especialmente cutina, suberina e as ceras, so encontradas principalmente, nas
paredes celulares dos tecidos de revestimento: epiderme e periderme e tm a importante funo de reduzir a
perda de gua das plantas. Dentre as substncias inorgnicas da parede celular podem ser citados a slica e o
carbonato de clcio.
2.2 Origem e Crescimento da Parede Celular
A parede celular comea a se formar no final da mitose, durante a telfase, quando os dois grupos de
cromossomos esto se separando, e bem evidente a presena de um fuso de aspecto fibroso - o
fragmoplasto (Fig. 4a) entre eles. Na regio mediana do fragmoplasto comea a formao da placa celular
(Fig. 4b), que considerada a primeira evidncia da parede celular e inicia-se como um disco, formado pela
fuso das vesculas originadas dos dictiossomos (Complexo de Golgi) suspenso no fragmoplasto. Esta placa vai
crescendo para a periferia, at se fundir com a parede da clula-me. At o contato da placa celular com as
paredes da clula me, o fragmoplasto vai desaparecendo e a placa vai sofrendo modificaes graduais para
formar a lamela mediana entre as clulas filhas.
A seguir, o protoplasma das clulas
filhas comea a produzir e a depositar sobre a
placa celular, uma parede contendo celulose,
hemicelulose e substncias pcticas. Ao
mesmo tempo, h deposio de material
celular sobre a antiga parede da clula-me,
visto que as clulas filhas esto crescendo
rapidamente. Assim, cada clula-filha forma
a sua parede primria completa. Figura 4. Esquema mostrando a origem da
parede celular. Raven, et al. (Biologia Vegetal, 2007).
2.3 Camadas da Parede Celular
As paredes celulares espessadas so lameladas, que conseqncia do modo e grau de crescimento
dessa parede e do arranjo das microfibrilas nas sucessivas camadas. Cada clula forma sua parede de fora para
dentro, de tal modo, que a camada mais antiga (ou seja, a parede primria) ocupa uma posio externa, e a mais
recente posio interna, junto ao protoplasto (Fig. 5).
A parede que se forma primeiro, durante o crescimento da clula denominada parede primria e
sobre ela poder ou no se formar a parede secundria.
A unio das paredes primrias de duas clulas vizinhas feita pela lamela mediana (LM), que forma
uma camada delicada composta principalmente de substncias pcticas.
A PAREDE PRIMRIA (Fig. 1, 2 e 5), depositada durante o crescimento da clula vegetal, constituda
principalmente de celulose, hemicelulose, substncias pcticas, protenas (glicoprotenas protenas estruturais
- e enzimas) e gua. Geralmente, a parede primria delgada nas clulas que formam parede secundria e
tambm naquelas clulas que apresentam metabolismo intenso.
Em muitas clulas, internamente parede primria, se forma a PAREDE SECUNDRIA (Fig. 5), aps ter
cessado o crescimento da clula. Freqentemente, ela composta de camadas, designadas respectivamente:
S
1
, S
2
e S
3
, sendo que esta ltima (S
3
) pode ser ausente. Esta separao da parede secundria em camadas
deve-se a diferenas no arranjo das fibrilas de celulose nessas diferentes camadas (Fig. 5).
Nas clulas com paredes secundrias, as duas paredes vizinhas e a lamela mediana entre elas,
aparecem fortemente unidas entre si, e em microscopia, aparece como se fossem uma nica camada,
denominada lamela mediana composta.
Figura 5. Esquemas e microscopia eletrnica de transmisso
mostrando uma parede celular completa. www.ualr.edu/botany/botimages.html
As clulas com paredes secundrias, geralmente, so clulas mortas, logo as mudanas que nela
ocorrem so de carter irreversvel. A parede secundria tambm apresenta celulose como componente
principal, acompanhado de hemicelulose e, geralmente, no apresenta substncias pcticas. A lignina um
componente freqente nas paredes secundrias de tecidos como o xilema e o esclernquima. A lignina aparece
incrustando a matriz da parede e a produo de lignina e a lignificao da parede se inicia na lamela mediana,
progredindo at atingir a parede secundria, onde ocorre com maior intensidade.
2.4 Diferenciaes da Parece: Pontoaes Primordiais, Pontoaes e Plasmodesmos.
Durante a formao da placa celular, elementos tubulares do retculo endoplasmtico ficam retidos entre
as vesculas que esto se fundindo, originando
os futuros plasmodesmos que so
continuidades protoplasmticas entre clulas
vizinhas (Fig. 6). Quando acontece a deposio
da parede primria, estas regies que contm
os plasmodesmos, geralmente, formam
pequenas depresses, onde a parede deposita-
se em menor quantidade. Essas regies so
conhecidas como campos de pontoao
primria ou pontoaes primordiais.
Posteriormente, durante a deposio da
parede secundria, geralmente, nenhum
material de parede depositado sobre o campo
de pontoao primrio, formando as
pontoaes (Fig. 7A). Figura 6. Esquema da parede primria
atravessada por plasmodesmos.
As pontoaes variam em tamanho e detalhes estruturais. Dentre os vrios tipos de pontoaes os mais
comuns so: pontoao simples (Fig. 7A) e pontoao areolada (Fig. 7B).
A pontoao simples (Fig. 7A) apenas uma interrupo da parede secundria, sobre a parede
primria. O espao em que a parede primria no recoberta pela secundria constitui a chamada cavidade da
pontoao (Fig. 7B). Entre as paredes das duas clulas vizinhas podem existir pontoaes que se
correspondem e constituem um par de pontoaes (Fig. 7A, 6B). Neste caso, alm das cavidades de
pontoao, existe a membrana de pontoao (Fig. 6A), formada pelas paredes primrias de ambas as clulas
do par, mais a lamela mediana entre elas.
A pontoao areolada (Fig. 7B) recebe este nome porque em vista frontal se mostra como uma arola,
ou seja, apresenta uma salincia de contorno circular e no centro desta encontra-se uma abertura, tambm
circular (Fig. 7B-D). Neste tipo de pontoao a parede secundria forma a arola e a interrupo desta parede,
corresponde abertura da arola. Como a parede secundria apresenta-se bem separada da parede primria,
delimita-se internamente uma cmara de pontoao (Fig. 7B). Pontoaes areoladas, deste tipo, so
encontradas em clulas como as traquedes e os elementos de vaso do xilema.
Nas paredes das traquedes (clula condutora do xilema de conferas e de algumas angiospermas
primitivas), ocorre, na membrana da pontoao areolada, um espessamento especial denominado toro (Fig. 7C).
Proplastdeo
Leucoplasto Etioplasto
Cloroplasto Amiloplasto
Cromoplasto
Figura 7 Esquemas dos diferentes tipos de
pontoao da parede secundria. Anatomia Vegetal 2007 (EUFV).
Espaos Intercelulares
Um grande volume no corpo do vegetal ocupado por um sistema de espaos intercelulares.
Geralmente, apenas o tecido meristemtico no apresenta espaos intercelulares. Exemplos de tecidos com
espaos intercelulares bem desenvolvidos so encontrados nas folhas e em rgos submersos de plantas
aquticas.
O modo mais comum de desenvolvimento de espaos intercelulares pela separao das paredes
primrias, atravs da lamela mediana. A separao inicia-se nos cantos, onde mais de duas clulas esto
unidas, seguindo para as outras reas da parede. Os espaos intercelulares assim formados so denominados
esquizgenos e a sua origem envolve apenas a ciso da lamela mediana. Exemplos muito comuns de espaos
intercelulares de origem esquizgena so os denominados meatos e os canais resinferos dos pinheiros de um
modo geral.
Um segundo tipo de espao intercelular o lisgeno, quando clulas inteiras so destrudas durante a
sua formao. As cavidades secretoras visveis em folhas de laranjeiras e de eucalipto so exemplos deste tipo
de espao intercelular. Existem ainda os espaos intercelulares de origem mista, ou seja, esquizolisgenos.
3. Plastos ou Plastdios
Uma das principais caractersticas das
clulas vegetais a presena dos plastos ou
plastdios, organelas extremamente dinmicas,
capazes de se dividir, crescer e diferenciar em
uma variedade de formas, cada uma delas com
estrutura e metabolismo prprio. Estas
organelas so singulares, pois se acredita que
sejam o resultado da simbiose entre um
organismo eucarioto e um procarioto
fotossintetizante. O eucarioto teria fagocitado o
procarioto, e ao longo da evoluo ambos
tornaram-se independentes. So vrias as
evidncias que do suporte a esta hiptese,
como o fato dos plastos apresentarem DNA
circular, tpico das bactrias, a estrutura gnica
similar a de bactrias, o tipo de ribossomos e
diviso por fisso binria, como as bactrias.
Figura 8. Tipos de Plastos e as inter-relaes entre eles.
Membrana
interna
Membrana
externa
Espao do
tilacide
Membrana
do tilacide
Granum
Estroma
Os plastos so delimitados por um envelope formado por duas unidades de membrana e internamente
possui uma matriz protica incolor denominada estroma. Nesta matriz existe um sistema de membranas, que
consiste de sacos achatados denominados tilacides. O grau de desenvolvimento destes tilacides varia de
acordo com o tipo de plastdios em questo.
Por apresentarem DNA e ribossomos, os plastdios so organelas geneticamente autnomas.
Os plastos so classificados de acordo com a presena ou ausncia de pigmentos e com o tipo de
pigmentos apresentados, e podem passar de um tipo para o outro, dependendo de condies ambientais e
fisiolgicas.
3.1 Proplastdeos
Os proplastos so os precursores de todos os tipos de plastos. So organelas presentes na oosfera e
em clulas meristemticas, muito pequenas, sem colorao ou verde claro e apresentam apenas uma pequena
quantidade de membranas internamente e no fazem fotossntese.
Na presena de luz os proplastos se desenvolvem em cloroplastos, formando um sistema lamelar
caracterstico, bem desenvolvido, como acontece, por exemplo, nas clulas parenquimticas do mesofilo das
folhas. Na ausncia de luz, os proplastos se desenvolvem em etioplastos, que um plasto com um elaborado
sistema de membranas. Quando expostos luz, rapidamente se transformam em cloroplastos.
3.2 CLOROPLASTOS
So os plastos verdes, devido predominncia da clorofila e esto associados fotossntese, ocorrendo
em todas as partes verdes da planta, sendo mais numerosos e mais diferenciados nas folhas.
Nos vegetais superiores, o sistema de membranas dos cloroplastos forma um conjunto de vesculas
achatadas, os tilacides, que se acredita formem um nico sistema de lamelas interconectadas. Os
cloroplastos caracterizam-se pela presena de unidades portadoras de clorofila, os grana, mergulhados
ordenadamente em uma matriz protica, incolor ou estroma, sendo toda esta estrutura envolvida por uma
membrana dupla (Fig. 9).
Cada granum (plural - grana) consiste de vrios tilacides - estruturas semelhantes a pequenas
moedas empilhadas, de modo a formar um cilindro curto (Fig. 9). Os grana encontram-se interligados uns aos
outros pelas lamelas intergranais. A clorofila e os carotenides localizam-se nas membranas dos tilacides; tal
sistema , portanto, a sede das reaes fotoqumicas responsveis pela captao e transformao da energia
luminosa em energia qumica.
Na matriz ou estroma esto localizadas as enzimas responsveis pela captao do CO2, e a
conseqente produo de glicose, alm de outras substncias derivadas do processo fotossinttico, tais como:
aminocidos, cidos orgnicos e cidos graxos.
Em certas condies, como por exemplo, numa longa exposio luz, o cloroplasto forma e acumula
amido (amido de assimilao), que posteriormente despolimerizado e transportado para fora do cloroplasto.
Os cloroplastos diferenciam-se a partir dos proplastdios das clulas meristemticas. Estes
proplastdios sofrem
grandes transformaes
estruturais durante o
processo de ontognese
dos cloroplastos, que so
iniciadas a partir de sua
exposio luz.
Figura 9.
Cloroplasto: Esquema e
Microscopia Eletrnica de
Transmisso.
3.3 CROMOPLASTOS
Estes plastos apresentam pigmentos carotenides (amarelos, vermelhos, alaranjados, etc.) e,
usualmente, no apresentam clorofila ou outros componentes da fotossntese. So encontrados nas ptalas e
outras partes coloridas de flores, nos frutos maduros e em algumas razes. Os cromoplastos, geralmente,
diferenciam-se a partir de transformaes dos cloroplastos, que
sofrem modificaes diversas, ou mesmo, quebra dos tilacides e
acmulo de glbulos lipdicos. Os cromoplastos sintetizam e
acumulam pigmentos sob a forma de glbulos lipdicos, fibrilas de
protena ou cristalides. Na cenoura (Daucus carota) os
cromoplastos acumulam caroteno e no tomate (Lycopersicum
esculentum) acumulam o licopeno. Os cromoplastos que se
desenvolvem a partir de cloroplastos podem retornar forma
original, perdendo o caroteno e desenvolvendo um novo sistema
de tilacides e clorofila.
Figura 10 Cromoplastos do fruto de Rose sp.
3.4 LEUCOPLASTOS
So os plastos incolores que no possuem pigmentos e podem armazenar vrias substncias. Aqueles
que armazenam amido so os amiloplastos, ocorrendo, por exemplo, em tubrculos de batatinha inglesa
(Solanum tuberosum). Os que reservam protenas so chamados de proteinoplastos e, os que reservam
lipdios elaioplastos (abacate Persea americana). Nos amiloplastos pode se formar um ou vrios gros de
amido e o seu sistema de tilacides pouco desenvolvido. Expostos luz os leucoplastos, podem se transformar
em cloroplastos novamente.
4. VACOLOS
O vacolo uma estrutura caracterstica da clula vegetal (Fig. 1, 2 e 5). Nas clulas de tecidos vivos,
pode chegar ocupar a maior parte do volume celular, reduzindo o citoplasma funcional a uma delgada faixa
prximo parede celular. Os vacolos so limitados por uma membrana nica denominada tonoplasto.
O contedo vacuolar formado por gua e uma variedade de substncias inorgnicas (ons de clcio,
potssio, cloro, sdio etc.) e orgnicas (aucares, cidos orgnicos, protenas, pigmentos, etc.), que podem ou
no estar dissolvidas na gua.
Os vacolos se originam do sistema de membranas do complexo de Golgi. Nas clulas meristemticas
so pequenos e nas clulas completamente diferenciadas, comum a ocorrncia de um nico vacolo, que pode
ocupar um considervel volume celular. Nas clulas parenquimticas podem ocupar at 90% do volume celular
Os vacolos participam ativamente de vrios processos celulares e suas funes e propriedades
dependem do tipo de clula onde aparecem. Dentre essas funes podemos citar:
4.1. Vacolos como compartimentos osmoticamente ativos
Os vacolos desempenham um papel dinmico no crescimento e desenvolvimento das clulas. Os
solutos orgnicos e inorgnicos presentes no seu interior originam a presso osmtica que responsvel pela
presso de turgor, essencial para o alongamento celular;
4.2 Vacolos como lisossomo
Os vacolos possuem enzimas que hidrolisam protenas, cidos nuclicos, etc., e a sua ao hidroltica
faz com que sejam considerados como parte do sistema lisossmico da clula vegetal. Neste processo, o
tonoplasto forma invaginaes que englobam e carregam para o interior do vacolo materiais citoplasmticos,
como cloroplastos, mitocndrias e outros. No interior do vacolo ocorre a lise desses materiais.
4.3 Vacolos como estruturas de armazenagem
Os vacolos podem ser locais de armazenamento de substncias, tais como carboidratos, protenas e
outros metablitos para serem utilizados posteriormente. Um exemplo a ser citado o que ocorre nas clulas do
endosperma das sementes de Ricinus communis (mamona), cujos microvacolos contm protena e so
conhecidos como gros de aleurona
4.4. Vacolos como locais de depsitos de produtos do metabolismo secundrio.
Os vacolos podem acumular substncias do metabolismo secundrio e produtos a serem descartados
da clula. Muitas plantam apresentam em suas clulas pigmentos solveis em gua que so acumulados nos
vacolos como, por exemplo, a betalana, pigmento encontrado na raiz da beterraba (Beta vulgaris). Outros
produtos secundrios, como o alcalide nicotina, que sintetizada pelas clulas da raiz do tabaco (Nicotiana
tabacum) e transportada para o caule, onde se acumula nos vacolos das clulas.
Os vacolos podem ainda acumular sais sob a forma de cristais, como
o oxalato de clcio, que se apresentam sob a forma de cristais prismticos,
drusas (Fig. 11 setas), rafdeos, etc. Os depsitos de cido oxlico e clcio
sob a forma de cristais geralmente no retornam ao citoplasma, assim os
vacolos poderiam ser vistos como um substituto para o sistema excretor dos
animais. Recentemente tm surgido algumas evidncias de que o oxalato
pode ser remobilizado, caso haja uma deficincia aguda de clcio na planta.
Vale a pena lembrar ainda, que os cristais de oxalato de clcio podem tambm
atuar como agentes defensivos para a planta.
Figura 11. Drusas (setas) na folha de Larix (Pinaceae)
5. SUBSTNCIAS ERGSTICAS
Estas so produtos do metabolismo celular, materiais de reserva e/ou produtos descartados pelo
metabolismo, podendo aparecer e desaparecer em diferentes estgios da vida das clulas. So encontradas na
parede celular, no citoplasma, nos vacolos ou associadas a vrios outros componentes protoplasmticos.
Dentre as substncias ergsticas orgnicas mais conhecidas destacam-se: celulose, amido, corpos de
protena, lipdios, substncias fenlicas, resina, gomas, borracha, alcalides, e entre as substncias
inorgnicas podemos citar os cristais de oxalato de clcio sob a forma de rfides, drusas (Fig. 11 - setas ),
estilides, carbonato de clcio - cistlitos e a slica.
Geralmente, as clulas que contm substncias ergsticas no seu interior so diferenciadas morfolgica
e fisiologicamente das demais clulas do tecido e, neste caso, recebem o nome de idioblastos.
6. MICROCORPOS
So organelas esfricas (0,5 a 1,5 m) envoltas por uma unidade de membrana. Geralmente, contm
enzimas hidrolticas: os peroxissomos encontrados nas folhas verdes esto associados s mitocndrias e aos
cloroplastos, tm um importante papel na fotorrespirao; e os glioxissomos, encontrados nos tecidos de
reserva de sementes gordurosas, contm as enzimas necessrias para a quebra dos cidos graxos, durante a
germinao de algumas sementes.
7. CITOESQUELETO
Como nas demais clulas eucariticas, as clulas dos vegetais possuem uma rede de filamentos
proticos que forma o seu citoesqueleto: os microtbulos e os filamentos de actina (microfilamentos).
7.1 MICROTBULOS
So estruturas cilndricas formadas por subunidades de uma protena denominada tubulina, organizadas
em hlice e apresentam diversas funes. Nas clulas em crescimento, aparecem prximos da membrana
plasmtica e esto relacionados com o crescimento ordenado da parede celular, atravs do alinhamento das
microfibrilas de celulose, que vo sendo incorporadas parede pelo citoplasma. Os microtbulos atuam ainda no
direcionamento das vesculas dos dictiossomos para a parede em desenvolvimento. Formam as fibras do fuso
nas clulas em diviso, desempenhando papel importante no deslocamento dos cromossomos e na formao da
placa celular. Os microtbulos so ainda componentes importantes no movimento dos clios e flagelos.
EMBRIO NAS ANGIOSPERMAS
Nas plantas com flores a oosfera (gameta feminino) fecundada pelo gameta masculino, no interior do
vulo, d origem ao zigoto e este a um embrio que tem potencialidade para formar uma planta completa (Fig.
1). Nessas plantas, os estgios iniciais da embriognese so semelhantes. O zigoto sofre uma diviso
transversal assimtrica, dando origem a uma clula apical pequena (em direo calaza do vulo) e uma clula
basal maior (em direo micrpila do vulo). Com essa diviso, a polaridade do embrio estabelecida. O plo
Procmbio
Protoderme
Meristema
Fundamental
superior (calazal) apresenta uma clula menor, a clula apical, que dar origem maior parte do embrio e, o
plo micropilar, formado pela clula basal, maior, ir formar o suspensor, uma estrutura que serve para ancorar o
embrio junto micrpila do vulo.
Figura 1. Desenvolvimento do embrio de Sagittaria sp, (monocotilednea); a-c -
proembrio, e-d embrio. Raven et al. Biologia Vegetal 2007.
Aps uma srie de divises celulares ordenadas ser formada
uma estrutura, aproximadamente globular, o embrio propriamente
dito, e o suspensor. Antes deste estgio, o embrio em
desenvolvimento denominado de proembrio (Fig. 4 - Preglobular).
No incio, o embrio propriamente dito consiste em um conjunto
de clulas relativamente indiferenciadas, mas muito cedo, ainda mesmo
no estgio globular se inicia o processo de diferenciao dos tecidos
que formaro a nova planta. A protoderme, que formar a futura
epiderme, tem origem a partir de divises periclinais (paralelas
superfcie) das clulas da periferia do embrio. Posteriormente divises
verticais no interior do embrio resultam na separao inicial entre o
meristema fundamental e o procmbio. O meristema fundamental,
que dar origem ao tecido fundamental, envolve o procmbio que o
precursor dos tecidos vasculares.
Com o desenvolvimento do embrio, a protoderme, o Figura 2- Origem dos meristemas
meristema fundamental e o procmbio denominados meristemas primrios
primrios, , se estendem pelo corpo do embrio em formao.
No incio da embriognese, o padro de desenvolvimento do
embrio semelhante em todas as angiospermas, passando pelas fases
de proembrio e embrio globular. As diferenas comeam a aparecer
durante a formao dos cotildones: um, no embrio das
monocotiledneas e dois nas eudicotiledneas (Fig. 3).
Figura 3 -Estrutura do embrio de eudicotilednea (A) e monocotilednea (B).
(Apostila - USP 2008)
Quando os cotildones comeam a se formar, o embrio das dicotiledneas passa por uma fase
denominada cordiforme (Fig. 4 Early hearth) e nas monocotiledneas o embrio fica semelhante a um cilindro
(Fig. 3B). Aps a formao do(s) cotildone(s), com o alongamento do eixo abaixo da insero do(s)
cotildone(s) hipoctilo -, e do(s) cotildone(s), o embrio passa pela fase de torpedo (Fig. 4). Durante este
alongamento o embrio pode permanecer reto ou tornar-se curvo (Fig. 1f; Fig. 5).
Figura 4 - Desenvolvimento do embrio de dicotilednea. http://www.ns-
mart.com/uploads/2006011174639.jpg
Nas extremidades opostas do eixo do embrio se formam os meristemas apicais: entre os cotildones se
forma o Meristema Apical de Caule e no pice oposto o Meristema Apical de Raiz.
Independentemente do modo de desenvolvimento, o embrio maduro geralmente apresenta uma raiz
embrionria radcula -, um eixo caulinar hipo-epictilo e um ou dois cotildones.
No entanto algumas famlias caracterizam-se por apresentar embries no diferenciados, como por
exemplo, as orquidceas e as eriocaulceas.
Figura 5 Embrio maduro de Capsell bursa-pastoris (bolsa-de-pastor)
FORMAO DO CORPO PRIMRIO
1. INTRODUO
Durante o desenvolvimento do embrio, todas as clulas do corpo embrionrio esto em diviso. No
entanto, assim que o embrio amadurece e aps a germinao, as divises celulares vo ficando restritas aos
meristemas apical do caule e ao da raiz (Fig. 6). No vegetal adulto, algumas clulas permanecem embrionrias,
isto , conservam sua capacidade de diviso e multiplicao e a estes tecidos que permanecem embrionrios,
damos o nome de meristemas (do grego meristos = dividir).
Radcula
Hipoctilo
Meristema Apical
Caulinar
Cotildones
Procmbio
Envoltrio
Seminal
Clula
basal
Devido a esta capacidade infinita de diviso das clulas meristemticas, e ao fato dos meristemas
estarem, continuamente, adicionando novas clulas ao corpo vegetal, eles so os tecidos responsveis pelo
crescimento da planta. No entanto, mesmo os meristemas podem apresentar fases de repouso como, por
exemplo, as gemas axilares das plantas perenes, que no inverno podem permanecer dormentes durante longos
perodos. Outros tecidos vivos tambm
podem apresentar divises celulares,
como por exemplo, o parnquima e o
colnquima, possibilitando ao vegetal a
regenerao de reas danificadas.
Todavia, nesses tecidos, o nmero de
divises limitado e restrito a
determinadas ocasies especiais, como
por exemplo, a formao do cmbio ou
do felognio, ou ainda em cultura de
tecidos.
Figura 6 - Meristemas apicais.
FOSKET, D.E. (1994). Plant Growth and
Development.
1.1 Caractersticas Gerais
Os meristemas caracterizam-se pela intensa diviso celular que apresentam (Fig. 7B), pelo tamanho
reduzido de suas clulas, parede celular primria, geralmente, delgada e plastos indiferenciados (proplastdeos).
Nos meristemas apicais o ncleo das clulas grande em relao ao tamanho da clula, exceto no procmbio.
O citoplasma dessas clulas pode ser denso, apresentando apenas vacolos minsculos ou, no caso dos
meristemas laterais, pode apresentar vacolos maiores, como trataremos posteriormente.
A B
Figura 7 - pice da raiz de Allium cepa. A: Vista geral do meristema apical. A rea marcada -
promeristema- formada pelas clulas iniciais e suas derivadas mais recentes. Foto Depto. de Botnica
da USP; B - Detalhe do meristema apical de raiz. Foto de Mauseth, J.D.
2. MERISTEMAS APICAIS
Um vegetal adulto mantm o seu crescimento, adicionando novas clulas ao seu corpo, em parte devido
atividade dos meristemas apicais. Os meristemas apicais ou pontos vegetativos de crescimento so
encontrados no pice do caule e da raiz (e de todas as suas ramificaes) (Fig. 6). A atividade destes
meristemas resulta na formao do corpo primrio ou estrutura primria do vegetal. Na extremidade do eixo
principal e dos ramos do sistema caulinar, bem como, na extremidade do eixo principal e das ramificaes do
sistema radicular est o promeristema - conjunto de clulas iniciais e suas derivadas mais recentes, ainda
indiferenciadas. Nos vegetais inferiores (talfitas, brifitas e pteridfitas) existe apenas uma clula inicial no
promeristema (Fig. 8), enquanto nas gimnospermas e angiospermas, existem vrias clulas iniciais formando o
promeristema, tanto no caule (Fig. 6) como na raiz (Fig. 6 e 7).
Atravs de divises das clulas do promeristema, so formados os meristemas apicais, precursores dos
tecidos primrios do caule e da raiz: protoderme, meristema fundamental e procmbio.
Promeristema
Os meristemas apicais podem ser vegetativos, quando do origem a tecidos e rgos vegetativos e
reprodutivos, quando do origem a tecidos e rgos reprodutivos.
No promeristema existe uma clula (talfitas, brifitas e
pteridfitas) ou um conjunto de clulas (gimnospermas e
angiospermas) que esto em constante diviso, entretanto aps
a diviso uma das clulas-filha permanece meristemtica
(continua fazendo parte do promeristema) enquanto a outra se
desloca dessa regio e se torna uma nova clula acrescida ao
corpo da planta. Essa clula ainda vai se dividir mais algumas
vezes antes de se diferenciar. As que permanecem no
promeristema so denominadas clulas iniciais, e aquelas que
so acrescentadas ao corpo da planta so as clulas derivadas
(Fig. 9).
Figura 8 - Detalhe do pice caulinar de uma pteridfita
evidenciando a clula apical piramidal.
Geralmente, o termo meristema apical utilizado para designar o conjunto de clulas, que engloba tanto
as clulas iniciais, como as clulas derivadas mais recentes, inclusive os trs meristemas primrios
parcialmente diferenciados que iro formar o corpo primrio das plantas: Protoderme (meristema que origina
a epiderme); Procmbio (meristema que origina os tecidos vasculares primrios - xilema e floema) e; Meristema
Fundamental (meristema que forma os tecidos primrios do sistema fundamental: parnquima, colnquima e
esclernquima).
Figura 9 Esquema mostrando as clulas iniciais e as clulas derivadas.
http://is.asu.edu/plb108/course/develop/growth.
2. 1 Crescimento, Morfognese e Diferenciao
O desenvolvimento - formao de novas clulas, tecidos e rgos, que formaro o corpo de um
organismo envolve trs processos que se sobrepem: crescimento, morfognese e diferenciao.
O CRESCIMENTO, aumento irreversvel de tamanho, se deve ao combinada de diviso e expanso
celular. Somente a diviso celular no representa crescimento, no entanto, o aumento do nmero de clulas
aumenta o potencial para o crescimento, j que so formadas um maior nmero clulas que podero estar
crescendo. No entanto, a maior parte do crescimento em comprimento e largura de uma planta se deve
expanso celular.
Durante o desenvolvimento, a planta adquire uma forma especfica, processo este conhecido como
MORFOGNESE. Os planos de diviso das clulas e a subseqente expanso dessas clulas so considerados
fatores primrios na determinao da morfologia de uma planta
As clulas que no esto mais se dividindo e que podem ainda estar em crescimento iniciam o processo
de DIFERENCIAO. A diferenciao o processo pelo qual clulas, geneticamente idntica tornam-se diferentes
umas das outras, e tambm das clulas meristemticas que lhes deram origem. Desse modo, em uma mesma
clula os fenmenos de crescimento e diferenciao ocorrem simultaneamente. A diferenciao celular depende
do controle da expresso gnica, e envolve alteraes qumicas, morfolgicas e fisiolgicas que transforma
clulas meristemticas semelhantes entre si, em estruturas diversas.
Os tecidos maduros exibem diferentes graus de diferenciao. conseguido pelas As clulas de
conduo do xilema e do floema, e tambm as fibras, apresentam elevado grau de diferenciao e
especializao. Mudanas menos profundas so observadas nas clulas do parnquima e, isto particularmente
CLULAS INICIAIS
mantidas no meristema
apical indiferenciadas.
Diviso das clulas
do promeristema
CLULAS DERIVADAS deixam o
promeristema, comeam a crescer e a
diferenciar.
importante para o vegetal, pois as clulas pouco diferenciadas podem voltar a apresentar divises quando
estimuladas. A recuperao de reas lesadas (cicatrizao) e a formao de callus na cultura de tecidos, por
exemplo, possvel devido capacidade de diviso das clulas parenquimticas. Embora a diferenciao celular
esteja na dependncia do controle da expresso gnica, o tipo de clula que ser formada determinado pela
sua posio final no corpo em desenvolvimento, ou seja, se durante a sua diferenciao uma clula deslocar-se
de sua posio original para outra posio, ela se diferenciar em um tipo celular apropriado para a sua nova
posio.
Figura 10 - Diferentes tipos celulares originados a partir de uma clula meristemtica do
procmbio ou do cmbio vascular (Raven et al 2001).
3. MERISTEMA APICAL DE RAIZ PICE RADICULAR
Considerando o pice da raiz como um todo, podemos visualizar a coifa, o promeristema e os
meristemas primrios, que esto em processo de diferenciao (Fig. 8A). Na maioria das plantas, o meristema
apical da raiz aparece envolvido pela coifa (Fig. 6, 7, 8A-B), um tecido parenquimtico, que tem origem a partir
de uma regio especial do meristema apical denominada caliptrognio. Devido presena da coifa pode-se
dizer que o meristema apical da raiz subapical.
Nas pteridfitas o promeristema, localizado na regio apical, constitudo por uma nica clula apical.
Nas angiospermas o promeristema constitudo por uma regio central de clulas com atividade mittica baixa,
denominada centro quiescente, parcialmente envolvida por algumas camadas de clulas, com atividade
mittica maior.
Logo a seguir, um pouco acima, esto os meristemas primrios, parcialmente diferenciados: a
protoderme que origina a epiderme, o procmbio que formar o cilindro vascular e o meristema fundamental
que dar origem ao sistema fundamental de tecidos.
4. MERISTEMA APICAL CAULINAR - PICE CAULINAR
O caule com seus ns e entrens, folhas, gemas axilares, ramos e tambm as estruturas reprodutivas
resultam, basicamente, da atividade do meristema apical. Vrias teorias tentam descrever a organizao do
meristema apical caulinar.
A teoria mais aceita para explicar a organizao do meristema apical do caule, nas angiospermas, foi
proposta por Schimitd (1924) e denominada organizao do tipo tnica-corpo (Fig. 9). Essas duas regies so
reconhecidas pelo plano de diviso de suas clulas. A tnica, com uma ou mais camadas de clulas perifricas,
que se dividem perpendicularmente superfcie do meristema (divises anticlinais) e o corpo, logo abaixo da(s)
camada(s) da tnica, formado por um grupo de clulas que se dividem em vrios planos, promovendo
crescimento em volume do meristema. Assim, esse grupo de clulas centrais acrescenta massa poro apical
do caule pelo aumento do volume, enquanto as clulas derivadas da tnica do uma cobertura contnua sobre o
conjunto central (corpo). O corpo, assim como cada camada da tnica possuem suas prprias clulas iniciais.
A B C
Figura 11 - pice radicular: A Esquema do pice radicular; B - Vista geral,
evidenciando a Coifa (Root cap), o Promeristema (RAM) e os meristemas primrios:
protoderme (Protoderm); Procmbio (Procabium) e Meristema Fundamental (Ground
Meristem); C - Detalhe do centro quiescente do meristema apical da raiz.
www.botany.hawaii.edu/
Como visto no meristema apical da raiz, medida que se formam novas clulas no pice caulinar, as
clulas mais velhas vo diferenciando e sendo incorporadas s regies situadas abaixo do promeristema. Essas
novas clulas vo sendo incorporadas aos tecidos meristemticos em processo inicial de diferenciao:
protoderme que origina a epiderme, o procmbio que dar origem ao sistema vascular e o meristema
fundamental que formar o crtex e a medula (Fig. 12).
Figura 12 - Meristema apical de Coleus sp A. Vista geral do pice caulinar; B. Detalhe evidenciando a
organizao tnica-corpo. www.ualr.edu/~botany/meristems
ORGANIZAO INTERNA DO CORPO PRIMRIO DO VEGETAL
As clulas se associam de diferentes maneiras, formando unidades estruturais e funcionais denominadas
tecidos. Os tecidos por sua vez, se agrupam formando unidades maiores de acordo com a sua funo e
posicionamento no corpo da planta, denominadas sistemas de tecidos. So trs os sistemas de tecidos
presentes em todos os rgos, o que revela a similaridade entre todos eles.
So trs os sistemas de tecido: (a) sistema drmico ou de revestimento; sistema vascular e sistema
fundamental. Os sistemas de tecidos tm origem a partir dos meristemas primrios durante o desenvolvimento
do embrio, respectivamente a partir da protoderme, procmbio e sistema fundamental.
O sistema fundamental e formado pelos trs tecidos fundamentais: parnquima colnquima e
esclernquima, O sistema vascular formado pelos tecidos de conduo, xilema e floema e o sistema drmico
pela epiderme, o tecido de revestimento do corpo primrio da planta, que pode vir a ser substituda mais tarde,
pela periderme em regies do corpo que apresentem crescimento secundrio em espessura.
Os tecidos vegetais esto distribudos nos rgos da planta segundo padres definidos, mas de uma
maneira geral, o sistema vascular envolvido pelo sistema fundamental e ambos revestidos externamente pelo
sistema drmico.
Os tecidos podem ser definidos como grupos de clulas que apresentam estrutura e funo semelhantes.
Os tecidos formados por apenas um tipo de clulas so denominados tecidos simples, como o caso do
parnquima, colnquima e esclernquima. Aqueles tecidos, como a epiderme (e tambm a periderme) e os
tecidos vasculares (xilema e floema) que apresentam vrios tipos celulares diferentes em sua constituio so
denominados tecidos complexos.
SISTEMA FUNDAMENTAL
PARNQUIMA
1. INTRODUO
As caractersticas apresentadas pelas clulas parenquimticas levaram os pesquisadores a acreditarem
que o parnquima seja o tecido mais primitivo dos vegetais. A origem parnquima, ou seja, de grupos de clulas
ligadas por meio de plasmodesmos, parece ter surgido pela primeira vez nas algas Charophyceae. Os fsseis de
plantas terrestres primitivas mostram que estes vegetais j apresentavam o corpo formado por parnquima e que
este tecido j apresentava as caractersticas do parnquima encontrado nos musgos e nas hepticas atuais.
Acredita-se que durante a evoluo o parnquima foi sofrendo modificaes, dando origem aos diferentes
tecidos que constituem o corpo do vegetal, se
especializando para atender diferentes funes.
O parnquima o principal representante do
sistema fundamental de tecidos, e entendido pela
Botnica como sendo o tecido que preenche o corpo da
planta, recebendo tambm o nome de tecido
fundamental. encontrado em todos os rgos da
planta, formando um contnuo por todo o corpo do
vegetal: no crtex da raiz, no crtex e na medula do
caule e no mesofilo foliar. O parnquima pode existir
ainda, como clulas isoladas ou em grupos, fazendo
parte do xilema do floema e da periderme. Assim, o
parnquima pode ter origem diversa, a partir do
meristema fundamental do pice do caule e da raiz, dos
meristemas marginais das folhas e, nos rgos que
apresentam crescimento secundrio, podem originar-se
do cmbio vascular e do felognio.
Figura 1 Esquema de uma clula parenquimtica. http://www.progressivegardens.com
2. CARACTERSTICAS DO TECIDO
As clulas parenquimticas, geralmente, apresentam paredes primrias delgadas, cujos principais
componentes so a celulose, hemicelulose e as substncias pcticas. Essas paredes apresentam os campos
primrios de pontoao atravessados por plasmodesmas, por onde o protoplasto de clulas vizinhas se
comunica.
Algumas clulas parenquimticas podem apresentar paredes espessadas, como se observa no
parnquima de reserva de muitas sementes como, por exemplo, no caqui (Diospyros virginiana) (Fig. 1) e no caf
(Coffea arabica). Nestas sementes, a hemicelulose da parede das clulas do endosperma a substncia de
reserva, que ser utilizada pelo vegetal durante a germinao da semente e desenvolvimento inicial da plntula.
As clulas parenquimticas geralmente so vivas e apresentam vacolos bem desenvolvidos. Essas
clulas so descritas como isodiamtricas (Fig. 1), entretanto, sua forma pode variar. Quando isoladas so mais
ou menos esfricas, mas adquirem uma forma definida por ao das vrias foras, ao se agruparem para formar
um tecido.
O contedo dessas clulas varia de acordo com as atividades
desempenhadas, assim podem apresentar numerosos cloroplastos,
amiloplastos, substncias fenlicas, etc. Como so clulas vivas e
nucleadas, elas podem reassumir caractersticas meristemticas, voltando a
apresentar divises celulares quando estimuladas. A cicatrizao de leses,
regenerao, formao de razes e caules adventcios e a unio de
enxertos, so possveis devido ao retomada da atividade meristemtica das
clulas do parnquima. As clulas parenquimticas podem ser consideradas
simples em sua morfologia, mas devido presena de protoplasma vivo,
so bastante complexas fisiologicamente.
No parnquima comum presena de espaos intercelulares
formados pelo afastamento das clulas, espaos esquizgenos (Fig. 2). O
tamanho e a quantidade desses espaos variam de acordo com a funo
do tecido.
3. TIPOS DE PARNQUIMA
Dependendo da posio no corpo do vegetal, do contedo apresentado por suas clulas e sua funo, o
parnquima pode ser classificado em:
3.1 Fundamental - Cortical e Medular:
formado por clulas aproximadamente, isodiamtricas, vacuoladas, com pequenos espaos
intercelulares (Fig. 3A), e encontrado no crtex (cortical) e na medula (medular) de caules e razes. Em geral
suas clulas apresentam um grande vacolo, ficando o citoplasma restrito periferia, formando uma fina camada
junto parede celular.
3.2 Clorofiliano:
Ocorre nos rgos areos dos vegetais, principalmente, nas folhas (Fig. 3B). Suas clulas apresentam
paredes primrias delgadas, numerosos cloroplastos e so intensamente vacuoladas. O tecido est envolvido
com a fotossntese, convertendo energia luminosa em energia qumica, armazenando-a sob a forma de
carboidratos.
Os dois tipos de parnquimas clorofilianos mais comuns encontrados no mesofilo so: o parnquima
clorofiliano palidico, cujas clulas cilndricas se apresentam dispostas perpendicularmente epiderme e o
parnquima clorofiliano lacunoso, cujas clulas, de formato irregular, se dispem de maneira a deixar numerosos
espaos intercelulares.
3.3 Reserva:
O parnquima pode atuar como tecido de reserva, armazenando diferentes substncias ergsticas, como
por exemplo, amido (Fig. 3C), protenas, leos, etc., resultantes do metabolismo celular. So bons exemplos de
parnquimas de reserva, o parnquima cortical e medular dos rgos tuberosos e o endosperma das sementes
(Fig. 1).
3.4 Aqufero: As plantas suculentas de regies ridas, como certas cactceas, euforbiceas e
bromeliceas possuem clulas parenquimticas que acumulam grande quantidade de gua - parnquima
aqfero (Fig. 4A). Neste caso, as clulas parenquimticas so grandes e apresentam grandes vacolos
contendo gua e seu citoplasma aparece como uma fina camada prxima membrana plasmtica.
3.5 Aernquima: As angiospermas aquticas e aquelas que vivem em solos encharcados, desenvolvem
parnquima com grandes espaos intercelulares, o aernquima, que pode ser encontrado no mesofilo, pecolo,
caule e nas razes (Fig. 4B) dessas plantas. O aernquima promove a aerao interna nas plantas aquticas,
alm de conferir-lhes leveza para a sua flutuao.
3.6 Lenhoso: Geralmente, o parnquima apresenta apenas paredes primrias, mas as clulas do
parnquima medular, bem como do parnquima do xilema secundrio podem desenvolver paredes secundrias
lignificadas, formando o chamado parnquima lenhoso.
Figura 2 - Endosperma de
Diospyrus. Parnquima de reserva
com paredes celulares primrias
espessas
A B C
Figura 3. Tipos de Parnquima: A Parnquima Fundamental; B Clornquima; C Parnquima de reserva.
3.7 Clulas de Transferncia: Em muitas partes da planta, grandes quantidades de material so
transferidas rapidamente s curtas distncias, atravs de um tipo especial de clulas parenquimticas
denominadas clulas de transferncia. Essas clulas apresentam modificaes nas suas paredes, formando
inmeras invaginaes voltadas para a face interna (Fig. 4C). Estas invaginaes consistem numa forma
especializada de parede secundria no lignificada, depositada sobre a parede primria. A plasmalema
acompanha essa parede irregular, aumentando a superfcie de absoro ou secreo de substncias pelo
protoplasma destas clulas. As clulas de transferncia, geralmente, aparecem associadas aos elementos de
conduo do xilema e do floema, s estruturas secretoras, entre outras, sempre relacionadas com o transporte
de nutrientes curta distncia.
A B C
Figura 4. Tipos de Parnquima: A Parnquima aqfero da folha de Phormium tenax; B Aernquima; C
Clulas de transferncia.
TECIDOS DE SUSTENTAO
COLNQUIMA
1. Introduo
O colnquima, como o parnquima, um tecido formado de clulas
vivas, relativamente alongadas, de paredes primrias celulsicas,
espessadas (Fig. 1), e est relacionado com a sustentao de regies
jovens, em crescimento, no corpo do vegetal. O tecido tambm tem origem
a partir do meristema fundamental. O colnquima semelhante ao
parnquima e ambos apresentam protoplasto vivo, podem apresentar
cloroplastos e at mesmo reassumir caractersticas meristemticas, voltando
a apresentar divises celulares. A diferena entre estes dois tecidos est,
principalmente, no fato do colnquima, geralmente, apresentar suas clulas
mais alongadas e com paredes mais espessas que as clulas do
parnquima (Fig. 1).
Figura 1 Microscopia Eletrnica Clula colenquimtica http://www.dbs.umt.edu/courses
2. Caractersticas e Funo
A estrutura da parede celular a principal caracterstica do colnquima. As paredes so primrias,
celulsicas com pontoaes primordiais e, geralmente, o espessamento das paredes irregular (Fig. 1). Essas
paredes apresentam grandes quantidades de substncias pcticas, que so altamente hidroflicas. Assim, retm
uma grande quantidade de gua (60% do seu peso), o que as tornam extremamente plsticas, capazes de
acompanhar o crescimento das clulas.
O colnquima um tecido adaptado para a sustentao de regies jovens do vegetal em intenso
crescimento. O espessamento das paredes de suas clulas inicia-se bem cedo, antes mesmo da clula
completar o seu crescimento, mas a plasticidade destas paredes possibilita o crescimento do rgo, at que este
atinja a sua maturidade. O grau de espessamento da parede parece estar relacionado com as necessidades do
vegetal. Assim, nas plantas sujeitas ao de ventos fortes, o espessamento das paredes do colnquima inicia-
se precocemente e maior, do que aquele observado em plantas que crescem sob condies mais amenas.
O colnquima maduro um tecido forte e flexvel, formado por clulas alongadas reunidas em feixes. Por
outro lado, nas regies perifricas de rgos jovens que so fotossintetizantes o colnquima pode ser clorofilado.
Como essas regies jovens so tenras e, portanto, mais facilmente atacadas pela herbivoria, a cicatrizao e
regenerao celular pode ser conseguida, devido capacidade do colnquima de reassumir a atividade
meristemtica, voltando a apresentar divises celulares, promovendo assim a cicatrizao das regies lesadas.
3. Tipos de Colnquima
De acordo com a distribuio do espessamento nas paredes celulares, observado em seces transversais
do tecido, podemos reconhecer quatro tipos de colnquima:
3.1 Colnquima angular - quando as paredes so mais espessas nos pontos de encontro entre trs ou
mais clulas (Fig. 2A) como, por exemplo, no pecolo de Begonia (begnia), caule de Ficus sp (figueira), de
Coleus e de Curcubita (aboboreira);
3.2 Colnquima lamelar - as clulas mostram um maior espessamento nas paredes tangenciais internas e
externas (Fig. 2B), como o visto no caule jovem de Sambucus (sabugueiro);
3.3 Colnquima lacunar - quando o tecido apresenta espaos intercelulares e o espessamento das
paredes primrias maior nas paredes que limitam estes espaos (Fig. 2C). Este tipo de colnquima pode ser
encontrado no pecolo de Salvia, raiz de Monstera, caule de Asclepia (erva-de-rato) e de Lactuca (alface).
3.4. Colnquima anelar ou anular - quando as paredes celulares apresentam um espessamento mais
uniforme, ficando o lume da clula circular em seco transversal (Fig. 2D).
A B C D
Figura 2. Tipos de Colnquima: A Angular; B Lamelar; C Lacunar; D Anelar.
4. Topografia
Por ser um tecido de sustentao de regies em crescimento, ocorre em rgos jovens e apresenta a
posio perifrica caracterstica, localizando-se logo abaixo da epiderme ou poucas camadas abaixo dela.
No caule pode aparecer como um cilindro contnuo, como em de Sambucus (Fig. 3C) ou em cordes
individuais, geralmente nas arestas do rgo, como em Curcubita (Fig. 3F) e em Mentha (Fig. 3E). Nas folhas
ocorre no pecolo (Fig. 3A), na nervura central (Fig. 3B) ou ainda na margem do limbo. A polpa de frutos quando
so macios e comestveis geralmente so colenquimatosas. Razes terrestres raramente formam colnquima,
uma exceo pode ser encontrada nas razes de videiras (Vitis vinifera).
medida que as clulas
colenquimatosas envelhecem, o padro de
espessamento pode ser alterado e de um
modo geral o lume celular aparece redondo,
por deposio de camadas adicionais na
parede celular. Em regies mais velhas da
planta, o colnquima pode at se transformar
em esclernquima pela deposio de paredes
secundrias lignificadas.
Figura 3 - Topografia do Colnquima em vrios
rgos da planta. O colnquima est
representado pelas linhas cruzadas, FAHN, A.
(1978) Anatomia Vegetal.
ESCLERNQUIMA
1. Introduo
O esclernquima um tecido de sustentao caracterizado pela
resistncia e elasticidade apresentada pelas paredes de suas paredes
celulares. Durante o crescimento da planta a plasticidade da parede
celular (como no colnquima) muito importante, pois as clulas esto se
alongando, no entanto, ao atingirem a maturidade, a clula deve assumir
uma forma permanente e, neste caso, a elasticidade da parede (como no
esclernquima) mais importante que a plasticidade. Uma parede elstica
pode ser deformada sob tenso ou presso, mas voltam forma e
tamanho originais quando essas foras desaparecem. Se um rgo
maduro fosse constitudo unicamente de tecidos plsticos, as
deformaes causadas pelos mais variados agentes como: o vento,
passagem de animais e outros, seriam permanentes. Por outro lado, a
planta deve oferecer resistncia s peas bucais, unhas e ovopositores de
animais. A presena de esclernquima, como uma camada protetora ao
redor do caule, sementes e frutos imaturos evita que os predadores se
alimentem deles, uma vez que a lignina no digerida pelos animais, assim
o esclernquima funciona tambm como um mecanismo de defesa para a
planta.
Paredes secundrias lignificadas, como as do esclernquima, tambm podem ser encontradas nas
clulas de conduo do xilema e no parnquima do xilema. Eventualmente, algumas clulas parenquimticas
tambm podem tornar-se esclerificadas. Portanto as paredes secundrias lignificadas no so exclusivas das
clulas do esclernquima, o que dificulta uma delimitao exata entre clulas tipicamente esclerenquimticas,
parnquima esclerificado e/ou clulas do xilema.
2. Caractersticas
O esclernquima um tecido de sustentao, cuja principal origem tambm o meristema fundamental.
Difere do colnquima por, geralmente, ser formado por clulas que no retm seu protoplasto na maturidade e
por apresentar paredes secundrias lignificadas uniformemente espessadas. A deposio das camadas de
parede secundria vai reduzindo, gradativamente, o lume celular e a formao d essa parede secundria
acontece aps a clula ter atingido o seu tamanho final, ou ao final deste crescimento.
Figura 4 Corte transversal de um
feixe de fibras evidenciando as
paredes secundrias espessas _
A matriz da parede celular no esclernquima formada de hemicelulose e as substncias pcticas esto
presentes apenas em pequena quantidade. A celulose mais abundante nas paredes secundrias do
esclernquima do que nas paredes primrias.
A lignina uma substncia amorfa, um polmero complexo formado por vrios lcoois, como o p-
cumarlico, coniferlico e sinaplico, que chega a atingir 18-35 % do peso da parede. Os lcoois precursores so
produzidos pelo protoplasto, atravessam a membrana plasmtica, e permeiam a parede celular. As lacases
(enzimas presentes na parede) catalisam a desidrogenao dos lcoois, produzindo radicais livres que se
polimerizam ao acaso, formando uma rede tridimensional que circunda e envolve as fibrilas de celulose. Este
rede de lignina confere maior fora e rigidez parede.
O processo de incrustao de lignina (lignificao) se inicia durante a formao da lamela mdia e da
parede primria. Em seguida, atinge a parede secundria com maior intensidade. Por se tratar de uma
substncia inerte oferece um revestimento estvel, evitando o ataque qumico, fsico e biolgico. Pelo fato da
lignina ser altamente hidrofbica, a passagem da gua atravs da parede secundria extremamente lenta,
enquanto a gua e a maioria das substncias nela dissolvidas passam facilmente pela parede primria. As
paredes do esclernquima apresentam vrios tipos de pontoaes.
3. Tipos Celulares e Ocorrncia do Tecido
O esclernquima ocorre em faixas ou calotas, fornecendo sustentao e proteo. As clulas do tecido
podem tambm aparecer como grandes grupos na casca de frutos secos, formando o endocarpo, bem como o
envoltrio das sementes. comum tambm a ocorrncia dessas de clulas esclerenquimticas entre as clulas
do parnquima.
As clulas do esclernquima apresentam uma grande variedade de formas e tamanhos, mas dois tipos
gerais podem ser reconhecidos: escleredes ou esclerede e as fibras (Fig. 1). Estes dois tipos de clulas no
so claramente separveis, mas de um modo geral, as fibras so clulas muitas vezes mais longas que largas, e
as escleredes variam de uma forma, aproximadamente, isodiamtrica a outras alongadas e/ou bastante
ramificadas.
3.1. Escleredes
As escleredes, geralmente, clulas mortas, tendem a ser curtas, com paredes secundrias espessadas
e lignificadas, e intensamente pontoadas. Podem aparecer isoladas ou em grupos entre as clulas dos diferentes
tecidos. Apresentam formas variadas e a sua forma tm sido utilizadas para a sua classificao:
a. Braquiesclerdes ou Clulas ptreas (Fig. 5A): so isodiamtricas, ocorrendo por exemplo, na polpa
de Pyrus (pera) e no marmelo, onde aparecem formando grupos entre as clulas parenquimticas;
b. Macroescleredes: quando alongadas, colunares (ramificados (Fig. 5B) ou no), como as escleredes
presentes no envoltrio externo (testa) das sementes das leguminosas, por exemplo, em Pisum (ervilha) e
Phaseolus (feijo) (Fig. 5C).;
c. Osteoescleredes ou clulas em ampulheta: escleredes alongadas, com as extremidades
alargadas, lembrando a forma de um osso (Fig. 5C), como as escleredes observadas sob a epiderme (tegmen)
da semente das leguminosas;
d. Astroescleredes: com a forma aproximada de uma estrela, com as ramificaes partindo de um
ponto mais ou menos central (Fig. 6A), como se v, por exemplo, nas folhas de Nymphaea sp (lrio d'gua);
e. Tricoescleredes: escleredes alongadas, semelhante a tricomas, ramificados ou no, como vistas
nas razes de Monstera deliciosa (banana de macaco) e nas folhas de Musa sp (bananeira) (Fig. 6B).
A B C D
Figura 5. Tipos de Escleredes: A e B Braquiescleredes ou Clulas ptreas do fruto de
Pyrys sp; C Macroesclerede ramificado do pecolo de Camelia sp; D Macroesclerede e
Oesteoesclerede do tegumento da semente de leguminosa.
A B
Figura 6. Tipos de escleredes: A Astroesclereides no aernquima de Nymphaea
sp; B Tricloescleredes da folha de Musa sp.
3.2. Fibras
So clulas muitas vezes mais longas que largas, com as extremidades afiladas, lume reduzido, devido
presena de paredes secundrias espessas, com variado grau de lignificao e poucas pontoaes,
geralmente simples. As fibras, geralmente ocorrem em feixes, constituindo as chamadas "fibras" do comrcio. As
fibras atuam como elementos de sustentao nas regies do vegetal que no mais se alongam.
As fibras esto amplamente distribudas no corpo do vegetal, aparecendo em grupos ou formando um
cilindro completo no crtex e junto ao floema. Podem ocorrer como bainha envolvendo, completamente ou
parcialmente, os feixes vasculares, tanto no caule como nas folhas.
As fibras podem ser classificadas artificialmente em: fibras xilemticas, quando ocorrem junto com os
elementos do xilema e fibras extraxilemticas. As fibras xilemticas sero vistas junto com o xilema. As fibras
extraxilemticas incluem as fibras do floema (Fig. 7), as fibras corticais, as fibras perivasculares (Fig. 9) das
dicotiledneas e as fibras das monocotiledneas, sejam elas associadas ou no aos tecidos vasculares.
As fibras do floema primrio, presentes no caule de vrias dicotiledneas aparecem na periferia do
floema primrio. Nos caules que apresentam crescimento secundrio, as fibras do floema ocorrem em tambm
em camadas alternadas com o floema secundrio. As fibras de floema tm origem no mesmo meristema que
forma o floema.
Essas fibras so denominadas "fibras macias" por apresentarem pouca lignina em suas paredes. Muitas
delas so usadas comercialmente, como as fibras do cnhamo (Cannabis sativa), do linho (Linum usitatisimum -
Fig. 7) e do rami (Boehmeria nivea). No cnhamo as fibras do floema tm cerca de 6 cm de comprimento, e no
rami chegam a ter 55 cm.
As fibras corticais, como o nome diz se
originam na regio cortical. As fibras pericclicas
se localizam na periferia do cilindro vascular,
internamente camada interna do crtex. Elas no
so formadas como parte do floema e sim
externamente a ele. As fibras das
monocotiledneas, associadas ou no aos feixes
vasculares. Geralmente, so denominadas "fibras
duras", por apresentarem paredes secundrias
intensamente lignificadas, como por exemplo, as
fibras das folhas de Sansevieria zeylanica (espada-
de-So Jorge), Phormium tenax (linho-da-nova-
zelndia) (Fig. 10) e do sisal (Agave sisalana), que
so fibras de origem pericclica. Muitas destas
fibras tambm so utilizadas industrialmente para a
fabricao de cordas ou de tecidos mais
grosseiros.
Figura 7 - Fibras do floema do caule de Linnum
sp Esau, K.
A B
Figura 8. A - Fibras perivasculares do caule de Aristolochya sp. www.botany.hawaii.edu; B -
Fibras de folha de Phormium tenax. Foto de Castro, N. M.
4. Origem e desenvolvimento das Escleredes e das Fibras
A origem e o desenvolvimento das escleredes longas e ramificadas e das fibras, envolvem notveis
acomodaes intercelulares e sugerem a existncia de um determinado grau de independncia na diferenciao
destas clulas, em relao s clulas vizinhas. Muitas escleredes, como as braquiescleredes podem se
diferenciar a partir de clulas do parnquima, apenas com a deposio de paredes secundrias espessadas
aps o crescimento da clula. As escleredes alongadas e ramificadas, ao contrrio, podem ser reconhecidas
desde o incio da diferenciao, quando suas extremidades em crescimento comeam a invadir, no apenas os
espaos intercelulares, como tambm a forar caminho entre as paredes de outras clulas (crescimento
intrusivo).
Nestas escleredes, bem como nas fibras, a deposio e o espessamento da parede secundria, pode
se iniciar primeiro na regio central da clula, enquanto as extremidades e/ou ramificaes, permanecem ainda
com suas paredes primrias delgadas, capazes de continuar o seu crescimento intrusivo.
A formao das escleredes pode ocorrer em qualquer perodo da ontognese do rgo. Em Camelia sp
, por exemplo, as macroescleredes se diferenciam na folha bem jovem.
Na maioria das escleredes e das fibras completamente diferenciadas, o protoplasto no funcional e
desaparece aps o desenvolvimento completo das paredes secundrias destas clulas. No entanto, a presena
de numerosas pontoaes, em algumas dessas clulas, indicam que estas clulas podem manter o protoplasto
vivo enquanto necessrio.
SISTEMA DRMICO
EPIDERME
1. Introduo
A epiderme, um dos tecidos do sistema drmico, tem origem a partir da protoderme a camada externa dos
meristemas apicais. Nos rgos que no apresentam crescimento secundrio ela persiste por toda a vida da
planta. Nos rgos que apresentam crescimento secundrio (caule e raiz) sua durao varivel, e ela
substituda pela periderme, tecido drmico de origem secundria.
A epiderme um sistema de clulas variadas, que reveste o corpo primrio da planta. Por estar em contato
direto com o ambiente, a epiderme vrias modificaes estruturais, dependendo dos fatores ambientais. A
presena de cutina na parede celular reduz a transpirao; os estmatos so estruturas relacionadas com as
trocas gasosas; a disposio compacta das clulas e a presena de uma cutcula rgida fazem com que a
epiderme proporcione sustentao mecnica. Nas regies jovens das razes, a epiderme especializada para a
absoro de gua, e para desempenhar esta funo apresenta paredes celulares delicadas, cutcula delgada,
alm de formar os plos radiciais.
Geralmente, a epiderme unisseriada (Fig. 1A), mas em algumas espcies, as clulas da protoderme
podem se dividir periclinalmente, uma ou mais vezes, dando origem, a um tecido de revestimento com vrias
camadas, ontogeneticamente relacionadas, denominado epiderme mltipla ou pluriestratificada (Fig. 1B).
epiderme pluriestratificada tem sido atribuda a funo de reserva de gua. Nas razes areas das orqudeas a
epiderme pluriestratificada, denominada velame (Fig. 1C - estrela) que atua como um tecido de proteo contra a
perda de gua pela transpirao.
A B C D
Figura 1. Epiderme unisseriada da folha de Ligustrum sp. Cutler et al. 2007; B - Epiderme pluriestratificada da
folha de Fcus sp. http://images.botany.org; C -Velame (estrela) da raiz de orqudea. www.botany.hawaii.edu; D -
Hipoderme da folha de Tilandsia. Sp. Foto de Isaias, R.S.
Em vrias espcies, as camadas de clulas subepidrmicas assemelham-se a uma epiderme mltipla, mas
apresentam uma origem diferente, a partir do meristema fundamental. Para designar estes estratos
subepidrmicos, os autores utilizam o termo hipoderme (Fig. 1D). No entanto, para identificar precisamente
estes dois tecidos so necessrios estudos ontogenticos. Enquanto a epiderme
mltipla se origina a partir de divises periclinais das clulas da protoderme, a
hipoderme tem origem a partir das clulas do meristema fundamental, sob a
protoderme.
2. Composio e Caractersticas
A epiderme constituda por clulas pouco especializadas, denominadas
clulas fundamentais e por clulas especializadas, de forma e funes variadas
como, por exemplo, as clulas-guarda dos estmatos, tricomas, tricomas, clulas
buliformes encontradas nas folhas de vrias monocotiledneas, etc.
As clulas fundamentais podem apresentar a forma, tamanho e arranjo
variados; mas quase sempre so tabulares, quando vistas em seco transversal
(Fig. 2). Em vista frontal apresentam-se, aproximadamente, isodiamtricas ou
podem ser mais alongadas naqueles rgos alongados. Estas clulas apresentam-
se intimamente unidas, de modo a formar uma camada compacta sem espaos
intercelulares.
Figura 2 - Tipos de clulas da epiderme de uma folha: A = clula fundamental;
B = estmato; C = pednculo e D = cabea de um tricoma glandular.
As clulas epidrmicas so vivas, geralmente, aclorofiladas, vivas, altamente vacuoladas e podem
armazenar vrios produtos do metabolismo. Em algumas espcies os vacolos das clulas epidrmicas podem
acumular pigmentos (antocianinas) como acontece nas ptalas de muitas flores, no caule e na folha da mamona
vermelha (Ricinus sp), etc.
As paredes das clulas epidrmicas variam quanto espessura. Nas clulas com paredes espessas a
parede periclinal externa, geralmente, a mais espessa. Esses espessamentos so, geralmente, primrios e os
campos primrios de pontoao e os plasmodesmas presentes, se localizam especialmente nas paredes radiais
e nas tangenciais internas.
A presena da cutina a caracterstica mais importante da parede das clulas epidrmicas das partes
areas da planta. A cutina uma substncia de natureza lipdica, que pode aparecer dentro da parede, como
incrustao nos espaos entre as fibrilas de celulose, e tambm depositada sobre a parede periclinal externa,
formando a cutcula (Fig. ).
O processo de deposio de cutina na parede denominado cutinizao e a posterior deposio de
cutina sobre a parede periclinal externa denominada de cuticularizao. A espessura da cutcula bastante
varivel, nas plantas de regies secas geralmente bastante espessa. A cutina ajuda a restringir a transpirao
e, por ser uma substncia brilhante, ajuda a refletir o excesso de radiao solar. Por se tratar de uma substncia
que no digerida pelos seres vivos, a cutina atua tambm como uma camada protetora contra a ao dos
fungos e bactrias. A formao da cutcula comea muito cedo nos estgios iniciais de crescimento dos rgos.
Acredita-se que a cutina migre para o exterior das clulas epidrmicas, atravs de poros existentes na parede
celular. Em vrias espcies, a cutcula pode ainda estar recoberta por depsitos de diversos tipos, tais como:
ceras (Fig. 4B), leos, resinas e sais sob a forma cristalina.
As clulas epidrmicas geralmente apresentam paredes primrias, mas em algumas espcies, como por
exemplo, nas folhas de Pinus (conferas) podem apresentar paredes secundrias lignificadas e intensamente
espessadas.
Figura 3. A - Esquema da parede da clula
epidrmica, evidenciando a parede
cutinizada, a cutcula e a ceras na superfcie; B - Detalhe da epiderme foliar de Curatella
amaericana, evidenciando a cutcula. Foto de Castro, N.M e Oliveira, L. A.
A B
Figura 4. A - Detalhe da epiderme foliar de Agave sp. com paredes periclinais externas espessas e cutinizadas.
Foto de Mauseth, J.D.; B - Vista frontal da epiderme foliar de Eucalyptus sp (Microscopia Eletrnica de Varredura
(MEV). A cera aparece em branco sobre a epiderme. (http: // bugs.bio.usyd.edu.ar).
4. Estmatos
A continuidade das clulas epidrmicas somente interrompida pela abertura dos estmatos. O termo
estmato utilizado para indicar uma abertura - ostolo, delimitada por duas clulas epidrmicas especializadas,
as clulas-guarda (Fig. ). Muitas espcies podem apresentar ainda duas ou mais clulas associadas s
clulas-guarda, que so conhecidas como clulas subsidirias ou anexas (Fig. ), que podem ser
morfologicamente semelhantes s demais clulas epidrmicas, ou no. O estmato, juntamente com as clulas
subsidirias, forma o aparelho estomtico (Fig. ). Em seco transversal, podemos ver sob o estmato uma
cmara subestomtica (Fig. ), que se conecta com os espaos intercelulares do mesofilo.
As clulas-guarda, ao contrrio das demais clulas epidrmicas, so clorofiladas e geralmente tm o
formato reniforme, quando em vista frontal. As paredes dessas clulas apresentam espessamento desigual: as
paredes voltadas para o ostolo so mais espessas e as paredes opostas so mais finas (Fig. ). A cutcula
recobre as clulas-guarda e tambm, pode estender-se at a cmara subestomtica.
Nas Poaceae (Gramineae) e nas Cyperaceae, as clulas-guarda so semelhantes a alteres; suas
extremidades so alargadas e com paredes finas, enquanto a regio mediana, voltada para o ostolo, mais
estreita e apresenta paredes espessadas (Fig. 6A).
A abertura e o fechamento do ostolo so determinados por mudanas no formato das clulas-guarda,
causadas pela variao do turgor dessas clulas.
O tipo, nmero e posio dos estmatos so bastante variados. Quanto vistos em cortes transversais, os
estmatos podem se situar acima, abaixo ou no mesmo nvel das demais clulas epidrmicas, em criptas
estomticas ou mesmo em protuberncias. Os estmatos esto presentes nos rgos areos, mas so mais
numerosos nas folhas. Nas folhas, seu nmero tambm pode variar nas diferentes faces de uma mesma folha,
bem como, em diferentes folhas de uma mesma planta ou ainda nas diferentes regies de uma mesma folha.
A ......B C
Figura 5. A e B - Vista frontal de estmatos. Foto de Museth e Alquimim; C - Detalhe de um
estmato de Curatella americana. Visto em corte transversal da folha Foto de Castro N. M. &
Oliveira, L. A.
A posio dos estmatos nas folhas geralmente est relacionada s condies ambientais. Nas folhas
flutuantes das plantas aquticas, os estmatos so encontrados apenas na face superior, enquanto que, nas
plantas de ambientes xricos (secos), os estmatos aparecem na face inferior, ou ainda, escondida em criptas,
numa tentativa de reduzir a perda de gua em vapor, quando os estmatos se abrem.
Quanto distribuio dos estmatos, as folhas podem ser classificadas em: epiestomticas, com os
estmatos presentes apenas na face superior; hipoestomticas, com os estmatos apenas na face inferior da
folha e anfiestomticas, quando os estmatos esto presentes nas duas faces.
A B C
Figura 6. A - Vista frontal do estmato da folha de trigo. Foto de Peterson, L.
(www.uoguelp.ca/boany/courses/); B - Vista frontal de um estmato. Microscopia Eletrnica de
Varredura (MEV); C - Estmato de Fcus em depresso, na epiderme da face inferior da folha.
http://www.sbs.utexas.edu/mauseth/
Caractersticas como a posio e nmero dos estmatos na epiderme so bastante variados e altamente
influenciados pelo ambiente em que a planta vive, apresentando assim, pouca aplicao taxonmica. No entanto,
existem classificaes baseadas na presena ou no, e na origem das clulas subsidirias, que podem ter
utilizao taxonmica, como, por exemplo, a
classificao proposta por Metcalf & Chalk (1950), para
os estmatos das dicotiledneas, com base na relao
entre as clulas anexas: anomocticos (C), paractico
(D), anisoctico (E) e diactico (F) (Fig. 7)
Figura 7 Tipos de estmatos de dicotiledneas
(Retirado de Esau, K. 1974).
5. Tricomas
Alm dos estmatos, inmeras outras clulas especializadas ocorrem na epiderme, dentre elas destacam-
se os tricomas, que renem vrios tipos de apndices epidrmicos, portanto, originados da protoderme.
Os tricomas so
altamente variados em
estrutura e funo e que
podem ser classificados de
diversas maneiras:
Figura 8 . Esquema mostrando a diferenciao de um tricoma tector a partir de
uma clula da protoderme. www.nature.com/.../v5/n6/fig_tab/nrm1404_F1.html
5.1 Tectores ou de cobertura: podem ser unicelulares como, por exemplo, as fibras de algodo que so
tricomas da semente do algodoeiro, formados por uma nica clula que se projeta para fora da epiderme e
apresentam paredes secundrias celulsicas espessadas. Existem ainda, tricomas multicelulares uni, bi ou
multisseriados, ramificados (Fig. ) ou no. Os tricomas tectores no produzem nenhum tipo de secreo e
acredita-se que possam, entre outras funes, reduzir a perda de gua, por transpirao, das plantas que vivem
em ambientes xricos (secos), auxiliar na defesa contra insetos predadores e diminuir a incidncia luminosa.
5.2 Secretores ou glandulares: esses tricomas possuem um
pednculo, a cabea, e, uma clula basal inserida na epiderme (Fig.
). Tanto o pednculo como a cabea podem ser uni ou
pluricelulares. Geralmente, a cabea a poro secretora do tricoma. O
tricoma secretor recoberto por uma cutcula e a secreo produzida pode ir se
acumulando entre a(s) clula(s) da cabea e a cutcula (Fig. ).
A secreo pode ser eliminada com o rompimento da cutcula ou pode ser liberada
gradativamente atravs de poros existentes na cutcula. Os tricomas
secretores podem apresentar funes variadas dentre elas: produo de
substncias irritantes ou repelentes, para afastar os predadores;
substncias viscosas para prender os insetos (como nas plantas
insetvoras), substncias aromticas para atrair polinizadores, enzimas
digestivas, como nas plantas insetvoras, etc.
Figura 9 Tipos variados de tricomas tectores e secretores.
www.cartage.org.lb/.../MorphologyII.htm
A B C D
Figura 10. A e B - Tricomas tectores da,folha de Arabdopsis, geral da folha e detalhe do tricoma;
C - Tricomas glandulares da folha de Licopersicun sp (tomate).Photograph courtesy of David
Marks (University of Minnesota); D - Detalhe do leo secretado entre a parede celular e a
cutcula da cabea do tricoma secretor de Salvia sp. www.botany.hawaii.edu
5.3 Escamas e/ou tricomas peltados: esses tricomas apresentam um disco, formado por vrias
clulas, que repousa sobre um pednculo que se insere na epiderme (Fig. 11). Nas bromeliceas os tricomas
peltados esto relacionados com a absoro de gua da atmosfera.
A B
Figura 11. Folha de Olea europea (azeitona), A - - Tricoma Peltado de corte transversal
(www.sbs.utexas.edu/.../webchap10epi/10.4-4.htm); B - microscopia eletrnica de varredura da
superfcie da folha (www.nature.com)).
5.4 Vesculas aqferas: so clulas epidrmicas grandes, que servem para armazenar gua.
5.5 Plos radiciais: so projees das clulas epidrmicas que
se formam, inicialmente, como pequenas papilas na epiderme da
zona de absoro de razes jovens de muitas espcies. Estes so
vacuolados e apresentam paredes e cutcula delgadas (Fig. 12) e
esto relacionados com absoro de gua do solo. Estes tricomas
tambm so conhecidos como plos absorventes.
Apesar de sempre terem sua origem a partir da protoderme, o
desenvolvimento dos tricomas bastante complexo e variado,
dependendo de sua estrutura e funo.
Figura 12 - Esquema do pice da raiz, mostrando a posio dos pelos
radiciais. www.cropsci.illinois.edu/.../plantsystems.cfm
Observao: No podemos confundir tricomas com emergncias. As
emergncias so estruturas complexas, que ocorrem na superfcie dos
rgos da planta, que podem apresentar em sua composio, alm de
clulas epidrmicas, clulas do sistema fundamental e at mesmo clulas de
conduo.
SISTEMA VASCULAR
As plantas surgiram, no incio, como organismos fotossintetizantes, adaptados ao ambiente aqutico. As
plantas terrestres evoluram a partir das algas verdes, mas apenas conquistaram o ambiente terrestre aps se
adaptarem para enfrentar este novo ambiente, e isto somente foi possvel aps terem desenvolvido um sistema
de distribuio interna de gua e nutrientes (tecidos vasculares), um sistema de absoro da gua do solo
(razes) e de um sistema de revestimento para evitar a perda excessiva de gua (epiderme cutinizada).
Nem todas as plantas terrestres desenvolveram tecidos vasculares, mas sem sombra de dvida as que o
desenvolveram, tiveram mais sucesso neste novo ambiente. As plantas vasculares englobam as pteridfitas,
gimnospermas e as angiospermas.
Embora a maioria das brifitas no apresente um sistema vascular bem desenvolvido como as plantas
vasculares, alguns musgos possuem um rudimento sistema vascular hadroma; formado pelos hidrides
(responsveis pela conduo de gua e sais) e pelos leptides (clulas condutoras de seiva elaborada), que
envolvem os hidrides.
Nas plantas vasculares a distribuio de gua e nutrientes feita atravs do sistema vascular, que
constitudo pelo xilema, responsvel principalmente pela conduo de gua e sais minerais e pelo floema,
responsvel pela conduo de material orgnico em soluo, principalmente, carboidratos produzidos pela
fotossntese.
Os tecidos vasculares so classificados em primrios e secundrios. Os tecidos vasculares primrios so
formados a partir do procmbio, durante o crescimento primrio da planta, e os tecidos vasculares secundrios
so formados pelo cmbio vascular durante o crescimento secundrio do corpo vegetal.
XILEMA
1. Introduo
O xilema apresenta paredes espessas e lignificadas na maioria de suas clulas e esta caracterstica faz
com que este tecido seja mais rgido que o floema, podendo assim, ser estudado mais facilmente. A presena de
paredes secundrias lignificadas tambm permitiu que o tecido fosse melhor preservado nos fsseis. O xilema
um tecido amplamente utilizado pelo homem para a construo de casas, barcos e pontes, alm da confeco
de instrumentos musicais, produo de papel, entre outras aplicaes.
O xilema um tecido complexo, formados por diferentes tipos de clulas: clulas de conduo -
elementos traqueais; clulas de sustentao fibras e clulas parenquimticas, essas ltimas relacionadas
com o armazenamento de diversas substncias.
O xilema est presente em todos os
rgos da planta (Fig. 1). Geralmente,
ocupa uma posio mais interna no eixo
caulinar e ventral ou superior nas folhas e
nos rgos de origem foliar. Na raiz primria
das dicotiledneas, tanto na raiz principal,
como nas suas ramificaes, forma um
cordo contnuo ocupando a regio central
do rgo. Nas razes adventcias, o xilema
forma cordes alternados com os cordes
de floema. No caule e na raiz em estrutura
primria, na maioria das espcies, o xilema
localiza-se internamente ao floema.
Figura 1. Distribuio dos tecidos
vegetais nos diferentes rgos da planta.
faculty.ksu.edu.sa/.../Forms/AllItems.aspx
2. Tipos de clulas do Xilema
O xilema um tecido formado basicamente por trs tipos de clulas: elementos traqueais, as fibras e
clulas de parnquima.
2.1 Elementos traqueais:
Os elementos traqueais so as clulas mais especializadas do tecido, e so as clulas responsveis
pela conduo da gua e dos sais minerais. Essas clulas so alongadas de paredes secundrias espessadas e
lignificadas, com pontoaes variadas e so clulas mortas na maturidade.
Existem dois tipos de elementos traqueais: as
traquedes e os elementos de vaso (Fig. 2).
As traquedes so consideradas mais
primitivas que os elementos de vaso e constituem o
nico tipo de elemento de conduo na maioria das
pteridfitas e gimnospermas, e combinam as funes
de conduo e de sustentao. So clulas so
imperfuradas e apresentam numerosas pontoaes
entre suas paredes comuns, por onde a gua passa
de uma clula outra (Fig. 2).
Figura 2. Traquedes de Pinus sp - Corte longitudinal e
detalhe das pontoaes areoladas com toros.
As pontoaes observadas nas traquedes, geralmente, so areoladas. Quando a membrana de
pontoao apresenta um espessamento na sua regio mediana, a pontoao denominada pontoao areolada.
As pontoaes areoladas so comuns nas conferas.
O fluxo de gua no interior das traquedes se faz, principalmente, no sentido longitudinal, podendo
ocorrer tambm, fluxo lateral entre as traquedes vizinhas. A gua passa de uma traquede para a outra atravs
da membrana de pontoao areoladas. Como mencionado anteriormente, a membrana de pontoao o
conjunto formado pela lamela mediana mais as paredes primrias das duas clula vizinhas
Os elementos de vaso so considerados derivados das
traquedes e a grande maioria das angiospermas apresenta elementos
de vasos, alm das traquedes, para a conduo de gua e sais
minerais. Os elementos de vaso so clulas com perfuraes em suas
paredes terminais e/ou laterais (Fig. 3 e 4). Estas clulas comunicam
entre si atravs dessas perfuraes, que so regies completamente
abertas, desprovidas de paredes primrias e secundrias. Os
elementos de vaso se dispem um sobre o outro em sries
longitudinais, formando longos tubos, de comprimento variado, os
vasos do xilema, por onde a gua flui livremente atravs das
perfuraes entre eles. Estas perfuraes, geralmente, ocorrem nas
paredes terminais dos elementos de vaso, mas podem estar presentes
tambm nas suas paredes laterais.
Figura 3. Elementos traqueais:
. Traquedes e elementos de vasos.
A B C
Figura 4. Elementos de vaso: A e B - Placas perfuradas simples; C - Placa perfurada composta.
A regio perfurada da parede chamada placa de perfurao ou placa perfurada (Fig. 4). Uma placa
de perfurao pode apresentar uma nica perfurao, constituindo uma placa perfurada simples (Fig. 4 A e B),
ou pode apresentar vrias perfuraes, formando uma placa perfurada mltipla (Fig. 4 C).
Diferenciao dos Elementos de Vaso
Os elementos de vaso originam-se a partir de clulas do procmbio (no xilema primrio) ou do cmbio
vascular (no xilema secundrio). Inicialmente, estas clulas meristemticas apresentam citoplasma denso,
pequenos vacolos e parede primria delgada. Com a diferenciao e a deposio gradativa de paredes
secundrias lignificadas essas clulas acabam morrendo.
Um vaso do xilema origina-se, a partir de uma srie longitudinal de clulas meristemticas. A placa
perfurada do elemento de vaso comea a se formar bem cedo durante a diferenciao destas clulas. A parede
secundria vai sendo depositada internamente parede primria em toda a clula, exceto nas pontoaes e nas
reas da parede primria onde se desenvolvero as futuras perfuraes.
Aps a deposio da parede secundria, o elemento de vaso em diferenciao entra em um estgio de
lise (Fig. 5). O tonoplasto (membrana que envolve os vacolos) se rompe e enzimas hidrolticas so liberadas e
destroem o protoplasto da clula. Essas enzimas atuam tambm sobre as paredes celulares. Nas reas das
futuras perfuraes, as enzimas destroem toda a parede primria, que no foi recoberta pela parede secundria,
deixando assim uma rea aberta entre as duas clulas. No entanto, uma segunda hiptese tem sido levantada,
de que apenas os componentes no celulsicos seriam removidos, enquanto as microfibrilas de celulose seriam
apenas empurradas de suas posies originais para as margens da perfurao. Nas pontoaes, regies onde a
parede secundria lignificada, no se deposita sobre a primria as enzimas hidrolticas, removem todos os
componentes no celulsicos da parede primria, deixando apenas uma fina rede de microfibrilas de celulose.
Assim, a gua poder fluir de clula para clula, tanto atravs das perfuraes, como atravs das membranas de
pontoao. A diferenciao dos elementos traqueais um exemplo de apoptose, ou seja, morte celular
programada.
Figura 5 - Esquema mostrando a diferenciao de um elemento de vaso. Raven, et al. Biologia Vegetal, 2006.
2.2. Fibras
As fibras so clulas mortas na maturidade, longas, com
paredes secundrias espessas e lignificadas (Fig. 6). O
espessamento das paredes das fibras variado, mas geralmente,
elas so mais espessas que as paredes dos elementos traqueais do
mesmo lenho.. As pontoaes nas paredes das fibras podem ser
simples ou areoladas. Existem dois tipos bsicos de fibras: as
fibrotraquedes e as fibras libriformes.
Se os dois tipos de fibras aparecem juntos no xilema de uma
planta, as fibrotraquedes so mais curtas, apresentam as paredes
mais delgadas e as pontoaes so areoladas, enquanto as fibras
libriformes so mais longas, apresentam paredes mais espessas e
com pontoaes simples.
Figura 6 Seco longitudinal tangencial do xilema de Zingonium,
mostrando as fibras (clulas longas) e as clulas parenquimticas
(clulas polidricas pequenas). www.biologia.edu.ar
Em algumas espcies as fibras podem desenvolver paredes transversais finas, aps a formao das
paredes secundrias, dando origem s fibras septadas. Usualmente,
essas fibras septadas retm seu protoplasma quando maduras, isto ,
so clulas vivas e possuem funo semelhante ao do parnquima,
armazenando substncias. Se o xilema apresenta fibras vivas, o seu
parnquima muito escasso ou at mesmo ausente. Outra variao das
fibras do xilema so as chamadas fibras gelatinosas. Estas fibras
possuem paredes pouco lignificadas e aparecem no lenho que se
desenvolve em reas submetidas a presses (lenho de reao).
Evoluo dos Elementos Traqueais e das Fibras
A parede secundria lignificada da maioria das clulas do
xilema permitiu que o tecido fosse bem preservado na maioria dos
fsseis. Assim o xilema o tecido vegetal que mais se presta aos
estudos filogenticos (evolutivos). As evidncias fsseis mostraram que
as traquedes so os elementos de conduo mais primitivos. Por serem
clulas longas e estreitas e por apresentarem paredes secundrias
espessadas e lignificadas, as traquedes acumulavam as funes de
conduo e sustentao nas primeiras plantas a formarem o xilema.
Posteriormente, durante a evoluo do xilema houve uma
diviso dessas duas funes. Por um lado, as traquedes evoluram
para formar os elementos de vasos, mais especializados para a
conduo, e por outro, deram origem s fibras mais especializadas para
a sustentao (Fig. 7).
Figura 7 - Esquema mostrando a evoluo dos elementos traqueais e das fibras. Esau, K. 1977
Inicialmente, os elementos de vaso eram longos, estreitos e apresentavam placas perfuradas compostas
e com a evoluo, foram tornando-se cada vez mais curtos e largos e as placas de perfurao passaram de
compostas simples. As fibras, por sua vez, foram ficando cada vez mais longas e estreitas e as paredes cada
vez mais espessadas, evidenciando-se assim a funo de sustentao
destas clulas.
2.3. Parnquima
No xilema primrio as clulas parenquimticas, so alongadas,
apresentam as paredes delgadas e aparecem entremeando-se com os
elementos traqueais. O parnquima do xilema, geralmente, funciona como
um tecido de reserva, armazenando amido, leos, e muitas outras
substncias de funes desconhecidas. Compostos tnicos e cristais tambm
so comumente armazenados nessas clulas.
Figura 8 - Parnquima do xilema. www.inea.uva.br/servios/histologia/
xilema.htm
3. Xilema Primrio
O xilema primrio, isto , o xilema presente no corpo primrio da planta se origina a partir do procmbio
suas clulas esto organizadas apenas no sistema axial, ou seja, se dispem paralelamente ao maior eixo do
rgo. Na raiz, o xilema primrio ocorre em cordes alternados com os cordes de floema primrio enquanto,
nos caules, folhas e flores, o xilema e o floema primrio, aparecem associados formando os feixes vasculares.
O xilema primrio consiste de protoxilema e metaxilema. O protoxilema o primeiro a se formar (Fig. 9)
em regies de intenso crescimento e, a seguir diferencia-se o metaxilema. Embora os dois tipos apresentem
algumas peculiaridades, esto to integrados, que a delimitao entre ambos pode ser feita apenas
aproximadamente. De modo geral, o protoxilema mais simples, formado apenas por elementos traqueais
delicados e parnquima.
O protoxilema amadurece em regies da planta que ainda no completaram seu crescimento e
diferenciao. Deste modo, o protoxilema est sujeito a presses contnuas causadas por este crescimento e
seus elementos traqueais acabam sendo distendidos e,
muitas vezes, so obstrudos e colapsados (Fig. 9 - setas),.
deixando de funcionar em poucos dias. Nas razes, o
protoxilema apresenta uma durabilidade maior, pois
completam a sua diferenciao acima da regio de
distenso. Ao colapsar ou tornar-se obstrudo, cessa a
funo de conduo do protoxilema, que repassada e
continuada pelo metaxilema.
O metaxilema forma-se a seguir, no corpo primrio,
ainda em crescimento. No entanto, sua completa
diferenciao s acontece mais tarde, depois que esta
distenso j se completou, por isso, ele menos afetado
pelo crescimento dos tecidos ao seu redor. Nas plantas que
no apresentam crescimento secundrio, o metaxilema
permanece funcional durante toda a vida do indivduo.
Figura 9 - Xilema primrio do caule de Euphorbia sp.
Destaque para o protoxilema (setas). Foto de Mauseth, J.D.
3.1. Paredes secundrias dos elementos traqueais do Xilema Primrio
As paredes secundrias dos elementos traqueais do xilema primrio so caractersticas e, aparecem em
sries ontogenticas bem ordenadas, que revelam com clareza um aumento progressivo das reas de parede
primria revestidas pela parede secundria.
Geralmente, os primeiros elementos traqueais do xilema primrio a amadurecerem, isto , os elementos
do protoxilema, produzem pequenas quantidades de material de parede secundria, que depositada como
anis - espessamentos anelares (Fig. 10-A) ou espirais contnuas - espessamentos espiralados ou
helicoidais (Fig. 10 B-C). Esses espessamentos no chegam a impedir o alongamento destas clulas,
permitindo que elas possam crescer um pouco.
Figura 10 - Paredes Secundrias de elementos traqueais do xilema primrio. A-C protoxilema: A elemento
anelado; B e C - elemento espiralado ou helicoidal; D-F Metaxilema: D elemento escalariforme; E elemento
reticulado; F elemento pontoado. Desenhos de Florence Brown.
No metaxilema, os depsitos de parede secundria vo aumentando gradativamente, passando de
espiralados, escalaridormes (quando essas espirais se fundem) (Fig. 10-D), a seguir surgem os
espessamentos de parede secundria em forma de rede, espessamentos reticulados (Fig. 10-E), e, finalmente
toda a clula apresenta parede secundria, exceto nas pontoaes, espessamento pontoado (Fig. 10-F).
Elementos traqueais com pontoaes areoladas so caractersticos do metaxilema e do xilema secundrio.
4. Xilema Secundrio
Muitas dicotiledneas e gimnospermas apresentam crescimento secundrio e, portanto apresentam
xilema secundrio. As monocotiledneas, de maneira geral, no apresentam crescimento secundrio, e quando
este acontece, no segue o mesmo padro das dicotiledneas e das gimnospermas. O xilema secundrio ser
visto posteriormente.
Floema
1. Introduo
O floema o tecido responsvel pela conduo de nutrientes orgnicos, principalmente, resultante da
fotossntese, ou seja, das regies fonte paras as regies dreno (de consumo). O floema pode translocar uma
grande quantidade de material rapidamente. A seiva elaborada contm 80 a 90 mg/ml de aucares, 20 a 80
mg/ml de aminocidos, alm de outras substncias como: alcois e fosfatos ligados aos aucares, hormnios,
cidos nuclicos, vitaminas e substncias inorgnicas.
O floema, tal qual o xilema um tecido complexo, formado por elementos de conduo, clulas de
sustentao e parnquima. Pelo fato de ser um tecido cujas clulas apresentam paredes menos lignificadas que
as paredes das clulas do xilema, o floema menos persistente e assim foi pouco preservado nos fsseis, o que
torna a sua histria evolutiva menos conhecida que a do xilema. Acredita-se que os elementos de conduo do
floema tenham evoludo a partir do parnquima. Devido sua proximidade com a periferia da raiz e do caule, o
floema sofre maiores modificaes com o aumento em dimetro desses rgos, durante o crescimento
secundrio, e muitas vezes, removido junto com a periderme. J o xilema permanece, praticamente, inalterado
com o crescimento secundrio do rgo.
2. Tipos de Clulas do Floema
O floema um tecido formado por clulas condutoras ou elementos crivados (clulas crivadas e
elementos de tubo crivado) clulas parenquimticas especializadas (clulas de Strassburger e clulas
companheiras); clulas parenquimticas comuns e esclernquima (escleredes e fibras).
2.1 Clulas de Conduo - Elementos crivados
Os elementos crivados so as clulas mais especializadas do floema. Essas clulas so vivas e
caracterizam-se, principalmente, pela presena das reas crivadas, que so poros modificados, nas suas
paredes e pela ausncia de ncleo nas clulas maduras. Os elementos crivados do floema podem ser de dois
tipos: as clulas crivadas e os elementos de tubo crivado.
Paredes e reas Crivadas
As paredes dos elementos crivados so primrias, geralmente, mais espessas do que as paredes das
clulas do parnquima do mesmo tecido. Em algumas espcies, essas paredes so espessas e quando
observadas ao microscpio ptico, em cortes de material fresco, mostram um brilho perolado e so denominadas
de paredes nacaradas.
As reas crivadas (Fig. 11-setas) so reas da parede com grupos de
poros, atravs dos quais o protoplasto de elementos crivados vizinhos se
comunica, tanto no sentido vertical como no lateral. Esses poros so semelhantes
aos poros dos plasmodesmos, apenas possuem um dimetro maior. Nas reas
crivadas os poros apresentam cerca de 1-2 m de dimetro, enquanto os poros dos
plasmodesmos possuem cerca de 60 m de dimetro. As regies da parede de um
elemento de tubo crivado que possuem reas crivadas mais especializadas, com
poros de maior dimetro, (at 14 m de dimetro) so denominadas de placas
crivadas (Fig. 12A). Uma placa crivada pode apresentar apenas uma rea crivada
- placa crivada simples (Fig. 12A) ou apresentar vrias reas crivadas, sendo
denominada placa crivada composta.
Figura 11 - Detalhe das clulas crivadas do floema de Pinus strobus,
evidenciando as placas crivadas. Foto de Mauseth J.D.
No material seccionado, cada poro da rea ou da placa crivada, geralmente aparece revestido pela
calose, um polmero de glicose. A calose se encontra presente na parede das clulas de conduo do floema
desde o incio da sua diferenciao. O desenvolvimento da uma rea ou de uma placa crivada inicia-se com a
deposio de plaquetas de calose ao redor dos poros dos plasmodesmos. A seguir as plaquetas de calose se
espessam revestindo todo o poro, formando cilindros de calose, que se espessam cada vez mais, at obstruir os
poros por completo. Num estgio seguinte a calose se deposita tambm na regio da parede entre os cilindros
Figura 12. A - Detalhe do floema do caule de
Aristolochia sp, visto em corte longitudinal; B -
Placas crivadas do floema. A calose aparece
fluorescente, vista sob microscopia de
fluorescncia.
Este estgio, que coincide com a desativao ou com o incio de um perodo de dormncia do elemento
crivado, a calose pode se depositar sobre toda a rea crivada, como uma almofada, tornando o elemento no
funcional. Nos elementos crivados velhos e totalmente desativados a calose no mais encontrada nos poros
das reas ou das placas crivadas (Fig. 12B).
No floema das plantas de regies temperadas se o floema est desativado apenas temporariamente,
quando ele volta a ser reativado a calose metabolizada e reduzida, possibilitando o restabelecimento da
continuidade protoplasmtica entre dois elementos crivados vizinhos. A calose pode ser produzida ainda, em
resposta ferimentos. Aparentemente enzimas localizadas na plasmalema esto envolvidas no controle de
sntese ou degradao da calose.
Protoplasto dos Elementos crivados
Durante a diferenciao dos elementos crivados, o protoplasto passa por vrias modificaes. O ncleo
se desintegra embora, os plastdeos (armazenando amido e/ou protena), o retculo endoplasmtico e as
mitocndrias permaneam. O tonoplasto tambm se desintegra, mas a membrana plasmtica permanece (Fig.
13a-c). No floema das dicotiledneas (e de algumas monocotiledneas) comum a presena de uma substncia
protica, denominada protena P que aparece inicialmente sob a forma de grnulos no citoplasma do elemento
crivado em diferenciao (Fig. 13b) e, aps a diferenciao do elemento de conduo, ela aparece sob a forma
de filamentos, no citoplasma residual da clula (Fig. 13 c).
Figura 13 - Diferenciao do Elemento de tubo crivado.
Clulas Crivadas e Elementos de Tubo Crivado
Os dois tipos de elementos crivados diferem entre si, pelo grau de especializao das reas crivadas e
pela distribuio das mesmas nas paredes de suas clulas.
As clulas crivadas (Fig. 11), consideradas mais primitivas, presentes no floema das gimnospermas so
clulas alongadas e apresentam reas crivadas, com poros pouco desenvolvidos, nas suas paredes laterais e
terminais.
Os elementos de tubo crivado (Fig. 12-14) presentes no floema das angiospermas so clulas mais
curtas e mostram um maior grau de especializao do que o observado nas clulas crivadas. Essas clulas
apresentam reas crivadas com poros menores nas suas paredes laterais, enquanto que, nas paredes terminais
e, ocasionalmente, nas paredes laterais tambm, ocorrem reas crivadas mais especializadas, com poros de
dimetro maior, de at 14 m, formando as placas crivadas (Fig.14A), que podem sem simples ou compostas. O
elemento de tubo crivado dispe-se em longas sries longitudinais, unidos pelas placas crivadas, formando
assim os tubos crivados do floema.
A B
Figura 14 - Elementos de Tubos crivados,, em seco longitudinal, vistos sob microscopia eletrnica de varredura.
Os elementos de tubo crivados primitivos so longos, dotados de paredes terminais muito inclinadas e,
geralmente, apresentam placas crivadas compostas, ou seja, placas crivadas com vrias reas crivadas, cujos
poros so relativamente estreitos. Durante a evoluo houve uma reduo da inclinao de suas paredes
terminais, as placas crivadas passaram de compostas para simples e o dimetro dos poros dos crivos da placa
crivada aumentou, levando a uma distino entre as reas crivadas das paredes laterais e das placas crivadas
nas paredes terminais.
2.2 Clulas Parenquimticas
Clulas parenquimticas no especializadas so componentes do floema e podem conter substncias
ergsticas, como amido, cristais, substncias fenlicas, etc. No floema secundrio temos as clulas
parenquimticas do sistema radial e as do sistema axial. As clulas parenquimticas do sistema radial so
derivadas de clulas iniciais radiais do cmbio vascular e as do sistema axial, so derivadas das clulas iniciais
fusiformes do cmbio.
Clulas Parenquimticas Especializadas: Clulas Albuminosas e Clulas Companheiras
O movimento de materiais orgnicos atravs do floema depende da interao fisiolgica entre os
elementos crivados e clulas parenquimticas altamente especializadas, que aparecem ao lado desses
elementos de conduo.
Os elementos de tubo crivado esto associados s clulas companheiras (Fig. 13 e 14B) que so clulas
parenquimticas altamente especializadas, intimamente ligadas estes elementos de conduo, atravs de
inmeros plasmodesmas. As clulas companheiras so clulas nucleadas com numerosas mitocndrias,
plastdios (freqentemente cloroplastdeos) e ribossomos. A clula companheira ontogeneticamente ligada ao
elemento de tubos crivados (Fig. 13). Durante a diferenciao do elemento de tubo crivado a clula
meristemtica que formar o elemento de tubo crivado sofre uma diviso longitudinal desigual (Fig. 13a),
formando uma clula menor, a clula companheira e uma clula maior, o elemento de tubo crivado (Fig. 13b). A
clula menor - clula companheira - pode sofrer novas divises transversais, dando origem a mais de uma clula
companheira por elemento de tubo crivado.
As clulas crivadas das gimnospermas tambm esto associadas a clulas parenquimticas
especializadas, denominadas clulas albuminosas, ligadas a elas por numerosos plasmodesmas. No entanto,
essas clulas albuminosas no esto relacionadas ontogeneticamente s clulas companheiras, isto , no tem
origem a partir da mesma clula meristemtica. Quando o elemento crivado morre suas clulas companheiras ou
albuminosas tambm morrem.
2.3 Esclernquima
As fibras do floema esto presentes na parte externa do floema primrio e no floema secundrio. Essas
fibras apresentam uma distribuio variada, intercalada entre as outras clulas do sistema axial. As fibras do
floema podem ser septadas (Ex: Vitis) ou no e podem ainda, ser vivas ou mortas na maturidade. Muitas
espcies possuem fibras do floema de valor econmico, como por exemplo, as fibras do linho (Linum
usitatissimum), do cnhamo (Cannabis sativa) e do rami (Bohemeria nivea) usadas na confeco de tecidos. As
escleredes tambm so comuns no floema, e podem estar presentes tanto no sistema axial como no radial do
floema secundrio em vrias espcies.
3. Floema Primrio
O floema primrio tem origem a partir do procmbio e constitudo pelo protofloema e pelo
metafloema.
O protofloema o primeiro a se formar e, como completa a sua diferenciao em regies que ainda
esto em intenso crescimento os seus elementos crivados sofrem estiramento, tornando-se obliterados,
esmagados e logo param de funcionar. Os elementos crivados do protofloema, geralmente so funcionais por
apenas um ou dois dias (1 ou 2 dias). O protofloema formado por elementos crivados estreitos, que podem ou
no, estar associados a clulas companheiras. Quando o protofloema apresenta fibras, essas fibras comeam a
espessar as suas paredes apenas aps a desativao dos elementos crivados.
O metafloema diferencia-se posteriormente, ainda no corpo primrio da planta, no entanto, a sua
completa diferenciao acontece somente, aps a fase de crescimento mais intenso da regio onde est sendo
formando. Nas plantas que no apresentam crescimento secundrio, o metaxilema o floema funcional nas
partes adultas da planta. Seus elementos crivados so, em geral, mais largos e numerosos que os elementos
crivados do protofloema. As clulas albuminosas e/ou companheiras esto sempre presentes, mas geralmente, o
metafloema no forma fibras.
Você também pode gostar
- 7 Anatomia Vegetal755Documento14 páginas7 Anatomia Vegetal755Geovanna Oliveira de AndradeAinda não há avaliações
- Sustentação Celular - Paredes e CitoesqueletoDocumento10 páginasSustentação Celular - Paredes e Citoesqueletoanonimous KillerBillsAinda não há avaliações
- 1 - Citologia e Histologia VegetalDocumento8 páginas1 - Citologia e Histologia VegetalAriana Portela NutricionistaAinda não há avaliações
- Parede Celular VegetalDocumento17 páginasParede Celular VegetalRyan VieiraAinda não há avaliações
- 4 - Matriz ExtracelularDocumento13 páginas4 - Matriz ExtracelularFabiana RibeiroAinda não há avaliações
- Formacao Parede Celular Citocinese EAD 240204 172931206Documento9 páginasFormacao Parede Celular Citocinese EAD 240204 172931206matheus2alvesalcantaraAinda não há avaliações
- Clulaeparedecelular EADDocumento9 páginasClulaeparedecelular EADWi ZzyAinda não há avaliações
- Aula 2 Formação Da Parede CelularDocumento22 páginasAula 2 Formação Da Parede CelularFred SchuelerAinda não há avaliações
- FlipbookDocumento21 páginasFlipbookJohn JohnAinda não há avaliações
- BCE Cap 02Documento9 páginasBCE Cap 02Ícaro DiasAinda não há avaliações
- Resumo Das Ideias Principais Sobre Célula VegetalDocumento3 páginasResumo Das Ideias Principais Sobre Célula VegetalPaulo CezarAinda não há avaliações
- 1-Celula Vegetal Revisao AmanhaDocumento56 páginas1-Celula Vegetal Revisao Amanhamanuelfelizberto20Ainda não há avaliações
- AULA 10 - A Celula - 2011.1 (Modo de Compatibilidade)Documento71 páginasAULA 10 - A Celula - 2011.1 (Modo de Compatibilidade)tiagoAinda não há avaliações
- Apostila Anatomia VegetalDocumento114 páginasApostila Anatomia VegetalCecília CarvalhoAinda não há avaliações
- Aula 1Documento16 páginasAula 1Larissa Nacif CanalAinda não há avaliações
- Fisiopatologia Da Pele: Prof Beatriz Essenfelder BorgesDocumento97 páginasFisiopatologia Da Pele: Prof Beatriz Essenfelder Borgeslii pereiraAinda não há avaliações
- Relatório de BiologiaDocumento4 páginasRelatório de BiologiaLaura MascarelloAinda não há avaliações
- Envoltorios CelularesDocumento6 páginasEnvoltorios CelularesElaine Cosma FiorelliAinda não há avaliações
- Aula 3 Parede Celular 2023Documento23 páginasAula 3 Parede Celular 2023calmonhugo24Ainda não há avaliações
- ResumoSegunda ParteDocumento12 páginasResumoSegunda Parteluis araujoAinda não há avaliações
- Turmadefevereiro-biologia1-Tipos de Células e Membrana Plasmática-12!04!2023Documento17 páginasTurmadefevereiro-biologia1-Tipos de Células e Membrana Plasmática-12!04!2023bio-luysasantosAinda não há avaliações
- BiocelDocumento4 páginasBiocelMarcus Fábio leite AndradeAinda não há avaliações
- Teoria e Pratica MORFOLOGIA 2012Documento46 páginasTeoria e Pratica MORFOLOGIA 2012DORLAMISAinda não há avaliações
- Estudo Da CelulaDocumento3 páginasEstudo Da CelulaemarianoAinda não há avaliações
- APOSTILA de Célula VegetalDocumento12 páginasAPOSTILA de Célula VegetalKaliene Da Silva Carvalho Martins100% (1)
- Trabalho de Fisiologia VegetalDocumento14 páginasTrabalho de Fisiologia VegetalIsac FossitalaAinda não há avaliações
- Aula+2 1+novaDocumento25 páginasAula+2 1+novaAna Lucia FerreiraAinda não há avaliações
- Apostila Morfologia VegetalDocumento36 páginasApostila Morfologia VegetalWagner Brogin JuniorAinda não há avaliações
- VOD - Biologia - Introdução À Citologia e Membrana Plasmática - 2021Documento9 páginasVOD - Biologia - Introdução À Citologia e Membrana Plasmática - 2021Sidney MendesAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido I - Célula VegetalDocumento2 páginasEstudo Dirigido I - Célula VegetalJulia VasconcelosAinda não há avaliações
- BioNews Edição MembranaDocumento2 páginasBioNews Edição MembranaAnderson CastroAinda não há avaliações
- Célula Vegetal - ResumoDocumento3 páginasCélula Vegetal - ResumoNiedjaAinda não há avaliações
- A Célula Vegetal - Prof LeonardoDocumento10 páginasA Célula Vegetal - Prof LeonardoFabiano MirandaAinda não há avaliações
- Célula Vegetal - Parede Celular - Anatomia VegetalDocumento4 páginasCélula Vegetal - Parede Celular - Anatomia VegetalIsabella AmaralAinda não há avaliações
- Aula 4Documento12 páginasAula 4Aniceto RosarioAinda não há avaliações
- Bio1 Parte 01Documento4 páginasBio1 Parte 01Marcele OctávioAinda não há avaliações
- Matriz Extracelular e Junções CelularesDocumento12 páginasMatriz Extracelular e Junções CelularescavalcanathaliaAinda não há avaliações
- Parede CelularDocumento2 páginasParede CelularPolicarpo AlmeidaAinda não há avaliações
- Célula Vegetal - ESALQDocumento62 páginasCélula Vegetal - ESALQAndréFerrazAinda não há avaliações
- Célula Animal e VegetalDocumento12 páginasCélula Animal e Vegetaldaniel henriqueAinda não há avaliações
- Aula 4 - Biomembranas e OrganelasDocumento56 páginasAula 4 - Biomembranas e OrganelasxisbrjamillyAinda não há avaliações
- Cel Veg e RaizDocumento59 páginasCel Veg e RaizVitor GomesAinda não há avaliações
- Tecidos Epitelial e Conjuntivo PDFDocumento17 páginasTecidos Epitelial e Conjuntivo PDFFlora GuivalaAinda não há avaliações
- Bioquimica Estrutura CelularesDocumento4 páginasBioquimica Estrutura CelularesGeancarlo RibeiroAinda não há avaliações
- Aula 6 - Tecido ConjuntivoDocumento2 páginasAula 6 - Tecido ConjuntivoMaria Theresa MoreiraAinda não há avaliações
- Células Procariontes, Eucariontes e Composição Química Da CélulaDocumento18 páginasCélulas Procariontes, Eucariontes e Composição Química Da CélulaLaís LopesAinda não há avaliações
- Tecido EpitelialDocumento5 páginasTecido EpitelialCamilaAinda não há avaliações
- Membrana Unitária. A Lamina Central Clara, Mede Cerca de 3,5 NM, e As LâminasDocumento2 páginasMembrana Unitária. A Lamina Central Clara, Mede Cerca de 3,5 NM, e As LâminasNadila NaraAinda não há avaliações
- CitoplasmaDocumento1 páginaCitoplasmaMaria Eduarda BetAinda não há avaliações
- Documento Sem Título 2Documento2 páginasDocumento Sem Título 2Televisao dos SilveiraAinda não há avaliações
- Célula VegetalDocumento10 páginasCélula VegetalKarollyne Santana PaixãoAinda não há avaliações
- Aula 2 - Proteínas Adesivas Da Membrana PlasmáticaDocumento2 páginasAula 2 - Proteínas Adesivas Da Membrana PlasmáticaMaria Theresa MoreiraAinda não há avaliações
- 2 Estrutura e Componentes Da Parede CelularDocumento34 páginas2 Estrutura e Componentes Da Parede CelularAntonio José Alves0% (1)
- Roteiro de Aula - CitoesqueletoDocumento7 páginasRoteiro de Aula - CitoesqueletoDanilo TkaczAinda não há avaliações
- Temática - Ciências da Vida - MicrorganismoNo EverandTemática - Ciências da Vida - MicrorganismoAinda não há avaliações
- Gerador Residencial de Energia Elétrica A Partir Do HidrogênioDocumento20 páginasGerador Residencial de Energia Elétrica A Partir Do HidrogênioWolsey BragaAinda não há avaliações
- Teste Intermédio2018-19.V1Documento9 páginasTeste Intermédio2018-19.V1Rui CarvalhoAinda não há avaliações
- Relato Pantogar, Estresse E Queda de CabeloDocumento2 páginasRelato Pantogar, Estresse E Queda de Cabeloablazeaccuser1131Ainda não há avaliações
- Solucao Limpeza 1300Q FR 1 L para Impressora Ink Jet Ext 150Documento9 páginasSolucao Limpeza 1300Q FR 1 L para Impressora Ink Jet Ext 150Daniel IbanezAinda não há avaliações
- Assepsia, Anti-Sepsia e EsterilizaçãoDocumento63 páginasAssepsia, Anti-Sepsia e EsterilizaçãoJoyce MonteiroAinda não há avaliações
- Fundamentos Teóricos de Trocadores de CalorDocumento49 páginasFundamentos Teóricos de Trocadores de CalorFlávia FernandesAinda não há avaliações
- Filtros YDocumento2 páginasFiltros YrpipebrasilAinda não há avaliações
- Exercícios RecuperaçãoDocumento6 páginasExercícios RecuperaçãoAlexsandra OliveiraAinda não há avaliações
- Caderno de ComponentesDocumento63 páginasCaderno de ComponentesMarcela Parga LiraAinda não há avaliações
- EletrodeposiçãoDocumento28 páginasEletrodeposiçãoJoão Lucas BarrosAinda não há avaliações
- Coligativas TExercíciosDocumento18 páginasColigativas TExercíciosalexbreisAinda não há avaliações
- Características Dos Seres VivosDocumento8 páginasCaracterísticas Dos Seres VivosCristina AguiarAinda não há avaliações
- Atividade 2 - 4º Bimestre - 3ºs IDocumento2 páginasAtividade 2 - 4º Bimestre - 3ºs IMATEUS COSTA LOUBACHAinda não há avaliações
- Relatorio Coeficiente de Transferencia de Calor em Corpos SubmersosDocumento29 páginasRelatorio Coeficiente de Transferencia de Calor em Corpos SubmersosJéssica VielAinda não há avaliações
- MicrobiologiaDocumento3 páginasMicrobiologiaGuilherme Oliveira BjjAinda não há avaliações
- Química3 PDFDocumento96 páginasQuímica3 PDFGuiSousa100% (1)
- TermogeneseDocumento13 páginasTermogeneseLeonardo Silva100% (1)
- Filtro Vortex e EquipamentosDocumento20 páginasFiltro Vortex e Equipamentosthomaskirch.rgkAinda não há avaliações
- FT 01 PDFDocumento2 páginasFT 01 PDFAnonymous IN80L4rRAinda não há avaliações
- Eletroquímica e FaradayDocumento50 páginasEletroquímica e FaradaykamillaAinda não há avaliações
- Hormonios e Movimento VegetalDocumento10 páginasHormonios e Movimento Vegetalcamila warmelingAinda não há avaliações
- Lorazepam InfarmedDocumento12 páginasLorazepam InfarmedCátia ViveirosAinda não há avaliações
- Biscoitos e Doces Decoraà à Es de Natal - Marcela Sanchez (By Juliana Mendonza)Documento13 páginasBiscoitos e Doces Decoraà à Es de Natal - Marcela Sanchez (By Juliana Mendonza)ginajhAinda não há avaliações
- CQ CapsulasDocumento25 páginasCQ CapsulasRondineli Seba SalomãoAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO DA FIBRA DE COCO (Mesocarpo Do Fruto de Cocos Nucifera L.) COMO ADSORVENTE PARA REMOÇÃO DO AGROTÓXICO PARATIONA METÍLICA DE MEIO AQUOSODocumento97 páginasAVALIAÇÃO DA FIBRA DE COCO (Mesocarpo Do Fruto de Cocos Nucifera L.) COMO ADSORVENTE PARA REMOÇÃO DO AGROTÓXICO PARATIONA METÍLICA DE MEIO AQUOSORoberta FreireAinda não há avaliações
- Ursa Elc NF - 22jan2020 - PTDocumento2 páginasUrsa Elc NF - 22jan2020 - PTmarcos coelhoAinda não há avaliações
- Fermentação Alcoolica Na Produção de PãoDocumento7 páginasFermentação Alcoolica Na Produção de PãoAnthony KentAinda não há avaliações
- A Quimica Dos Organomet Licos Do Bloco DDocumento47 páginasA Quimica Dos Organomet Licos Do Bloco Dzael18Ainda não há avaliações
- Relatorio Aula 21.determinaçao Do Teor de Hidroxido de Sodio Na Soda Caustica.Documento7 páginasRelatorio Aula 21.determinaçao Do Teor de Hidroxido de Sodio Na Soda Caustica.Cristina Freitas100% (2)
- PAO2022A - 2.3 Outros IngredientesDocumento7 páginasPAO2022A - 2.3 Outros IngredientesnumlubarAinda não há avaliações