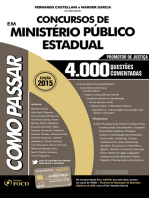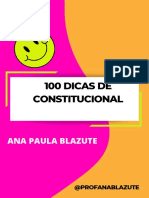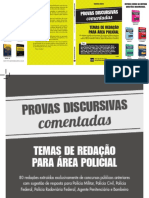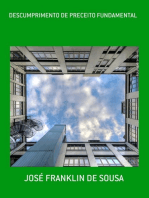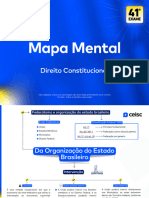Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Guia Academico Direito Constitucional II
Guia Academico Direito Constitucional II
Enviado por
naneluiDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Guia Academico Direito Constitucional II
Guia Academico Direito Constitucional II
Enviado por
naneluiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
direito constitucional II
Organizao Poltico-Administrativa
1. O Estado Federal: surgido nos EUA, em 1787, adotado pelo Estado Brasileiro desde a Constituio de 1891, possui como caractersticas a soberania do Estado Federal e autonomia dos entes federados (Estados-Membros; Distrito Federal e Municpios); existncia de uma Constituio; inexistncia de direito de secesso; distribuio de competncia; autonomia financeira e tributria; participao das unidades federadas na formao da legislao federal; existncia de um rgo de cpula do Poder Judicirio para interpretao e proteo da Constituio Federal e possibilidade de interveno federal. 2. Unio: entidade federativa autnoma em relao aos Estados e Municpios, cabendo-lhe exercer as atribuies da soberania do Estado brasileiro; no se confundindo com o Estado federal, este sim pessoa jurdica de Direito Internacional e formado pelo conjunto da Unio, Estados-membros, DF e Municpios artigo 18 da CF/88. 2.1. Competncia da Unio 2.1.1. administrativa: exclusiva: art. 21 da CF comum: art. 23 da CF. 2.1.2. legislativa: art. 22, CF/88, que traz toda a matria de competncia privativa da Unio, podendo esta delegar aos Estados a competncia para legislar, atravs de Lei Complementar, que especificar a matria. 3. Estados-Membros: como entidades federativas, possuem autonomia, assim entendida como capacidade de auto-organizao e normatizao prpria, fruto do poder constituinte derivado-decorrente, observados os princpios constitucionais sensveis (art. 34, VII, CF/88), extensveis (normas comuns s entidades federativas. art. 25, caput, da CF/88) e estabelecidos (regras que revelam, previamente, a matria de sua organizao e as normas constitucionais de carter veda-trio, bem como os princpios de organizao poltica, social e econmica, que determinam o retraimento da autonomia estadual); autogoverno, indicando que cabe ao prprio povo do Estado escolher diretamente seus representantes nos poderes Legislativo e Executivo locais e o Estado organizar o seu Poder Judicirio; e auto-administrao, cabendo aos Estados se auto-administrarem no exerccio de suas competncias adminis-trativas, legislativas e tributrias definidas constitucionalmente. 3.1. Formao dos Estados: art. 18, 3 da CF Tocantins: art. 13 do ADCT. Condio de procedibilidade do processo legislativo da lei complementar: aprovao atravs de plebiscito. 3.2. Competncia legislativa dos Estados-Mem bros: interesse regional. 3.2.1. Remanescente: art. 25, 1 da CF. Ex: matria pertinente a servidor pblico estadual e transporte intermunicipal. Delegada pela Unio: art. 22, pargrafo nico.
3.2.2. Concorrente-suplementar: art. 24. Nesse tocan te, a Unio limita-se a estabelecer normas gerais, no excluindo a competncia dos Estados; todavia no existindo lei federal sobre normas gerais, podero os Estados exercer a competncia legislativa plena. 4. Municpios: alados na CF/88 ao patamar de entidades federativas autnomas (vide caractersticas no item anterior). 4.1. Formao dos Municpios: art. 18, 4, CF/88. 4.2. Competncia legislativa: interesse local. O STF j decidiu que compete ao Municpio legislar sobre horrio de funcionamento do comrcio local, inclusive farmcias, mas no poder fixar horrio bancrio, que matria de competncia da Unio. 4.3. Lei Orgnica municipal: art. 29, CF/88. 4.4. Responsabilidade criminal e poltica do prefeito municipal: 4.4.1. Crimes de responsabilidade: competncia da Cmara Municipal. O artigo 29-A da CF estabelece exemplificativamente determinadas condutas considera das crimes de responsabilidade, mas lei federal pode ampliar o rol, que segue a regra nullum crimen sine tipo. 4.4.2. Competncia para julgamento dos crimes comuns: crimes dolosos contra a vida: TJ Crime federal: em regra, competncia do TRF, exceto em se tratando de desvio de verba federal incorporada ao patrimnio municipal (smulas 208 e 209 do STJ); crime eleitoral: TRE. As aes populares, aes civis pblicas, de improbidade e demais de natureza cvel no gozam de foro privilegiado. 4.4.3. Imunidade dos vereadores: No existe imuni dade formal. A imunidade material abrange a esfera cvel e penal, mas somente poder ser invocada na circunscrio do Municpio, ou em razo deste; no podendo a Lei Orgnica estabelecer foro privilegiado ou imunidade no prevista na Constituio. 5. Distrito Federal. Ente federativo com trplice autono mia e competncia legislativa hbrida. Art. 32 da CF/88. 6. Territrios: no so componentes do Estado Fe deral, pois constituem simples descentralizaes administrativas territoriais da Unio. Link Acadmico 1
Judicirio, a decretao de interveno depender de requisio do STF; no caso de desobedincia a ordem ou deciso judicial, a decretao depender de requisio do STF, STJ ou do TSE. O STF, alm da hiptese de descumprimento de suas prprias decises ou ordens judiciais, requisita exclusivamente a interveno para assegurar a execuo de decises da J.Federal, J. Estadual, J. do Trabalho e da J. Militar; 2.1.4. Provocada por provimento de representa o: art. 34, VII, c/c art. 36, III ambos da CF. Em caso de ofensa aos princpios constitucionais sensveis (art. 34, VII), a interveno depender de provimento, pelo STF, de representao do Procurador-Geral da Repblica (ADIN interventiva - art. 34, VI, c/c 36, III da CF). Para prover a execuo de lei federal, a interveno depender de provimento de representao do Procurador-Geral da Repblica. Nessas hipteses o decreto interventivo ato administrativo vinculado, diante da deciso do STF, que obriga o Presidente a editar o aludido decreto, sob pena de prtica de crime de responsabilidade (art. 85, VII). 2.2. Decreto interventivo: sempre temporrio e elabo rado pelo Presidente da Repblica, que especificar a amplitude, o prazo e as condies de execuo, obser vando-se sempre o critrio da proporcionalidade; e, quan do couber, nomear um interventor. 2.3. Controle poltico: o Congresso Nacional aprova ou rejeita a interveno, em 24h, atravs de decreto legislativo; caso aquele no aprove a decretao da interveno, o Presidente dever cess-la imediata mente, sob pena de crime de responsabilidade (art. 85, II da CF). O controle poltico dispensado nas hip teses do art. 34, VI e VII da CF, caso em que o decre to se limitar a suspender a execuo do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normali dade. 3. Interveno estadual 3.1. Hipteses: taxativamente previstas no art. 35 da CF. 3.2. Controle exercido pelo Legislativo: caber Assemblia Legislativa estadual o controle do decreto interventivo emitido pelo Governador dos Estados, no prazo de 24h. Dispensa-se o aludido controle quando o Tribunal de Justia der provimento representao para assegurar a observncia de princpios indicados na Constituio Estadual, ou para prover a execuo de lei, de ordem ou de deciso judicial. Link Acadmico 2
Interveno
1. Conceito: perda temporria da autonomia da entida de poltica menos ampla (Estados, Distrito Federal e Municpio), atravs de decreto interventivo editado pelo Chefe do Poder Executivo da entidade federativa mais ampla. As hipteses contidas no art. 34 da CF/88 so taxativas. 2. Interveno Federal 2.1 Hipteses de interveno federal: 2.1.1. Espontnea: art. 34, I, II, III e IV da CF; 2.1.2. Provocada por solicitao: art. 34, IV, c/c 36, I da CF. Cabvel quando a coao ou impedimento recarem sobre os poderes executivo e legislativo locais. Solicita-se diretamente ao presidente; 2.1.3. Provocada por requisio: art. 34, IV, c/c art. 36, II ambos da CF. Se a coao for exercida contra o Poder
Administrao Pblica
1. Conceito: conjunto de rgos e de pessoas jurdicas aos quais a lei atribui o exerccio de funo administra tiva do Estado. 2. Administrao direta: Unio, Estados-Membros, Municpios e Distrito Federal. 3. Administrao indireta: Autarquias, Fundaes, Empresas Pblicas e Sociedades de Economia Mista.
WWW.MEMESJURIDICO.COM.BR
As duas primeiras so entidades de direito pblico, sendo regidas por este; e as demais de direito privado, aplicando-se-lhes as regras da CLT no tocante contratao de pessoal (art. 173, da CF). 4. Princpios 4.1. Legalidade: ao administrador s dado fazer aquilo que est previsto em lei; diferentemente das relaes do mbito entre particulares, em que o princpio aplicvel o da autonomia da vontade. 4.2. Impessoalidade: apareceu pela primeira vez na Constituio Federal de 1988. Previsto de forma implcita no art. 37, 1, da CF/88. 4.3. Moralidade: alado ao patamar de princpio admi nistrativo-constitucional com a CF/88. O controle juris dicional administrativo pode ser operado sob a tica da moralidade (vide art. 5, LXXIII da CF). 4.4. Publicidade: exige ampla divulgao dos atos praticados pela administrao, ressalvadas as hipteses de sigilo previstas em lei. Art. 5, XXXIII c/c LX da CF. O direito informao relativo pessoa garantido pelo Habeas Data, se no, cabvel o Mandado de Segu rana. 4.5. Eficincia: impe ao agente pblico um modo de atuar que produza resultados favorveis consecuo dos fins que cabem ao Estado alcanar. 4.5.1. Caractersticas: direcionamento da atividade e dos servios pblicos efetividade do bem comum; imparcialidade; neutralidade; transparncia; participao e aproximao dos servios pblicos da populao; eficcia; desburocratizao; busca da qualidade. Vide art. 37, 3, CF/88. 5. Regras de observncia obrigatria na Adminis trao Pblica 5.1. Concurso pblico: os cargos, empregos e funes pblicas so acessveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (norma constitucional de eficcia contida), assim como aos estrangeiros, na forma da lei (essa ltima parte do dispositivo encerra norma constitucional de eficcia limitada). A ascenso em cargo ou emprego pblico depende de aprovao prvia em concurso pblico de provas ou de provas e ttulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeaes para cargo em comisso declarado em lei de livre nomeao e exonerao. 5.1.1. A Constituio estabelece no art. 37, II que necessria a aprovao prvia em concurso pblico somente aos que desejam ingressar em cargo e emprego pblicos. Para os que desejam ocupar funo pblica, no necessria a aprovao prvia em concurso; 5.1.2. Os ocupantes de cargo pblico so regidos pelo direito pblico (em regra R. J. nico, hoje no mais obrigatrio em face da previso do art. 39 da CF/88); os ocupantes de emprego pblico so regidos pela CLT, como p.ex. os empregados de sociedades de economia mista e empresas pblicas que exploram atividade econmica (art. 175 da CF/88); os ocupantes de funo pblica so aqueles servidores temporrios (art. 37, IX da CF) e os ocupantes de funes de confiana; 5.1.3. A inobservncia de aprovao prvia em concurso pblico quando obrigatrio, enseja a nulidade do ato, bem como a responsabilidade da autoridade contratante (art. 37, 2 da CF); 5.1.4. O prazo de validade do concurso pblico ser de at dois anos, prorrogvel uma vez, por igual perodo. Durante o prazo improrrogvel previsto no edital de convocao; aquele aprovado em concurso pblico de provas ou de provas e ttulos ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira; 5.1.5. A jurisprudncia do STF firmou-se no sentido de admitir que a lei estabelea limite de idade para o
ingresso no servio pblico, desde que se mostre compatvel com o conjunto de atribuies inerentes ao cargo a ser preenchido (RMS n 144.822-RS); 5.1.6. Tambm consolidou-se no STF entendimento no sentido de considerar inconstitucional lei que opera transformao de cargos, permitindo que os ocupantes dos cargos originrios sejam investidos nos cargos emergentes, de carreira diversa daquela para a qual ingressaram no servio pblico; sendo tambm inconstitucional o aproveitamento como forma de ingresso em outra carreira; 5.1.7. No necessria aprovao prvia em concurso aos que desejam ocupar funo de confiana ou cargo em comisso; aquelas sero exclusivamente exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo; e estes sero preenchidos por servidores de carreira nos casos, condies e percentuais mnimos previstos em lei, destinando-se apenas s atribuies de direo, chefia e assessoramento. 6. Associao sindical: livre somente para o servidor pblico civil. 7. Direito de greve: direito social fundamental assegurado na Constituio aos servidores pblicos civis, mas dependente de lei especfica (ordinria ou complementar). 7.1. entendimento ora consolidado no STF que o art. 37, VII encerra norma constitucional de eficcia limitada, assegurando o direito social de greve, mas no o seu exerccio, que somente poder se operacionalizar atravs de lei especfica, no servindo como norma supletiva a Lei n 7.783/89. Assim, at que seja regulamentado o inciso constitucional, toda greve de servidor pblico considerada ilegal, permitindo-se o desconto dos dias parados. 7.2. Permite-se a greve, ainda que em atividades essenciais, aos empregados pblicos. 7.3. O STF tem adotado a teoria no concretista no julgamento de mandados de injuno contra a inrcia legislativa no art. 37, VII da CF, no podendo o Poder Judicirio regulamentar o direito no caso concreto. Todavia, tal entendimento vem sendo modificado, como se percebe no seguinte verbete: Salientando a necessi da de de se conferir eficcia s decises proferidas pelo Supremo no julgamento de mandados de injuno, o relator reconheceu que a mora, no caso, evidente e incompatvel com o previsto no art. 37, VII, da CF, e que constitui dever-poder deste Tribunal a formao supletiva da norma regulamentadora faltante, a fim de remover o obstculo decorrente da omisso, tornando vivel o exerccio do direito de greve dos servidores pblicos. Aps, pediu vista dos autos o Min. Ricardo Lewandowski. MI 712/PA, rel. Min. Eros Grau, 7.6.2006. (MI-712). 8. Remunerao e subsdio: o subsdio somente ser devido aos membros de poder (art. 39, 4 da CF) e a remunerao aos demais servidores. Ambos so fixados atravs de lei especfica, tendo assegurado o art. 37, X o princpio da periodicidade, o que no enseja majorao remuneratria anual. 8.1. Teto Remuneratrio: o Plenrio do STF deferiu liminar na ADIN 3854 para dar interpretao conforme ao inciso XI e ao pargrafo 12, ambos do artigo 37 da Constituio Federal, para excluir a submisso dos membros da magistratura estadual ao subteto de remunerao, e para suspender a eficcia do artigo 2 da resoluo 13/2006 e pargrafo nico do artigo 1 da resoluo 14/2006, ambos do CNJ. A deciso no aboliu os subtetos constitucionais de subsdios, mas apenas estendeu o mesmo teto de remunerao (a soma do valor dos subsdios mais alguma vantagem funcional reconhecida pela ordem constitucional) das justias federais magistratura estadual. Salientou que o teto remuneratrio a ser aplicado corresponde ao valor do subsdio dos membros do STF. Julgado no dia 28/02/2007. 9. Cumulao de vencimentos no setor pblico: art. 37, XVI da CF. vedada a acumulao remunerada de cargos, empregos e funes pblicos na adminis trao direta e indireta, suas subsidirias e sociedades controladas pelo
Estado, exceto, quando houver compatibilidade de horrios, observado em qualquer caso o teto remuneratrio previsto no art. 37, XI da CF; e ainda sim desde que sejam dois cargos de professor; um de professor com outro, tcnico ou cientfico; ou dois da rea de sade com profisso regulamentada. 9.1. O STF concluiu que no se pode acumular proventos com remunerao na atividade quando os cargos efetivos de que decorrem ambas as remuneraes no sejam acumulveis na atividade. 10. Responsabilidade civil do Estado. 10.1. Teoria adotada pela Constituio: risco administrativo ou teoria objetiva, que comporta as excludentes de fora maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vtima. 10.2. Requisitos: ocorrncia do dano; ao, ainda que lcita; nexo da causalidade entre a ao e a ocorrncia do dano. 10.3. A teoria objetiva ou do risco administrativo somente ser aplicvel s pessoas jurdicas de direito pblico e s de direito privado prestadoras de servios pblicos. Assim, a um banco (BB ou CEF), ainda que pblico, no se aplica tal teoria. 10.3. A jurisprudncia tem se posicionado pela aplicao da teoria subjetiva quando da omisso estatal. 10.4. Direito de regresso: possvel, desde que comprovada a culpa ou o dolo do responsvel pelo dano. 11. Servidor pblico e mandato eletivo: previso legal: art. 38, CF/88. 12. Regra geral de aposentadoria do servidor pblico civil: 12.1. Invalidez permanente: proventos proporcionais ao tempo de contribuio, exceto se decorrente de acidente em servio, molstia profissional ou doena grave, contagiosa ou incurvel, na forma da lei. Sem idade mnima. 12.2. Voluntria: mnimo de 10 anos de efetivo exerccio no servio pblico e cinco anos no cargo efetivo em que se dar a aposentadoria, observado o seguinte: 60 anos de idade e 35 anos de contribuio, se homem (integral) e 55 anos de idade e 30 anos de contribuio, se mulher (integral); 65 anos, se homem e 60 anos, se mulher (proventos proporcionais). 12.3. Compulsria: 70 anos, com proventos propor cionais ao tempo de contribuio. 13. Estabilidade: devida somente para os servidores concursados e ocupantes de cargos de provimento efetivo. 13.1. Requisito de aquisio: art. 41, 4 da CF. 13.2. Perda: art. 41, 1 e 169, 3, da CF/88. Mesmo durante o Estgio probatrio, o servidor concursado no pode ser exonerado nem demitido sem inqurito ou sem as formalidades legais de apurao de sua capacidade. Link Acadmico 3
Poder Legislativo
1. Estrutura: a Constituio Federal adotou o bicameralismo no mbito federal, sendo o Poder Legislativo federal formado pela Cmara dos Deputados (representante do povo) e o Senado Federal (representante dos Estados-Membros e do DF). Nos Estados, Distrito Federal e nos Municpios, o Poder Legislativo unicameral. 1.1. O bicameralismo do Legislativo Federal est intimamente ligado escolha pelo legislador constituinte da forma federativa de Estado, pois no Senado Federal encontram-se de forma paritria, representantes de todos os Estados-Membros e do DF, consagrando-se o equilbrio entre as partes contratantes da Federao,
WWW.MEMESJURIDICO.COM.BR
figurando como clusula ptrea. 2. Funes tpicas: legislar e fiscalizar; esta, com o auxlio do Tribunal de Contas. 3. Funes atpicas: administrar e julgar (ex.: cabe ao Senado Federal processar e julgar o presidente da Repblica pela prtica de crime de responsabilidade. Art. 52, pargrafo nico da CF). A deciso condenatria exarada pelo Senado no comporta recurso, sem ofensa ao princpio do duplo grau de jurisdio, que no um princpio implicitamente contido na Constituio, segundo entendimento consolidado no STF. 4. O Congresso Nacional reunir-se- anualmente na Capital Federal, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1 de agosto a 22 de dezembro. Cada legislatura ter a durao de 4 anos, compreendendo quatro sesses legislativas ou oito perodos legislativos. 5. Competncia do Congresso Nacional: exclusiva a competncia prevista no art. 49 da CF, e tratada atra vs de decreto legislativo. 6. Competncia da Cmara dos Deputados e do Senado Federal: privativa a competncia prevista nos artigos 51 e 52 da CF, respectivamente, e tratada atravs de resoluo do rgo do Poder Legislativo correspondente. 7. Comisses Parlamentares de Inqurito 7.1. Previso legal: art. 58, 3, CF/88. 7.2. Objeto: a investigao deve ter um objeto bem delimitado, devendo concentrar-se em fatos especficos, com apurao por tempo determinado. No entanto, pode haver aditamento do prazo ou do objeto da investigao; sendo todos os atos motivados, diante da previso contida no art. 93, IX da CF. 7.3. Criao: as CPIs sero criadas pela Cmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um tero de seus membros, ou seja, no mnimo, 171 Deputados e 27 senadores, separadamente ou em conjunto. 7.4. Concluses: as CPIs no podem jamais impor penalidades ou condenaes, sendo suas concluses encaminhadas ao Ministrio Pblico, para que, se entender existente elementos, promova a responsabilizao civil ou criminal dos infratores. 7.5. Poderes das CPIs 7.5.1. Possibilidade de quebra do sigilo bancrio, fiscal e de dados (no pode haver investigao que no envolva interesse pblico), inclusive os dados telefnicos. A CPI no tem competncia para decretar a quebra do sigilo da comunicao telefnica (interceptao telefnica), que se encontra dentro da reserva jurisdicional, podendo apenas requerer a quebra de registros telefnicos passados. 7.5.2. Oitiva de testemunhas, com conduo coercitiva; 7.5.3. Realizao de percias e exames necessrios dilao probatria, bem como requisio de documentos e busca de todos os meios de provas legalmente admitidos; 7.5.4. Determinar busca a apreenses. 7.6. Limitaes das CPIs 7.6.1. Decretar quaisquer hipteses de priso, salvo as prises em flagrante delito; 7.6.2. Determinar medidas cautelares; 7.6.3. Proibir ou restringir a assistncia jurdica aos investigados; 7.6.4. Ordenar busca domiciliar, pois o art. 5, XI da CF/88 probe a invaso domiciliar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro, durante o dia ou noite; mas durante o dia, somente por determinao judicial. 7.7. Vedao: a CPI no pode decretar a quebra dos
sigilos de correspondncia e telegrfico, por ser clusula de reserva jurisdicional, prevista no art. 5, XII, CF/88 8. Imunidade Parlamentar 8.1. Origem: freedom of speach (liberdade de palavra) e feedom from arrest (imunidde priso). 8.2. Imunidade Material 8.2.1. Previso Legal: com previso no art. 53, caput, tal imunidade estatui que os parlamentares federais so inviolveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opinies, palavras e votos, desde que proferida em razo de suas funes parlamentares, no exerccio e relacionadas ao mandato, no se restringindo ao mbito do Congresso Nacional. No que toca aos deputados estaduais, a CF/88, prev em seu art. 27, 84 da CF, que aplicam-se as regras previstas retro. Quanto aos vereadores, aplicvel a regra prevista no art. 29, VIII da CF, somente lhes assegurando a imunidade mate rial. 8.2.2. Incio: inicia-se com a posse, impedindo a ao mesmo aps a extino do mandato eletivo. 8.3. Imunidade formal 8.3.1. Previso Legal: prevista no art. 53, 2 da CF, desde a expedio do diploma, os membros do Con gresso Nacional no podero ser presos, salvo em flagrante de crime inafianvel. Nesse caso, os autos sero remetidos dentro de 24h Casa respectiva, para que pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a priso. 8.3.2. Incio: inicia-se a imunidade formal com a diplo mao, alcanando apenas os crimes cometidos aps esta. 8.3.3. Abrangncia: abrange a priso penal e a civil. 8.3.4. Crime praticado antes da diplomao: o parlamentar ser processado pelo STF, sem que este tenha de comunicar a respectiva Casa. Portanto, independem de licena quaisquer processos ou medidas de natureza administrativa, civil ou disciplinar, penal em relao s infraes penais praticadas antes da diplomao. 8.3.5. Crime praticado aps a diplomao: o parla mentar ser processado pelo STF, tendo este de comunicar a respectiva Casa e o trmite processual poder ser suspenso (suspenso tambm da prescrio). 8.4. Para fins de imunidade formal, entende-se como crime comum as contravenes e os crimes eleitorais. 8.5. Renncia: no possvel a renncia da imunidade parlamentar, pois tal prerrogativa decorre da funo exercida e no da figura do parlamentar. 8.6. Perda do mandato: perder o mandato o Deputado ou Senador que infringir qualquer das proibies estabelecidas no art. 54 da CF/88; cujo procedimento for declarado incompatvel com o decoro parlamentar (casos definidos em regimento interno, bem como o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepo de vantagens indevidas); que deixar de comparecer, em cada sesso legislativa, tera parte das sesses ordinrias da Casa a que pertencer, salvo licena ou misso por esta autorizada; que perder ou tiver suspensos os direitos polticos; quando o decretar a Justia Eleitoral; ou quando sofrer condenao criminal em sentena transitada em julgado. 8.7. Parlamentar que licenciado para o exerccio de cargo no Poder Executivo perde a imunidade referente ao exerccio do Poder Legislativo. 9. Foro Privilegiado: Deputados e Senadores, desde a expedio do diploma, sero submetidos a julgamento perante o STF, apanhando os processos em curso. Perdendo o mandato, o parlamentar igualmente perder o foro privilegiado.
oramentria, operacional e patrimonial da Unio e das entidades da administrao direta e indireta, quanto legalidade, legitimidade, economicidade, aplicao das subvenes e renncia de receitas. 2. Estrutura: rgo administrativo, no pertencente aos poderes legislativo ou judicirio, integrado por nove Ministros, no mbito federal (TCU), nomeados trs pelo Presidente da Repblica e seis pelo Congresso Nacional. 3. TCE e TCM: segundo previso do art. 75 da CF/88, os Tribunais de Contas estaduais, distritais e municipais devem obedecer o modelo federal j traado na Constituio. O STF estabeleceu na smula 653 que no Tribunal de Contas estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assemblia Legislativa e trs pelo Chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do MP, e um terceiro sua livre escolha. 4. Funo primordial: o Tribunal de Contas, apesar de o art. 73 da CFfalar em jurisdio, no rgo do Poder Judicirio, cabendo-lhe apenas emitir parecer sobre as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Poder Executivo, bem como a legalidade dos atos de admisso de pessoal, pois quem realmente julga as contas o poder legislativo (CN ou Assemblias Legisla tivas). Em se tratando das contas dos administradores e demais responsveis por dinheiro, bens e valores pblicos da administrao direta e indireta, a competncia para julg-las do Tribunal. 5. Controle das aposentadorias: no exerccio de sua funo constitucional de controle, o TC procede, dentre outras atribuies verificao da legalidade da aposentadoria, e determina a efetivao, ou no, de seu registro. O TC, no desempenho dessa especfica atribuio, no dispe de competncia para proceder a qualquer inovao no ttulo jurdico da aposentao submetido a seu exame. Constatada a ocorrncia de vcio de legalidade no ato concessivo de aposentadoria, torna-se lcito ao TC recomendar ao rgo ou entidade competente que adote as medidas necessrias ao exato cumprimento da lei, evitando, desse modo, a medida radical da recusa do registro. 6. Reviso judicial da deciso do TC: existe possi bilidade de reviso judicial das decises do TC, ante o princpio da inafastabilidade da jurisdio. 7. Devido processo legal: o processo para apurao de responsabilidade, em caso de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas, deve observar o devido processo legal, do qual se irradiam os postulados do contraditrio e da ampla defesa. 8. Controle jurisdicional: no que toca ao mrito de seus atos, no deve haver interferncia do poder judicirio, como a emisso de parecer prvio acerca das contas prestadas pelo Presidente da Repblica (art. 71, I da CF). 9. Controle de constitucionalidade: apesar de a smula 347 do STF estatuir que O Tribunal de Contas, no exerccio de suas atribuies, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder pblico, de controle de constitucionalidade realmente no se trata, posto no ser o TC rgo jurisdicional, cabendolhe apenas a apreciao da inconstitucionalidade e possvel descumprimento de norma federal, estadual ou municipal que atentem contra a Constituio. Link Acadmico 4
Tribunal de Contas
1. Introduo: o sistema dos freios e contrapesos (checks and balances) estabelece um controle a ser feito por todos os trs poderes, reciprocamente. O Tribunal de Contas funciona como rgo auxiliar do poder legislativo, fazendo o controle externo, atravs da fiscalizao contbil, financeira,
Poder Executivo
WWW.MEMESJURIDICO.COM.BR
1. Funo tpica: o rgo Executivo pratica atos de chefia de estado e chefia de governo, ante a opo pelo sistema presidencialista de governo. 2. Funo atpica: legislar, como p.ex. atravs da edio de medidas provisrias e leis delegadas; e julgar, como s ocorrer no contencioso administrativo. 3. Exerccio: exercido pelo Presidente da Repblica, auxiliado pelos Ministros de Estado; na esfera estadual, exercido pelo Governador de Estado, auxiliado pelos Secretrios de Estado; e na esfera municipal, pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretrios Municipais. 4. Eleio, investidura e posse: vide art. 77 e 78 da CF/88, regra que se repete, com temperamento, em nveis estadual e municipal. 5. Atribuies do Presidente: dentre as atribuies previstas no art. 84 da CF/88, as previstas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, podem ser delegadas aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da Repblica ou ao Advogado-Geral da Unio. O inciso VI encerra possibilidade de o Presidente dispor mediante decreto sobre a organizao e funcionamento da administrao federal, quando no implicar aumento de despesa nem criao ou extino de rgos pblicos, bem como extino de funes ou cargos pblicos, quando vagos; em clara exceo regra de que no existe mais na Constituio a previso de decreto autnomo, pois tal ato originrio, e no derivado. 6. Reeleio: possvel, desde que observadas as regras previstas no art. 14, 5 da CF, modificado pela EC 16/97. 7. Vacncia: em se tratando de sucesso definitiva, somente o vice-presidente poder substituir o chefe do Poder Executivo; todavia, sendo a substituio tempor ria, observa-se a regra do art. 80 da CF. Vagando os cargos de Presidente e Vice, far-se- eleio noventa dias depois de aberta a ltima vaga, e se ocorrida nos ltimos dois anos do perodo presidencial, a eleio para ambos os cargos ser feita indiretamente pelo Congresso Nacional, trinta dias depois da ltima vaga. 8. rgos auxiliares do Presidente: Ministros de Estado, Conselho da Repblica e da Defesa Nacional. 9. Responsabilidade do Presidente: as hipteses de prtica de crime de responsabilidade so as contidas no art. 85, cujo rol exemplificativo, com possibilidade de ser elastecido atravs de Lei Federal, como de fato o foi pela Lei n 10.028/00. 10. Impeachment: possui natureza poltica e no penal, sendo observado quando da prtica de crimes de responsabilidade perpetrado pelo Presidente e Vice da Repblica; Ministros de Estado, nos crimes conexos com aqueles praticados pelo Presidente da Repblica; Ministros do STF; membros do CNJ e CNMP; Procurador-Geral da Repblica; AdvogadoGeral da Unio, bem como Governadores. 11. Procedimento: o procedimento comea na Cmara dos Deputados, que autoriza a procedncia ou no da acusao (denncia de qualquer cidado). Caso haja a autorizao, o Senado instaurar o processo sob a presidncia do presidente do STF, e, aps assegurada a ampla de defesa e o contraditrio, sentenciar, observado o quorum de dois teros, atravs de resoluo, limitando-se a condenao perda do cargo e inabilitao para o exerccio de qualquer funo pblica por oito anos, sem prejuzo das demais sanes judiciais cabveis.
11.1. Renncia do cargo: se operada aps a instaurao do processo, no impede o trmite deste. 11.2. A deciso do Senado: no poder ser alterada pelo Poder Judicirio, sob pena de ofensa ao princpio da separao dos poderes. 12. Afastamento das funes: nas infraes penais comuns, a partir do recebimento da denncia ou queixa-crime pelo STF; nos crimes de responsabilidade, com o incio do processo no Senado Federal. 13. Foro privilegiado e imunidade formal: o Presidente da Repblica possui imunidade em relao priso, somente podendo ser recolhido a esta aps o trnsito em julgado de sentena penal condenatria, possuindo foro privilegiado para o julgamento pela prtica de crime comum no STF. Frise-se que tambm nesse ca-so ser necessria a autorizao da Cmara dos Deputados. 14. Irresponsabilidade relativa do Presidente: o Presidente da Repblica, na vigncia de seu mandato, no poder ser responsabilizado por atos estranhos ao exerccio de suas funes. Link Acadmico 5
e Conselhos de Justia Especial e Permanente, nas sedes das Auditorias Militares; e por fim a Justia Militar dos Estados e do D.F., dos Estados e dos Territrios. 5.4. Conselho Nacional de Justia: novidade da EC/45, que criou tal rgo administrativo de controle do Poder Judicirio, competindo-lhe dentre outras atribuies, zelar pela autonomia do Judicirio, podendo expedir atos regulamentares (poder regulamentar), no mbito de sua competncia, ou recomendar providncias; apreciar, de ofcio ou mediante provocao, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou rgos do Poder Judicirio, podendo desconstitu-los ou rev-los; receber e conhecer das reclamaes contra membros ou rgos do Judicirio e rever, de ofcio ou mediante provocao, os processos disciplinares de juzes e membros de tribunais julgados h menos de um ano. 6. Competncia Penal: somente a Justia do Trabalho no a possui, como foi julgado recentemente na ADI 3684 MC/DF, rel. Min. Cezar Peluso, 1.2.2007. (ADI-3684). 7. Juizados Especiais: so integrantes do Poder Judicirio Federal ou Estadual, cuja segunda instncia exercida pelas Turmas Recursais, comportando recurso de suas decises apenas para o STF, se ofendida diretamente norma constitucional e prequestionada a matria. 8. Principais inovaes trazidas pela E/C N 45/04 8.1. STF: compete agora ao STF processar e julgar as aes contra o Conselho Nacional de Justia e contra o Conselho Nacional do Ministrio Pblico, bem como, em recurso extraordinrio julgar vlida lei local contestada em face de lei federal. Em todo caso, quando da apresentao de recurso extraordinrio, o recorrente dever demonstrar a repercusso geral das questes constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei n 11.418/06, a fim de que o Tribunal examine a admisso do recurso, somente podendo recus-lo pela manifestao de dois teros de seus membros. 8.2. Smula vinculante: o STF poder, de ofcio ou por provocao, mediante deciso de dois teros dos seus membros, aps reiteradas decises sobre a matria constitucional, aprovar smula com efeito vinculante em relao aos rgos do Poder Judicirio e administrao pblica direta e indireta, em todas as esferas, observados os critrios de reviso ou cancelamento previstos na lei n 11.417/06. 8.3. STJ: compete ao STJ a homologao de sentenas estrangeiras e a concesso do exequatur s cartas rogatrias, bem como julgar, atravs de recurso especial, ato de governo local contestado em face de lei federal. 8.4. Justia do Trabalho: compete Justia do Trabalho processar e julgar todas as lides decorrentes da relao de trabalho (exceto referente a servidor pblico - ADIN-3395, STF); as aes que envolvam exerccio do direito de greve (exceto matria penal); aes sobre representao sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; os mandados de segurana, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matria sujeita sua jurisdio; as aes de indenizao por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relao de emprego (inclusive as decorrentes de acidente de trabalho); aes relativas s penalidades administrativas impostas aos empregados pelos rgos pblicos de fiscalizao das relaes de trabalho. Link Acadmico 6
Poder Judicirio
1. Funo tpica: jurisdicional. 2. Funes atpicas: administrativa (organizao de suas prprias secretarias, p.ex.) e legislativa, como quando elabora seu prprio regimento interno, e, em se tratando do Poder Judicirio Trabalhista, atravs da prolao de sentenas normativas (art. 114, 2 da CF). 3. Garantias funcionais do Judicirio: vitaliciedade, que no primeiro grau ser adquirida aps dois anos de efetivo exerccio do cargo. Durante o estgio probatrio o juiz que ingressou na carreira atravs de concurso pblico de provas e ttulos como substituto, somente poder perder o cargo atravs da deliberao do tribunal a que estiver vinculado. Possui o membro do Judicirio, tambm, inamovibilidade, somente podendo se afastada tal regra por interesse pblico, fundando-se tal deciso por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa; bem como irredutibilidade de subsdio, salvo descontos legais e observado o teto remuneratrio j estatudo na Constituio. 4. Garantia de imparcialidade: aos juzes vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou funo, salvo uma de magistrio; receber, a qualquer ttulo ou pretexto, custas ou participao em processo; dedicar-se atividade poltico-partidria; receber, a qualquer ttulo ou pretexto, auxlios ou contribuies de pessoas fsicas, entidades pblicas ou privadas, ressalvadas as excees previstas em lei (EC 45/04); bem como exercer a advocacia no juzo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos trs anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exonerao. 5. Estrutura 5.1. Tribunais Superiores: Supremo Tribunal Federal; Superior Tribunal de Justia; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. 5.2. Justia Comum: Justia Federal, composta na primeira instncia dos Juzes Federais e pelos Tribunais Regionais Federais; Justia do Distrito Federal, organi zada pela Unio; e a Justia Estadual Comum, com posta em primeira instncia pelos Juzes Estaduais e em segundo graus pelos Tribunais de Justia. 5.3. Justia Especial: Justia do Trabalho, composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e pelos Juzes do Trabalho; Justia Eleitoral, composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais e Juzes e Juntas Eleitorais; Justia Militar da Unio, formada pelo Superior Tribunal Militar
Funes Essenciais Justia
WWW.MEMESJURIDICO.COM.BR
1. Ministrio Pblico 1.1. Definio: instituio permanente, essencial funo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais indisponveis. 1.2. Princpios institucionais: unidade (a instituio una, sendo a diviso meramente administrativa; todavia, a unidade somente encontrada em relao a cada rgo ministerial); indivisibilidade (um membro do MP pode se fazer substituir por outro, posto que todos representam uma mesma instituio); e independncia funcional (autonomia no exerccio da funo. A hierar quia existe somente quanto ao carter funcional). 1.3. Promotor natural: princpio contido no art. 5, LIII da CF, onde se l que ningum ser processado seno pela autoridade competente. Probe-se a figura do membro do MP ad hoc. 1.4. Garantias institucionais: autonomia funcional, administrativa e financeira. Art. 127, 2 e 3 da CF. 1.5. Garantias relativas aos Membros do MP 1.5.1. Vitaliciedade: adquirida aps passagem pelo estgio probatrio de dois anos, desde que admitido na carreira mediante aprovao em concurso pblico, somente podendo perder o cargo por sentena judicial transitada em julgado. Excepcionalmente, o membro do MP poder no ser vitalcio, mesmo que j tenha ultrapassado o estgio probatrio, preservando to-s a garantia da estabilidade. Essa hiptese ocorre em relao aos membros do MP admitidos antes da promulgao da CF/88 que optarem pelo regime anterior no que disser respeito s garantias e vantagens (art. 29, 3 do ADCT). 1.5.2. Inamovibilidade: segurana de que no ser removido ou promovido, unilateralmente, sem a sua autorizao ou solicitao. Excepcionalmente, todavia, por motivo de interesse pblico, mediante deciso do rgo colegiado competente do MP, por voto da maioria absoluta de seus membros, desde que lhe seja assegurada ampla defesa, poder ser removido do cargo ou funo. 1.5.3. Irredutibilidade de subsdio: assegurada pelo art. 128, 5, I, c da CF, mas observado o teto constitu cional contido no art. 37, X e XI. 1.6. Estrutura: o Ministrio Pblico abrange o MP da Unio, que compreende o MP Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territrios; bem como o MP dos Estados. Aquele tem por chefe o ProcuradorGeral da Repblica e este o Procurador-Geral de Justia. 1.7. Funes: o rol previsto constitucionalmente meramente exemplificativo. 1.8. vedaes constitucionais: receber, a qualquer ttulo ou pretexto, honorrios, percentagens ou custas processuais; exercer a advocacia, participar de sociedade comercial; exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra funo pblica, salvo uma de magistrio; receber contribuies previstas na alnea f do art. 128 da CF; e exercer atividade poltico-partidria. 1.9. MP junto ao TC: o art. 73, 2, I da CF traz a previso em nvel de TCU. O STF entende incabvel aos Estados fixarem nas suas Constituies Estaduais norma no sentido de deslocar membro do MP estadual para o TCE, sendo o art. 75 da CF/88 norma de orga nizao e composio obrigatria para os Estadosmembros e respectivo TCEs. 2. Advocacia Pblica: rgo que representa as entidades federativas judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo correspondente. Na execuo da dvida ativa de natureza tributria, a representao da Unio cabe Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 3. Advocacia e Defensoria Pblica: a primeira
indispensvel administrao da Justia, sendo inviolvel por seus atos e manifestaes no exerccio da profisso; e a segunda instituio essencial funo jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a orientao jurdica e defesa, em todos os graus, dos necessitados do art.5, LXXIV, da CF. Link Acadmico 7
Processo Legislativo
1. Introduo: corolrio do princpio da legalidade e do Estado de Direito, tendo a CF/88 estabelecido todo o processo de elaborao das espcies normativas permitidas no Direito ptrio, de sorte que se ignorado tal procedimento, a norma padecer de inconstitucionalidade formal. O processo para a formao das normas previstas na Constituio Federal, regra de repetio obrigatria nas Constituies Estaduais. 2. Espcies de Processos legislativos 2.1. Quanto forma de organizao poltica: autocrtico, direto, representativo e semidireto (este necessita de referendo popular). 2.2. Quanto seqncia das fases procedimentais: ordinrio (elaborao de lei ordinria), sumrio (art. 64 da CF) e especial. 3. Processo legislativo ordinrio 3.1. Fase introdutria (iniciativa): pode ser parlamen tar ou extraparlamentar; concorrente ou exclusiva. A deteco da competncia da fase introdutria importante para saber onde o projeto de lei iniciar a sua votao. 3.1.1. Iniciativa de Lei do Poder Judicirio: a matria constante dos arts. 96, II e 48, XV ambos da CF. As Constituies Estaduais no podem trazer qualquer modificao norma Constitucional Federal. S o TJ local pode iniciar projeto de lei para alterao no nmero de juzes locais, p.ex. 3.1.2. Iniciativa do Presidente: ao Poder Executivo compete a iniciativa da Lei Oramentria, bem como todas as matrias constantes do art. 61, 81 da CF/88; assim, se um projeto de lei apresentado por parla mentar e trata de matria especificada neste dispositivo, mesmo que aprovado e sancionado posteriormente pelo Presidente da Repblica, estar eivado de inconstitu cionalidade formal. 3.1.3. Iniciativa de Lei do Ministrio Pblico: toda a matria prevista art. 128, 5 e 127, 2, ambos da CF/88. 3.1.4. Iniciativa popular: previso legal contida no art. 61, 2, CF/88. 3.2. Fase Constitutiva: 3.2.1. Deliberao parlamentar: o projeto de lei ordinria federal ser apreciado primeiramente pela Comisso de Constituio e Justia; aps pela Comisso temtica e em seguida pelo plenrio da Casa deliberativa principal, que votar o referido projeto; e, se aprovado, ser enviado para a Casa Revisora e logo aps ao Presidente da Repblica, que poder oferecer sano ou veto ao projeto. a) Se a Casa Revisora houver aprovado o projeto de lei com alteraes, este retornar para apreciao da primeira Casa, que o aprovar ou rejeitar em definitivo. Se rejeitado, ser arquivado. b) Aps a aprovao pelo CN, o projeto de lei seguir para o seu autgrafo, que um instrumento formal formador do texto definitivamente aprovado pelo Poder Legislativo. 3.3. Deliberao Executiva: a sano pode ser expressa ou tcita; total ou parcial, mas o veto (jurdico ou poltico) deve ser sempre motivado e irretratvel. 3.4. Fase Complementar: consubstanciada pela promulgao, que d executoriedade lei, sendo, em regra, feita pelo Presidente e complementada pela publicao, que d notoriedade lei. 4. Medidas Provisrias 4.1. Introduo: com a excluso do antigo decreto-lei, foi abolido pela Constituio de 1988 o decurso de prazo, surgindo a medida provisria, que no lei, mas tem eficcia de, sendo editada, em nvel federal, pelo Pre sidente da Repblica, em caso de relevncia e urgncia, devendo ser submetida imediatamente apreciao do Congresso
Nacional. 4.2. Possibilidade de edio pelos Estadosmembros e Municpios: desde que seja respeitado o modelo traado pela CF/88, possvel. 4.3. Limites materiais: toda a matria contida no art. 62, 1 da CF/88. 4.4. Procedimento para aprovao integral: edio pelo Presidente da Repblica, com prazo de validade de 60 dias, prorrogvel por igual perodo, sendo submetida deliberao do Congresso Nacional, que durante o prazo de sua validade analisar primeiramente a sua constitucionalidade (Comisso Mista, que emitir parecer, antes da apreciao pela Cmara dos Deputados, que deliberar sobre a MP, podendo, inclusive analisar os requisitos de urgncia e relevncia) e em seguida seu mrito (se nos primeiros 45 dias de vigncia da MP ela no for votada, entrar em regime de urgncia); aps a anlise pela Cmara, e aprovao pelo voto da maioria simples desta Casa, segue a MP para o Senado, que deliberar sobre esta, com fases iguais Cmara. Se aprovada a MP, ser transformada em lei de converso, aps promulgao pelo presidente do Senado e publicao pelo Presidente da Repblica. 4.5. MP emendada pela Casa Revisora: o Congresso Nacional, aprovando a MP com alteraes, estar transformando-a em projeto de lei de converso, que ser remetido ao Presidente da Repblica, para que a sancione ou vete. Uma vez sancionado o projeto de lei de converso, o prprio Presidente o promulgar e determinar sua publicao. 4.6. Rejeio expressa da MP pelo CN: uma vez rejeitada expressamente pelo Legislativo, a MP perder seus efeitos retroativamente, cabendo ao CN disciplinar as relaes jurdicas dela decorrentes, no prazo de 60 dias, atravs de decreto legislativo. Ressalte-se que no existe a possibilidade de reedio da MP expressamente rejeitada pelo CN pelo Presidente, segundo entendimento do STF, sob pena de prtica de crime de responsabilidade. 4.7. Rejeio tcita da MP no deliberada no prazo de 60 dias pelo CN: a inrcia do Poder legislativo em analisar a MP no acarreta a sua aprovao pelo decurso de prazo (como existia no antigo decreto-lei). Permite-se, no entanto, uma nica prorrogao pelo prazo de 60 dias, que se o Poder Legislativo continuar silente, a MP perder sua eficcia, impedindo-se a reedio desta na mesma sesso legislativa. 4.8. Suspenso da eficcia: a MP editada sobre lei que trate do mesmo assunto, suspende a eficcia da lei, durante o prazo de sua vigncia. 4.9. Eficcia ultrativa: caso o CN no edite o decreto legislativo no prazo de 60 dias aps a rejeio ou perda de sua eficcia, a MP continuar regendo somente as relaes jurdicas constitudas e decorrentes de atos praticados durante sua vigncia; dessa forma, a CF permite, de forma excepcional e restrita, a permanncia dos efeitos ex tunc de MP expressa ou tacitamente rejeitada. 5. Emendas Constitucionais 5.1. Introduo: apesar de a Constituio de 1988 ter adotado a rigidez de seu texto originrio, permite-se a modificao deste atravs de emendas de reforma. 5.2. Limitaes ao Poder Reformador: 5.2.1. Expressas: so os limites materiais, presentes nas clusulas ptreas contidas no art. 60, 4 da CF; os circunstanciais, previstos no art. 60, 1 da CF; e os formais, relativos ao processo legislativo, presentes no art. 60, I, II e III, 2, 3 e 5 da CF. Segundo en ten di mento do STF a anterioridade tributria tambm clusula ptrea (ADIN n. 939-7/DF). 5.2.2. Implcitas: supresso das expressas e alterao do titular do Poder Constituinte derivado. 5.3. Fase introdutria: art. 60, I, II e III, CF/88. 5.4. Fase constitutiva: deliberao parlamentar. Art. 60, 2 da CF.
WWW.MEMESJURIDICO.COM.BR
5.5. Fase executiva: no h. 5.6. Fase complementar: art. 60, 3 e 5, CF/88. 6. Lei Complementar: diferencia-se da lei ordinria, apenas no tocante matria, que taxativamente prevista na Constituio Federal, enquanto todas as demais matrias podem ser objeto de lei ordinria; bem como pelo aspecto formal, pois o quorum para sua aprovao de maioria absoluta, no seguindo a regra geral contida no art. 47 da CF/88. 7. Lei Delegada: espcie normativa prevista na Constituio Federal. 7.1. Limites materiais: todos os contidos no art. 68, 1, da CF/88. 7.2. Carter temporrio da delegao: no pode ultrapassar uma legislatura, disciplinando o Congresso Nacional a matria objeto da delegao, bem como o prazo, por meio de resoluo. 7.3. Delegao atpica: a resoluo determina que o projeto de elaborao pelo Presidente deva voltar para apreciao do Poder Legislativo. 7.4. Controle repressivo de constitucionalidade operado pelo Poder Legislativo: possibilidade prevista no art. 49, V da CF/88. 8. Decreto Legislativo: espcie normativa destinada a veicular as matrias de competncia exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 da CF), cujo procedimento no est na CF e sim no regimento interno da Casa. 9. Resoluo: ato do Congresso Nacional, da Cmara dos Deputados ou do Senado, destinado a regular as matrias de competncia do CN (as que no so exclusivas) de competncia exclusiva do Senado ou da Cmara, no tendo a CF/88 estabelecido o processo legislativo, cabendo a cada Casa faz-lo. A resoluo pode ter efeito externo, como no caso de resoluo do CN delegando determinada matria ao Presidente. Link Acadmico 8
permite o controle concentrado e difuso. 6. Controle difuso: existente desde a Carta Poltica de 1891, esse tipo de controle pode ser operado por todos os rgos do Poder Judicirio, inclusive ex officio, onde a pronncia sobre a constitucionalidade feita como questo prvia, indispensvel ao julgamento do mrito do caso concreto, submetido a julgamento. 6.1. Deciso: a deciso s tem efeito no caso concreto para isentar o interessado de cumprir lei ou ato normativo considerado inconstitucional, permanecendo o ato vlido em relao a terceiros. Recentemente, dia 01.02.2007, no julgamento da Rcl. 4335/AC, o relator, Min. Gilmar Mendes considerou que, em razo da multiplicao de decises dotadas de eficcia geral e do advento da Lei 9.882/99, alterou-se de forma radical a concepo que dominava sobre a diviso de poderes, tornando comum no sistema a deciso com eficcia geral, que era excepcional sob a EC 16/65 e a CF 67/69. Salientou serem inevitveis, portanto, as reinterpretaes dos institutos vinculados ao controle incidental de inconstitucionalidade, notadamente o da exigncia da maioria absoluta para declarao de inconstitucionalidade e o da suspenso de execuo da lei pelo Senado Federal. Reputou ser legtimo entender que, atualmente, a frmula relativa suspenso de execuo da lei pelo Senado h de ter simples efeito de publicidade, ou seja, se o STF, em sede de controle incidental, declarar, definitivamente, que a lei inconstitucional, essa deciso ter efeitos gerais, fazendo-se a comunicao quela Casa legislativa para que publique a deciso no Dirio do Congresso. Concluiu, assim, que as decises proferidas pelo juzo reclamado desrespeitaram a eficcia erga omnes que deve ser atribuda deciso do STF no HC 82959/SP. Aps, pediu vista o Min.ErosGrau. 6.2. Prequestionamento: alm da necessidade de prequestionamento da matria, o recorrente tambm deve demonstrar a repercusso geral das questes constitucionais discutidas no caso, nos termos da Lei n 11.418/06. 6.3. Efeitos: ex tunc e inter pars. 6.4. Clusula de reserva jurisdicional: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo rgo especial podero os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo (art. 97 da CF/88), sob pena de nulidade da deciso, regra esta que no se aplica ao juiz monocrtico, bem como aos rgos fracionrios dos tribunais. 6.5. Atribuio do Senado: segundo previso do art. 52, X, da CF/88, atravs de resoluo, que ato discricionrio, poder o Senado suspender a eficcia, com efeito ex nunc, de lei declarada definitivamente inconstitucional pelo STF, no lhe cabendo analisar o mrito da deciso este Tribunal. 7. Controle Repressivo Concentrado 7.1. Ao Direta de Inconstitucionalidade: ao de competncia originria do STF, quando o objeto for declarao, em tese, de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual; possuindo a deciso eficcia erga omnes e vinculante, alm de efeito ex tunc. Somente cabvel quando o ato normativo ou a lei estiverem em vigor. 7.1.1. Controle concentrado de lei ou ato normativo municipal ou estadual em face das Constituies Estaduais: permitido, desde que haja previso na CE, sendo a competncia para julgamento da ao do TJ local. 7.1.2. Legitimao: todas as pessoas e entidades previstas no art. 103, I a IX da CF/88, devendo comprovar pertinncia temtica a Mesa da Assemblia Legislativa ou Cmara Legislativa; Governador do Estado; Confederao Sindical e a entidade de classe de mbito nacional. 7.1.3. Advogado-Geral da Unio: deve ser obrigatoriamente citado para defender a norma, independentemente de ser federal ou estadual. 7.2. ADIN interventiva: ajuizada no STF somente pelo Procurador-Geral da Repblica, quando descumprido
pelo Estado ou Distrito Federal, um dos princpios constitucionais sensveis previstos no art. 34, VI e VII c/c art. 36, III, ambos da CF no possuindo controle poltico pelo Congresso Nacional. 7.3. ADIN por omisso: somente cabvel para suprir omisso das normas constitucionais de eficcia limitada e programticas ligadas ao princpio da legalidade estrita. 7.3.1. Legitimados: todos os referidos no item 7.1.2. 7.3.2. AGU: no obrigatria a oitiva do AGU, pois no h ato impugnado a ser defendido. 7.3.3. Deciso do STF: ser dada cincia ao Poder competente para adoo das providncias necessrias e, em se tratando de rgo administrativo, para fazlo em trinta dias, no tendo adotado a Constituio a teoria concretista. 7.4. Ao Declaratria de Constitucionalidade: compete ao STF processar e julgar ADECON de lei ou ator normativo federal, no tendo a Constituio estabelecido expressamente a possibilidade de ajuizamento de tal ao em nvel estadual. A necessidade de comprovao da controvrsia judicial funciona como pressuposto processual especfico. 7.4.1. Objetivo: transferir ao STF a deciso sobre a constitucionalidade de um determinado dispositivo legal. 7.4.2. Legitimidade e pertinncia temtica: vide item 7.1.2. 7.4.3. AGU: no necessria sua oitiva. 7.4.4. Efeito da deciso: efeito ex tunc e eficcia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais rgos do Poder Judicirio e Administrao pblica direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Link Acadmico 9
Controle de Constitucionalidade
1. Introduo: fundamentado no princpio da supremacia da Constituio, permite-se que todas as normas infraconstitucionais sofram controle de constitucionalidade e sejam retiradas no mundo jurdico se confrontarem o Texto Constitucional. A inconstitucionalidade pode ser formal, quando ignorada a forma para elaborao de espcie normativa prevista na Constituio; ou material, quando a norma editada confronta matria contida na Constituio, como p.ex. medida provisria que trata de Direito Penal. 2. Descumprimento da lei ou ato normativo incons titucional pelo Poder Executivo: possvel apenas pelo chefe do Poder Executivo. 3. Espcies: preventivo (feito pelos Poderes Execu tivo, atravs do veto jurdico; e Legislativo, pelas Co misses de Constituio e Justia) e repressivo (ge ralmente feito pelo Poder Judicirio). 4. Controle repressivo feito pelo Poder Legislativo: possibilidade prevista nos art. 49, V da CF, onde cabe ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegao legislativa; bem como no art. 62 da CF/88, cabendo tambm ao Congresso resolver sobre a constitucionalidade da medida provisria, antes de julgar o seu mrito, o que no impede o controle de constitucionalidade a ser feito pelo Poder Judicirio. 5. Controle repressivo feito pelo Poder Judicirio: o Ordenamento Jurdico ptrio adotou o tipo misto, que
A coleo Guia Acadmico o ponto de partida dos estudos das disciplinas dos cursos de graduao, devendo ser complementada com o material disponvel nos Links e com a leitura de livros didticos. Direito Constitucional II 2 edio - 2009 Coordenador: Carlos Eduardo Brocanella Witter, Professor universitrio e de cursos preparatrios h mais de 10 anos, Especialista em Direito Empresarial; Mestre em Educao e Semitica Jurdica; Membro da Associao Brasileira para o Progresso da Cincia; Palestrante; Advogado e Autor de obras jurdicas. Autor: Silvia Teixeira, Advogada, Especialista em Direito, Professora de Direito Constitucional. A coleo Guia Acadmico uma publicao da Memes Tecnologia Educacional Ltda. So Paulo-SP. Endereo eletrnico: www.memesjuridico.com.br Todos os direitos reservados. terminantemente proibida a reproduo total ou parcial desta publicao, por qualquer meio ou processo, sem a expressa autorizao do autor e da editora. A violao dos direitos autorais caracteriza crime, sem prejuzo das sanes civis cabveis.
WWW.MEMESJURIDICO.COM.BR
Você também pode gostar
- Como passar em concurso de Ministério Público EstadualNo EverandComo passar em concurso de Ministério Público EstadualAinda não há avaliações
- Como passar na OAB 1ª Fase: direito penal: 325 questões comentadasNo EverandComo passar na OAB 1ª Fase: direito penal: 325 questões comentadasAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Contratos)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Contratos)Janssen Khallyo100% (3)
- 100 Dicas - Constitucional - Oab XxxviiiDocumento15 páginas100 Dicas - Constitucional - Oab XxxviiiYaná Maia0% (1)
- Como passar na OAB 1ª Fase: direito administrativo: 505 questões comentadasNo EverandComo passar na OAB 1ª Fase: direito administrativo: 505 questões comentadasAinda não há avaliações
- Como passar na OAB 2ª fase: Prática TributáriaNo EverandComo passar na OAB 2ª fase: Prática TributáriaAinda não há avaliações
- Contrato de Locação 2 InquilinosDocumento7 páginasContrato de Locação 2 Inquilinoswellington100% (4)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Obrigações)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Obrigações)Janssen Khallyo100% (2)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Obrigações)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Obrigações)Janssen Khallyo100% (2)
- Como passar na OAB 1ª Fase: direito civil: 385 questões comentadasNo EverandComo passar na OAB 1ª Fase: direito civil: 385 questões comentadasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Processo Civil EspeciaisDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Processo Civil Especiaisjafesp83% (6)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Processo Civil EspeciaisDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Processo Civil Especiaisjafesp83% (6)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Processo Civil EspeciaisDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Processo Civil Especiaisjafesp83% (6)
- Guia Acadêmico - (Direito Constitucional I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Constitucional I)Janssen Khallyo67% (3)
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Execução)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Execução)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Execução)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Execução)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Execução)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Execução)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Geral I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Geral I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Geral I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Geral I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Como Passar em Concursos de Delegado: 2.000 questões comentadasNo EverandComo Passar em Concursos de Delegado: 2.000 questões comentadasAinda não há avaliações
- Como passar em concursos CESPE: direito da criança e do adolescente: 112 questões comentadas de direito da criança e do adolescenteNo EverandComo passar em concursos CESPE: direito da criança e do adolescente: 112 questões comentadas de direito da criança e do adolescenteAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Família)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Família)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Família)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Família)Janssen Khallyo100% (1)
- Lei Do Trabalho Domestico MocambiqueDocumento7 páginasLei Do Trabalho Domestico Mocambiquesabiu100% (2)
- Guia Acadêmico - (Direito Empresarial I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Empresarial I)Janssen Khallyo100% (2)
- Guia Acadêmico - (Direito Empresarial I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Empresarial I)Janssen Khallyo100% (2)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Parte Geral)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Parte Geral)Janssen Khallyo100% (6)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Parte Geral)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Parte Geral)Janssen Khallyo100% (6)
- Guia Acadêmico - (Direito Individual Do Trabalho)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Individual Do Trabalho)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Cautelar)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Cautelar)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Cautelar)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Cautelar)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Cautelar)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Cautelar)Janssen Khallyo100% (1)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Medicina LegalDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Medicina Legaljafesp100% (9)
- Como passar na OAB 1ª Fase: direito processual do trabalho: 185 questões comentadasNo EverandComo passar na OAB 1ª Fase: direito processual do trabalho: 185 questões comentadasAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Empresarial II)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Empresarial II)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Empresarial II)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Empresarial II)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Academico Direito TributarioDocumento12 páginasGuia Academico Direito TributarioalvaroAinda não há avaliações
- Processual Penal-ALFACON PDFDocumento15 páginasProcessual Penal-ALFACON PDFWSousa Sousa100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Consumidor)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Consumidor)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Consumidor)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Consumidor)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Reais Ou Coisas)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Reais Ou Coisas)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Reais Ou Coisas)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Reais Ou Coisas)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Administrativo II)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Administrativo II)Janssen Khallyo100% (2)
- Guia Acadêmico - (Prática I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Prática I)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Prática I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Prática I)Janssen Khallyo100% (1)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Sucessões)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Sucessões)Janssen Khallyo33% (3)
- Guia Acadêmico - (Direito Civil - Sucessões)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Civil - Sucessões)Janssen Khallyo33% (3)
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - Conhecimento)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - Conhecimento)Janssen Khallyo100% (1)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Laboratório de Prática Jurídica III - PenalDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Laboratório de Prática Jurídica III - Penaljafesp100% (4)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Direito Da Criança e Do AdolescenteDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Direito Da Criança e Do Adolescentejafesp100% (4)
- Direito Processual Penal - Oab 1ª Fase: Gabaritando O Exame Com Foco Na Letra Da LeiNo EverandDireito Processual Penal - Oab 1ª Fase: Gabaritando O Exame Com Foco Na Letra Da LeiAinda não há avaliações
- Contrato de Parceria Koetz AdvocaciaDocumento2 páginasContrato de Parceria Koetz AdvocaciaGabrielle RoccheAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do Direito-Guia AcademicoDocumento6 páginasIntrodução Ao Estudo Do Direito-Guia AcademicomarcelljulianeAinda não há avaliações
- Direito Penal: Apostilas para Concursos Públicos, #1No EverandDireito Penal: Apostilas para Concursos Públicos, #1Ainda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Administrativo I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Administrativo I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Administrativo I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Administrativo I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Direito Internacional PrivadoDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Direito Internacional Privadojafesp100% (7)
- Campus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Direito Internacional PrivadoDocumento6 páginasCampus Virtual Memes - Guia Acadêmico Direito - Direito Internacional Privadojafesp100% (7)
- A Ineficácia do Direito Penal Tributário: A Utilização do Direito Penal como Instrumento de Cobrança de TributoNo EverandA Ineficácia do Direito Penal Tributário: A Utilização do Direito Penal como Instrumento de Cobrança de TributoAinda não há avaliações
- Demo - Temas de Redação para Área PolicialDocumento19 páginasDemo - Temas de Redação para Área PolicialRodrigo Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Especiall I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Direito Penal - Parte Especiall I)Janssen Khallyo100% (2)
- Guia Academico Direito Constitucional IDocumento4 páginasGuia Academico Direito Constitucional Imother monsterAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Penal I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Penal I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Penal I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Penal I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Penal I)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Penal I)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Civil - TGP)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Civil - TGP)Janssen Khallyo100% (2)
- Resumo Elementos de Direito Constitucional - MIchel TemerDocumento12 páginasResumo Elementos de Direito Constitucional - MIchel TemerAndre LacerdaAinda não há avaliações
- Venda A RetroDocumento14 páginasVenda A RetroSara Moniz Carneiro100% (1)
- A Cobertura Jornalística Dos Processos CriminaisDocumento61 páginasA Cobertura Jornalística Dos Processos CriminaisBianca Monteiro de CastroAinda não há avaliações
- Modelo de Consignação em PagamentoDocumento5 páginasModelo de Consignação em PagamentoFlorduardo Oliveira ThomazAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Penal II)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Penal II)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Como passar na OAB 1ª Fase: 4.000 questões comentadasNo EverandComo passar na OAB 1ª Fase: 4.000 questões comentadasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Direito Constitucional - Estudos Dirigidos3Documento4 páginasDireito Constitucional - Estudos Dirigidos3Valdecir GarreAinda não há avaliações
- Constituição Federal - Competência Da UniãoDocumento6 páginasConstituição Federal - Competência Da UniãoLucario gameAinda não há avaliações
- MI CorrigidaDocumento10 páginasMI CorrigidaJosue AmaralAinda não há avaliações
- IntervençãoDocumento25 páginasIntervençãoAle is backAinda não há avaliações
- 02 DIREITO CONSTITUCIONAL 2 - AcadêmicoDocumento37 páginas02 DIREITO CONSTITUCIONAL 2 - AcadêmicoEduarda SilvaAinda não há avaliações
- Intervenção FederalDocumento9 páginasIntervenção FederalOreste Dallocchio Neto100% (1)
- Direito Constitucional - Mapa Mental 41° ExameDocumento9 páginasDireito Constitucional - Mapa Mental 41° ExameMyrianlopes LopesAinda não há avaliações
- Direito Penal GeralDocumento33 páginasDireito Penal GeralnataliamedellabfAinda não há avaliações
- Dir Const 4Documento45 páginasDir Const 4Guilherme BastosAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Penal II)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Penal II)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Proc. Penal II)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Proc. Penal II)Janssen KhallyoAinda não há avaliações
- Guia Acadêmico - (Responsabilidade Civil)Documento6 páginasGuia Acadêmico - (Responsabilidade Civil)Janssen Khallyo100% (1)
- Despersonificação Da Personalidade JuridicaDocumento7 páginasDespersonificação Da Personalidade JuridicaAlexandre CoelhoAinda não há avaliações
- Dotrina de DireitoDocumento43 páginasDotrina de Direitopedro jorgeAinda não há avaliações
- Tiago Araujo Marques PDFDocumento37 páginasTiago Araujo Marques PDFjohnwlkAinda não há avaliações
- Acórdão Mandado Segurança Sindicato UniãoDocumento23 páginasAcórdão Mandado Segurança Sindicato UniãoJoao das CovesAinda não há avaliações
- TCC - Leonardo Silva de Oliveira Malta - Alienacao ParentalDocumento22 páginasTCC - Leonardo Silva de Oliveira Malta - Alienacao ParentalLeonardoAinda não há avaliações
- ?? Jornal de Angola - Edição 02 de Junho 2020Documento32 páginas?? Jornal de Angola - Edição 02 de Junho 2020Manuel RibeiroAinda não há avaliações
- Direito Penal e Segurança PúblicaDocumento53 páginasDireito Penal e Segurança PúblicaRaphael100% (1)
- Resumo Do Texto Etica No TurismoDocumento3 páginasResumo Do Texto Etica No TurismoKelly RochaAinda não há avaliações
- Direito Constitucional PenalDocumento103 páginasDireito Constitucional PenalAlan SamyrAinda não há avaliações
- Agravo de Instrumento Contra Inversão Do Onus Da ProvaDocumento185 páginasAgravo de Instrumento Contra Inversão Do Onus Da ProvaMano Manu Manuca ManolitoAinda não há avaliações
- Modalidades Da Culpa - Direito CivilDocumento5 páginasModalidades Da Culpa - Direito CivilKessy AguiarAinda não há avaliações
- Manual de Capacitação Multidisciplinar - Lei Maria Da PenhaDocumento242 páginasManual de Capacitação Multidisciplinar - Lei Maria Da PenhaVinicius SantanaAinda não há avaliações
- Cartilha Do Associativismo e Cooperativismo EmaterDocumento24 páginasCartilha Do Associativismo e Cooperativismo EmaterElysLimaAinda não há avaliações
- RESENHA CRÍTICA - Crime e CastigoDocumento3 páginasRESENHA CRÍTICA - Crime e CastigoLuiza Fidalgo100% (2)
- AULA 01 - Lei 8.112 1990 e AlteraçõesDocumento122 páginasAULA 01 - Lei 8.112 1990 e AlteraçõesMarcela Suelen FerreiraAinda não há avaliações
- Atividade de Tributário RespondidaDocumento5 páginasAtividade de Tributário RespondidaMarisa MartinsAinda não há avaliações
- Estados CompostosDocumento11 páginasEstados CompostosJader SaraivaAinda não há avaliações
- Escusa de ConsciênciaDocumento20 páginasEscusa de Consciênciaaluno_facipeAinda não há avaliações
- Agente Penitenciario 10.10Documento10 páginasAgente Penitenciario 10.10WesleyAntônioAinda não há avaliações
- Expressões Jurídicas Latinas Aplicadas Ao Cotidiano ForenseDocumento99 páginasExpressões Jurídicas Latinas Aplicadas Ao Cotidiano ForenseEBMAinda não há avaliações
- Kleber Augusto Gabriel - Artigo - ETIC - 2011Documento4 páginasKleber Augusto Gabriel - Artigo - ETIC - 2011arcorealAinda não há avaliações
- Questões OABDocumento12 páginasQuestões OABcadansiqAinda não há avaliações
- Lei Nº 6.783, de 16OUT1974 - Estatuto Dos Policiais Militares-1Documento45 páginasLei Nº 6.783, de 16OUT1974 - Estatuto Dos Policiais Militares-1betodatotorreAinda não há avaliações