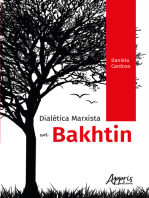Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teoria Enunciado Bakhtin
Teoria Enunciado Bakhtin
Enviado por
lidyanneCDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Plano Aulas de BabyclassDocumento33 páginasPlano Aulas de BabyclassAline Souza100% (3)
- Introdução à linguística: fundamentos epistemológicosNo EverandIntrodução à linguística: fundamentos epistemológicosAinda não há avaliações
- Editor Conselho Editorial: TraduçãoDocumento12 páginasEditor Conselho Editorial: TraduçãoWendell SenaAinda não há avaliações
- Ifá Divination William Bascom TraduzidoDocumento82 páginasIfá Divination William Bascom TraduzidoMarcio Auler100% (6)
- Pensadores da análise do discurso: Uma introduçãoNo EverandPensadores da análise do discurso: Uma introduçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Análise de Discurso Aula 1Documento16 páginasAnálise de Discurso Aula 1Renata Fonseca SiqueiraAinda não há avaliações
- Linguagem Diálogo As Ideias Linguisticas Do Círculo de Bakhtin by Carlos Alberto FaracoDocumento162 páginasLinguagem Diálogo As Ideias Linguisticas Do Círculo de Bakhtin by Carlos Alberto FaracoMaria Paula100% (2)
- Bakhtin - para Uma Filosofia Do Ato ResponsávelDocumento157 páginasBakhtin - para Uma Filosofia Do Ato ResponsávelClecio100% (1)
- Pesquisar Na Diferença: Um AbecedárioDocumento264 páginasPesquisar Na Diferença: Um Abecedáriochristrombjerg100% (1)
- Ernesto Faria - Gramática Superior Da Língua LatinaDocumento530 páginasErnesto Faria - Gramática Superior Da Língua LatinaClarice Virgilio100% (1)
- PRETI, Dino - Fala e Escrita em QuestãoDocumento252 páginasPRETI, Dino - Fala e Escrita em QuestãoIvonete NinkAinda não há avaliações
- A Semiótica e o Círculo de Bakhtin: A Polifonia em DostoiévskiNo EverandA Semiótica e o Círculo de Bakhtin: A Polifonia em DostoiévskiAinda não há avaliações
- O althusserianismo em Linguística: A teoria do discurso de Michel PêcheuxNo EverandO althusserianismo em Linguística: A teoria do discurso de Michel PêcheuxAinda não há avaliações
- A Relevancia Da Pragmatica Na Pragmatica Da RelevanciaDocumento136 páginasA Relevancia Da Pragmatica Na Pragmatica Da RelevanciaSarau Literarua100% (1)
- Livree em PDF Adail Sobral - Do Dialogismo Ao Gênero - As Bases Do Pensamento Do Círculo de BakhtinDocumento99 páginasLivree em PDF Adail Sobral - Do Dialogismo Ao Gênero - As Bases Do Pensamento Do Círculo de BakhtinSimone Padilha100% (2)
- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações
- O Conceito de Linguagem em BakhtinDocumento20 páginasO Conceito de Linguagem em BakhtinRAFAELAinda não há avaliações
- Entrevista - Paul HenryDocumento1 páginaEntrevista - Paul HenryLuiz Francisco DiasAinda não há avaliações
- Gêneros Textuais, Tipificação e InteraçãoDocumento3 páginasGêneros Textuais, Tipificação e InteraçãoMonahyr CamposAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso Na Contemporaneidade Cartografias Discursivas PDFDocumento310 páginasAnálise Do Discurso Na Contemporaneidade Cartografias Discursivas PDFJulio Cezar100% (5)
- Discurso e Análise Do DiscursoDocumento192 páginasDiscurso e Análise Do DiscursoRômulo ReinaldoAinda não há avaliações
- Representações do outro: Discurso, (des)igualdade e exclusãoNo EverandRepresentações do outro: Discurso, (des)igualdade e exclusãoAinda não há avaliações
- Gregolin HeterotopiaDocumento14 páginasGregolin HeterotopiaDCavalcante FernandesAinda não há avaliações
- MAINGUENEAU - Argumentação e Análise Do Discurso PDFDocumento28 páginasMAINGUENEAU - Argumentação e Análise Do Discurso PDFGabriel100% (1)
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDocumento57 páginasRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Circulo de Bakhtin - Alteridade, Dialogo e DialeticaDocumento400 páginasCirculo de Bakhtin - Alteridade, Dialogo e DialeticaGraziella Steigleder GomesAinda não há avaliações
- Conceitos Fundadores, Procedimentos Metodológicos e Interdisciplinares Nas Pesquisas em Análise Do DiscursoDocumento45 páginasConceitos Fundadores, Procedimentos Metodológicos e Interdisciplinares Nas Pesquisas em Análise Do Discursomirelebrant100% (1)
- Livro SemanticaDocumento182 páginasLivro SemanticaMariaLuiza23100% (3)
- Referenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemNo EverandReferenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemAinda não há avaliações
- Discurso e Ensino PDFDocumento253 páginasDiscurso e Ensino PDFeu_riqueAinda não há avaliações
- As Teorias Enunciativas e A Linguística No Brasil. O Lugar de BenvenisteDocumento13 páginasAs Teorias Enunciativas e A Linguística No Brasil. O Lugar de BenvenisteFelipe ChevarriaAinda não há avaliações
- Glossário Termos de BakhtinDocumento20 páginasGlossário Termos de BakhtinVanvanmvssAinda não há avaliações
- Sociolinguistica EducacionalDocumento10 páginasSociolinguistica EducacionalChristopher MarcelAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilDocumento18 páginasORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilEDisPALAinda não há avaliações
- 04 A A Variacao Linguistica Nos Livros DidaticosDocumento7 páginas04 A A Variacao Linguistica Nos Livros DidaticosadrianasierAinda não há avaliações
- Análises em (Dis) Curso - Perspectivas, Leituras, Diã¡logos PDFDocumento444 páginasAnálises em (Dis) Curso - Perspectivas, Leituras, Diã¡logos PDFLane Lima100% (1)
- Estudos de Linguagem: Léxico e DiscursoNo EverandEstudos de Linguagem: Léxico e DiscursoAinda não há avaliações
- Discursos Constituintes (Jarbas Nascimento Et Al)Documento185 páginasDiscursos Constituintes (Jarbas Nascimento Et Al)Victor Vasconcellos100% (2)
- Entre A Mémória e o DiscursoDocumento132 páginasEntre A Mémória e o DiscursoEverton Demetrio100% (2)
- As Condições de Produção Do DiscursoDocumento2 páginasAs Condições de Produção Do DiscursoJuliana SilveiraAinda não há avaliações
- Concepções de Linguagem e Ensino de Portugues TravagliaDocumento2 páginasConcepções de Linguagem e Ensino de Portugues TravagliaElisa BeniciaAinda não há avaliações
- Síntese Das Aulas e Do Livro Estudos Do Discurco Perspectivas TeóricasDocumento9 páginasSíntese Das Aulas e Do Livro Estudos Do Discurco Perspectivas TeóricasDomingos Bezerra Lima FilhoAinda não há avaliações
- Van Dijk - Análise Crítica Do DiscursoDocumento10 páginasVan Dijk - Análise Crítica Do DiscursoHélvio Tolentino100% (1)
- Análise Do Discurso 1Documento480 páginasAnálise Do Discurso 1Anonymous 7lzlsp100% (2)
- Texto 03 - Linguística-De Texto o Que É Como Se FazDocumento100 páginasTexto 03 - Linguística-De Texto o Que É Como Se FazSean MardemAinda não há avaliações
- AMOSSY Ruth. Argumentacao e Analise Do D PDFDocumento18 páginasAMOSSY Ruth. Argumentacao e Analise Do D PDFfortunato_Ainda não há avaliações
- Pilati, E. (2017) Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa-CompressedDocumento68 páginasPilati, E. (2017) Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa-Compressedvsellito100% (1)
- Moita Lopes 2003 PDFDocumento16 páginasMoita Lopes 2003 PDFJakelliny AlmeidaAinda não há avaliações
- Estereótipos e Imaginários Sociodiscursivos - CHARAUDEAUDocumento21 páginasEstereótipos e Imaginários Sociodiscursivos - CHARAUDEAUDan MaViAlAinda não há avaliações
- STREET, B. Letramentos Sociais - ResenhaDocumento10 páginasSTREET, B. Letramentos Sociais - ResenhaDenilson Lopes100% (2)
- Leitura e Producao de Textos II PDFDocumento44 páginasLeitura e Producao de Textos II PDFKeity DiasAinda não há avaliações
- FARACODocumento8 páginasFARACOFelipp Santana100% (1)
- Kenedy Linguística GerativismoDocumento268 páginasKenedy Linguística GerativismoTayse MarquesAinda não há avaliações
- Ebook - Procad. - Foucault, Maingueneau, PêcheuxDocumento353 páginasEbook - Procad. - Foucault, Maingueneau, PêcheuxRodrigo Seixas100% (2)
- Semantica e AprendizagemDocumento60 páginasSemantica e Aprendizagemsilvinholira100% (3)
- Analise Do DiscursoDocumento7 páginasAnalise Do DiscursoAlice MartinsAinda não há avaliações
- Multiplos Olhares para A Educacao Basica PDFDocumento300 páginasMultiplos Olhares para A Educacao Basica PDFJeimes De Oliveira Paiva100% (1)
- A Questão Do Assujeitamento Eni OrlandiDocumento3 páginasA Questão Do Assujeitamento Eni OrlandiMirele UrtigaAinda não há avaliações
- E-Book - Multimodalidade Nos Discursos Contemporâneos - GP MultiSemioTicsDocumento750 páginasE-Book - Multimodalidade Nos Discursos Contemporâneos - GP MultiSemioTicsJOSE IDESIO RIBEIRO COUTOAinda não há avaliações
- 1600173156gramatica SiteDocumento10 páginas1600173156gramatica Sitejeremy_enigmaAinda não há avaliações
- (Diretrizes Pedagogicas) Educacao Infantil 2023 - FINAL - 24janDocumento30 páginas(Diretrizes Pedagogicas) Educacao Infantil 2023 - FINAL - 24janÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Atv. o Medo e A CoragemDocumento2 páginasAtv. o Medo e A CoragemÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Calendario Julho 2023 Cherry - 4997Documento1 páginaCalendario Julho 2023 Cherry - 4997Áquila RibeiroAinda não há avaliações
- Medico ObstetraDocumento8 páginasMedico ObstetraÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- EDITAL 71 2023 Prof SUBSTITUTO PEDAGOGIA 2023 FinalDocumento48 páginasEDITAL 71 2023 Prof SUBSTITUTO PEDAGOGIA 2023 FinalÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- PNAICDocumento2 páginasPNAICÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- PNAICDocumento2 páginasPNAICÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Tese Vigotski e ArteDocumento294 páginasTese Vigotski e ArteÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Árvore Do Saber - Cultura e EducaçãoDocumento11 páginasÁrvore Do Saber - Cultura e EducaçãoerminiAinda não há avaliações
- COSTA, Marisa Vorraber e Outros. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia PDFDocumento26 páginasCOSTA, Marisa Vorraber e Outros. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia PDFÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Etnografia - SeminárioDocumento54 páginasEtnografia - SeminárioCaio Henrique SantosAinda não há avaliações
- Teste Dos MaiasDocumento3 páginasTeste Dos MaiasRituchaa100% (1)
- Redação 8 Ano-2 Bim-2020Documento2 páginasRedação 8 Ano-2 Bim-2020andrealbuqueAinda não há avaliações
- Raciocínio Lógico - QUESTOES - DE - RACIOCINIO - LOGICODocumento12 páginasRaciocínio Lógico - QUESTOES - DE - RACIOCINIO - LOGICOGirlene MedeirosAinda não há avaliações
- Fichamento Capítulo 1: Lévi-Strauss, 2008 - Antropologia EstruturalDocumento8 páginasFichamento Capítulo 1: Lévi-Strauss, 2008 - Antropologia EstruturalGabriel Cabral BernardoAinda não há avaliações
- Concurso CEL 5º Ano - Ficha 4Documento2 páginasConcurso CEL 5º Ano - Ficha 4Fernanda BarrosAinda não há avaliações
- Polícia Civil - MG - 2008 - Resolução ComentadaDocumento15 páginasPolícia Civil - MG - 2008 - Resolução ComentadaRobson Timoteo DamascenoAinda não há avaliações
- Redação Oficial - Teoria Básica - Parte I - ProvisorioDocumento26 páginasRedação Oficial - Teoria Básica - Parte I - ProvisorioJairo MarianoAinda não há avaliações
- Fichamento Ensino PragmáticoDocumento17 páginasFichamento Ensino Pragmático202110407Ainda não há avaliações
- 7419 o Caminho Da Deusa by Esmeralda Grunglasse1Documento159 páginas7419 o Caminho Da Deusa by Esmeralda Grunglasse1Danusa Pereira NascimentoAinda não há avaliações
- Roteiro de Praticas Lab de Eletricidade 2018 PDFDocumento104 páginasRoteiro de Praticas Lab de Eletricidade 2018 PDFDaniel RodriguesAinda não há avaliações
- Aids e Religioes Tania Mara SampaioDocumento20 páginasAids e Religioes Tania Mara SampaioDyego CarlosAinda não há avaliações
- Enem Prova1 23 05 2021 ResoluçãoDocumento60 páginasEnem Prova1 23 05 2021 ResoluçãoJoao OliveiraAinda não há avaliações
- Complementos Do Nome e AdjetivoDocumento9 páginasComplementos Do Nome e AdjetivoMatilde HenriqueAinda não há avaliações
- Catálogo - Cinemateca Portuguesa Cineastas Do Nosso TempoDocumento16 páginasCatálogo - Cinemateca Portuguesa Cineastas Do Nosso TempolaecioricardoAinda não há avaliações
- FATTORI, Anita. Atuação de Mulheres Assírias Nas Redes de Comércio Interregional Do II Milênio AECDocumento26 páginasFATTORI, Anita. Atuação de Mulheres Assírias Nas Redes de Comércio Interregional Do II Milênio AECG. MateusAinda não há avaliações
- Ficha Exercícios Nº01 NúmerosComplexos ALGA 2023Documento2 páginasFicha Exercícios Nº01 NúmerosComplexos ALGA 2023Augusto Joaquim JorgeAinda não há avaliações
- ANEXO-3-Modelo-do-Plano-de-Aula RedDocumento3 páginasANEXO-3-Modelo-do-Plano-de-Aula RedKaline OliveiraAinda não há avaliações
- Frases Complexas (Revisão Geral)Documento9 páginasFrases Complexas (Revisão Geral)Glauco SouzaAinda não há avaliações
- Apostila Interface Com Banco de Dados PDFDocumento97 páginasApostila Interface Com Banco de Dados PDFSandro CardosoAinda não há avaliações
- Gabarito CFS 1 e 2-2012Documento23 páginasGabarito CFS 1 e 2-2012Fernando FernandesAinda não há avaliações
- Obras de Rui BarbosaDocumento136 páginasObras de Rui BarbosaRaimundo FilhoAinda não há avaliações
- 8 Ano 0802Documento3 páginas8 Ano 0802Thais SantosAinda não há avaliações
- Cronograma - Língua Brasileira de SinaisDocumento2 páginasCronograma - Língua Brasileira de SinaisMichael CristianAinda não há avaliações
- Apostila Conjuntos 1Documento13 páginasApostila Conjuntos 1Fabio BarrosAinda não há avaliações
- BNCC Anos FinaisDocumento7 páginasBNCC Anos FinaisMegAinda não há avaliações
- Textos de ImprensaDocumento8 páginasTextos de Imprensaelsagiraldo100% (14)
Teoria Enunciado Bakhtin
Teoria Enunciado Bakhtin
Enviado por
lidyanneCTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teoria Enunciado Bakhtin
Teoria Enunciado Bakhtin
Enviado por
lidyanneCDireitos autorais:
Formatos disponíveis
INTRIA A TIRIA
ININCIA CNCRIT
CIRCII AIHTIN/VICHINV/ MIVIIV
USP UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Re it or: Prof. Dr. Adolpho Jos Melfi
Vic e -Re it or: Prof. Dr. Hlio Nogueira da Cruz
FFLCH FACULDADE DE FILOSOFIA,
LETRAS E CINCIAS HUMANAS
Dire t or: Prof. Dr. Francis Henrik Aubert
Vic e -Dire t or: Prof. Dr. Renato da Silva Queiroz
CONSELHO EDITORIAL ASSESSOR DA HUMANITAS
Pres ident e: Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento (Filosofia)
Membros : Prof. Dr. Lourdes Sola (Cincias Sociais)
Prof. Dr. Carlos Alberto Ribeiro de Moura (Filosofia)
Prof. Dr. Sueli Angelo Furlan (Geografia)
Prof. Dr. Elias Thom Saliba (Histria)
Prof. Dr. Beth Brait (Letras)
DEPARTAMENTO DE LINGSTICA
Che fe : Prof. Dr. Diana Luz Pessoa de Barros
Suple nt e : Prof. Dr. Esmeralda Vailati Negro
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM LINGSTICA
Coorde nadora: Prof. Dr. Margarida Maria Taddoni Petter
Vi c e -Coorde nadora: Prof. Dr. Ana Lcia de Paula Mller
Vendas
LIVRARIA HUMANITAS-DISCURSO
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 Cid. Universitria
05508-900 So Paulo SP Brasil
Tel: 3091-3728 / 3091-3796
HUMANITAS DISTRIBUIO
Rua do Lago, 717 Cid. Universitria
05508-900 So Paulo SP Brasil
Telefax: 3091-4589
e-mail: pubfflch@edu.usp. br
http://www.fflch.usp. br/humanitas
Humanitas FFLCH/USP abril 2002
FFLCH/USP
2002
INTRIA A TIRIA
ININCIA CNCRIT
CIRCII AIHTIN/VICHINV/ MIVIIV
2" ediao
Ge-a/do Tadeu Sou:a
ISBN 85-7506-060-0
UNIVERSIDADE DE SO PAULO FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS
Copyright 2002 da Humanitas FFLCH/USP
proibida a reproduo parcial ou integral,
sem autorizao prvia dos detentores do copyright
Servio de Biblioteca e Documentao da FFLCH/USP
Ficha catalogrfica: Mrcia Elisa Garcia de Grandi CRB 3608
S715 Souza, Geraldo Tadeu
Introduo teoria do enunciado concreto do crculo Bakhtin/
Volochinov/Medvedev / Geraldo Tadeu Souza.- 2. ed. - So Paulo :
Humanitas/FFLCH/USP, 2002.
149 p.
Originalmente apresentado como dissertao (mestrado) do
autor Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas/USP.
ISBN S5-7506-060-0
1. Lingstica 2. Metalingstica 3. Bakhtin, Mikhail
Mikhailovich 4. Enunciados 5. Gneros narrativos I. Ttulo
CDD 410
CDD 320.1
Editor Responsvel
Prof. Dr. Milton Meira do Nascimento
Coordenao editorial e capa
M. Helena G. Rodrigues MTb n. 28.840
Projeto Grfico e Diagramao
Selma M. Consoli Jacintho MTb n. 28.839
Reviso
do autor
HUMANITAS FFLCH/USP
e-mail: editflch@edu.usp. br
Telefax.: 3091-4593
A meus pais
A Vera
A Kim e ao Caque
Agradecinenios
Este trabalho foi apresentado como dissertao de mes-
trado ao Departamento de Lingstica da Faculdade de Filoso-
fia, Letras e Cincias Humanas da Universidade de So Paulo,
em abril de 1997.
Gostaramos de agradecer aos Professores Doutores Irene
Machado e Jos Luiz Fiorin pelas contribuies e apreciao cr-
tica enquanto membros da banca examinadora e, ainda, ao Prof.
Dr. Boris Schnaiderman pela ajuda no cotejo com a edio russa
de algumas obras do Crculo e pela prosa sempre enriquecedora.
Agradecemos tambm CAPES (Coordenao de Aperfei-
oamento de Pessoal de Nvel Superior) pela bolsa de estudos que
nos possibilitou executar esta dissertao e, especialmente, Prof.
Dra. Elisabeth Brait que nos iniciou e orientou nas trilhas do
pensamento do Crculo.
Snnario
Prolclo ------------------------------------------------------------------- ii
Introduo -------------------------------------------------------- 13
I - O Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev ----------------- 19
1. Os textos disputados ------------------------------------- 24
2. O percurso terico ---------------------------------------- 28
3. O problema da traduo --------------------------------- 42
ll - A Llngungom -------------------------------------------------------- 55
1. O subjetivismo idealista, o objetivismo abstrato
e o enunciado concreto ----------------------------------- 58
2. A frase e o enunciado concreto -------------------------- 68
3. O enunciado concreto como base material da
Metalingstica: o dialogismo ---------------------------- 73
III - A Teoria do Enunciado Concreto -------------------------- 85
1. Gneros do Discurso ------------------------------------- 97
2. Tema ------------------------------------------------------ 108
3. Expressividade ------------------------------------------ 116
4. Estilos ---------------------------------------------------- 123
5. Entonaes ---------------------------------------------- 129
Consideraes Finais ------------------------------------------ 137
Bibliografia do Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev --- 143
Bibliografia Geral ----------------------------------------------- 147
11
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
IreIacio
Em meio s vozes que assediam Bakhtin, uma pes-
quisa terica pertinente e original
Beth Brait
(USP/ PUC-SP)
A obra do pensador russo Mikhail Bakhtin tem sido, desde
h alguns anos, objeto da ateno em vrias reas do conheci-
mento. Esse interesse, gradativo e multifacetado, advm da ri-
queza de uma concepo de linguagem que pouco a pouco deixa
ver sua amplitude e suas aberturas para o contato com as infini-
tas nervuras que constituem as relaes homem-mundo. E nesse
conjunto que preciso localizar a importncia do trabalho de
Geraldo Tadeu Souza, inicialmente uma tese de mestrado que
agora, merecidamente, se transforma em livro, um objeto cultu-
ral cujas formas de circulao possibilitam uma repercusso mais
compatvel com a profundidade da pesquisa.
preciso, antes de falar do trabalho em si, e a todos sabem
que o prefcio uma pretensiosa antecipao do que est muito
melhor no texto, dizer que o interesse de Geraldo por Bakhtin e por
seu crculo comea bem antes do mestrado e est tendo continui-
dade no doutorado, o que pode dimensionar a motivao para esse
olhar com lupa sobre uma obra que, na maioria das vezes, serve,
especialmente num mestrado, como a simples pretexto para leitu-
ras de diversos objetos. J na graduao, que tendo sido feita em
Lingstica possibilitou a passagem por vrias teorias da lingua-
gem, por vrias tendncias dos estudos lingsticos, o ento estu-
dante optou por Bakhtin e por um maior conhecimento de sua
obra e das intrigantes assinaturas que a surgiam.
No mestrado, integrado ao projeto maior Histria dos Es-
tudos Enunciativos no Brasil: o papel de Bakhtin e Benveniste
(CNPq/CAPES-COFECUB), por mim coordenado, passa a desen-
12
.~..J. .J~. ....
volver pesquisas cujo objetivo principal era discutir a obra do
Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev a partir do ncleo comum
que une esses tericos russos em torno de uma mesma concep-
o de linguagem e do seu produto: a obra verbal. De imediato a
tarefa mostrou as suas dificuldades, reveladas na questo das
tradues e da maneira como chegaram ao Ocidente e especial-
mente ao Brasil, no enigma da autoria, e mesmo na especifici-
dade conceitual apresentada por termos como sentido, significa-
o, enunciado, enunciao, metalingstica ou translingstica.
A cada problema, Geraldo inclua, como bom pesquisador, um
item a seu trabalho, cada vez mais convencido de que realmente
um olhar com lupa se fazia necessrio para uma melhor com-
preenso da concepo de linguagem, das propostas e das pers-
pectivas de anlise abertas por Bakhtin e por seu crculo.
E a partir desse mergulho reflexivo que Geraldo chega
hiptese, central em sua pesquisa, de que o ncleo bakhtiniano se
empenha na elaborao de uma Teoria do Enunciado Concreto e
de sua arquitetnica conceitual, a qual funciona como uma engre-
nagem dinmica onde interagem, entre outros, os conceitos de
gneros do discurso, tema, expressividade, estilo e entonao. Para
atingir seu objetivo, o trabalho, em meio a muitos aspectos polmi-
cos e difceis de serem elucidados, discute a questo da autoria,
considerando a individualidade intelectual de cada um dos mem-
bros, persegue a trajetria terica do Crculo, levanta alguns pro-
blemas de traduo, incluindo as formas de participao de dife-
rentes pontos de vista cientfico com os quais o crculo vai dialogar,
como o caso da Lingstica, do Formalismo, da Estilstica, da
Fenomenologia, da Histria, do Marxismo e da Esttica.
Como conseqncia dessa perseguio terica, desse verda-
deiro trabalho de detetive que tanto pode colaborar para a discus-
so dos trabalhos assinados por Bakhtin e por outros componen-
tes do crculo, a reflexo sobre a metalingstica ou translingstica
aparece como uma espcie de anlise dialgica do discurso, sem
que essa expresso tenha sido mencionada, nem pelos pensado-
res estudados e nem por Geraldo, para caracterizar a natureza da
investigao e a construo dos princpios conceituais que hoje,
das mais diferentes maneiras, tem penetrado os estudos sobre a
linguagem.
Be/| B-a|/
13
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Inirodnao
Quando estudamos o homem, buscamos e encontra-
mos o signo em toda parte e devemos tentar compreen-
der a sua significao (23, 341).
a scientific work never ends: one work takes up where
the others leaves off. Science is an endless unity. It cannot
be broken down into a series of finished and self-sufficient
works. The same is true of others spheres of ideology
(7, 129-130).
Life can be consciously comprehended only in concrete
answerability. A philosophy of life can be only a moral
philosophy. Life can be consciously comprehended only as
an ongoing event, and not as Being qua a given (2, 56)
Um estudo aprofundado das obras do Crculo Bakhtin/
Volochinov/Medvedev nos leva ao encontro de uma srie de trans-
formaes sociais, cientficas e culturais que tiveram curso na
Rssia no perodo em que elas foram elaboradas anos 20 aos
anos 70 deste sculo. Se tomarmos algumas observaes cons-
tantes na extensa obra desse Crculo e concordarmos com elas,
perceberemos que cada poca e cada grupo social tm seu re-
pertrio de formas de discurso na comunicao scio-ideolgica
(10, 43), e nosso intuito aqui, de tentar observar o repertrio de
discursos cientficos com os quais o Crculo dialogava.
Nosso objetivo tentar descobrir como um grupo de inte-
lectuais, cujo lder Mikhail Bakhtin foi exilado durante o expur-
14
.~..J. .J~. ....
go de 1928, promovido por Stalin, conseguiu manter viva a in-
vestigao da heterogeneidade discursiva numa poca de
homogeneidade
1
, e penetrando nesse sistema como um vrus,
metamorfoseando-se em carter marxista, construir uma obra
de tal qualidade que, ainda hoje, seus parmetros tericos per-
manecem novos.
Para desenvolver essa dissertao tivemos que escolher
um tema, dentre muitos, para perseguir o fio que leva a uma
reflexo em torno do todo concreto da obra do crculo. Nos deti-
vemos, ento, no percurso de elaborao de uma Teoria do Enun-
ciado Concreto. No devemos esquecer que a base de investiga-
o do crculo o pensamento concreto. Nesse sentido, o enun-
ciado que ser a base deste texto o enunciado concreto, dialgico
interior e exterior, cotidiano, artstico, o enunciado enquanto
um acontecimento na existncia, um acontecimento social.
Essa investigao dialgica nos incita a pensar o todo do
objeto de anlise como um objeto vivo. Ento, a sua natureza,
alm de dialgica, deve ser tridimensional obedecendo aos se-
guintes aspectos que compreendem um todo orgnico:
1) o micro-dilogo, ou seja, o dilogo interior a cada uma
das obras do Crculo;
2) o dilogo exterior, o dilogo com o outro composicio-
nalmente expresso e que inseparvel do dilogo inte-
rior;
3) o grande dilogo das obras como um todo.
Essa metodologia de anlise vai nos ajudar a acompanhar
as caractersticas imanentes cada obra; as relaes que unem
uma obra a outra, e, finalmente, a compreender as relaes que,
1 Nos referimos aqui ao perodo posterior s manifestaes concretas
da heterogeneidade discursiva que dava o tom ao perodo revolucio-
nrio at o incio dos expurgos stalinistas de 1928.
15
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
existentes entre as obras, no foram objetificadas, e que se tor-
naram um dos fortes argumentos para atribuir o todo das obras,
ou como preferem outros, todas as obras, a Mikhail Bakhtin.
Mas a inteno de elaborar uma investigao concreta dos
fatos da linguagem, ou seja, da vida verbal, traz no seu bojo a
crtica a outras construes cientficas, que se norteiam pelo
pensamento abstrato ou idealista na anlise dos fatos da lin-
guagem como: a lingstica, a psicologia, a esttica e a estilstica.
Essas crticas tm uma caracterstica importante: no retirar a
legitimidade dessas cincias no interior de um pensamento abs-
trato ou idealista, mas de complement-las com uma aborda-
gem de outra natureza fenomenolgica, histrica, sociolgica,
dialgica no mago da realizao concreta da palavra, do sig-
no, do discurso, enfim, do enunciado concreto.
A abordagem dos fatos concretos da linguagem implica
uma srie de dificuldades, visto que preciso um mnimo de
estabilidade para que o investigador encontre uma base para
apoiar sua interpretao desses fatos. Por outro lado, ns, en-
quanto participantes de uma comunidade discursiva determi-
nada, desenvolvemos uma capacidade de compreender os enun-
ciados dos outros membros dessa comunidade, e sabemos como
respond-los, ou seja, entendemos, em um certo nvel, o funci-
onamento dinmico dessa comunidade e nos comunicamos com
ela, no passivamente, mas como um membro ativo.
O que as obras do Crculo nos mostram o esforo de des-
cobrir qual o papel da linguagem em cada acontecimento da
existncia humana: na vida cotidiana, na arte, na cincia, na
religio de uma poca determinada. Essa compreenso sincrnica
da linguagem nos permite identificar numa srie diacrnica, pelo
conhecimento de fatos anteriores dessa sociedade, a evoluo
dessa sociedade, do ponto de vista econmico realidade lings-
tica, das relaes sociais aos gneros do discurso.
Embora a maioria das obras tratem do enunciado literrio,
os enunciados concretos que servem como base para as investi-
gaes do Crculo, que compem os gneros primrios, so os
16
.~..J. .J~. ....
enunciados cotidianos, tomadas as ressalvas feitas por Volochinov
no ensaio A estrutura do Enunciado
2
devido a recorrncia ao
enunciado cotidiano em sua representao literria: o procedi-
mento que consiste em analisar um enunciado como se ele fosse
um enunciado cotidiano e atestado na histria , evidentemente,
perigoso de um ponto de vista cientfico, e ele no pode ser utili-
zado seno excepcionalmente. Mas na ausncia de um registro
no gramofone, que nos fornea um documento autntico sobre
as conversas de personagens vivos, se deve recorrer ao material
literrio, levando em conta, naturalmente sua natureza especfi-
ca (16, 309). Atualmente, esse problema pode ser contornado
com a utilizao de materiais gravados como os do projeto NURC/
USP por exemplo, ou numa perspectiva mais contempornea, os
enunciados cotidianos virtuais, desenvolvidos concretamente por
intermdio de INTERNET, telefones, etc.
Na hora de escrever a monografia que trata da obra desses
excepcionais tericos russos, alguma coisa ainda nos impede de
iniciar a tarefa. Buscamos maiores referncias, tornamos a ler
algumas coisas, e mesmo assim, no nos damos por satisfeitos.
Muito vai ficar de fora, pois o trabalho de pesquisador no encon-
tra, ainda, um eco estvel na escrita, no assumiu um gnero,
um tom, um estilo, enfim, um enunciado concreto.
A hora da criatividade, de remexer o dado e transform-lo
no criado, no ato fenomenolgico, nico, que tornar forma a
seguir, reflete uma preocupao: levantar questes para discus-
so da obra, primeiro no interior do Crculo (de uma maneira um
tanto monolgica, mas que se justifica para tentar perceber no
seu mais alto grau a dimenso das idias desses tericos), e de-
pois, deixar a impresso dialgica que modifica, transforma e
retransmite idias que, nos anos 20 deste sculo, principiaram
no interior da Unio Sovitica, e que se renovam agora na grande
temporalidade onde nada est morto.
2 Ou A construo do Enunciado [Constrctzia viskzivania]
(33, 19).
17
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Nossa proposta, ento, de discutir no interior do todo da
obra do Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev as seguintes
abordagens:
1) a polmica em torno da autoria das obras;
2) os pontos de vista que eles utilizam para investigar o
enunciado concreto;
3) quais os conceitos que permitem uma interpretao do
enunciado concreto.
A princpio, discutiremos o Crculo Bakhtin/Volochinov/
Medvedev e alguns pontos de vista de estudiosos franceses, ame-
ricanos e brasileiros sobre esse tema, bem como os problemas de
autoria dos textos, o percurso terico e os problemas de tradu-
o. Na segunda parte, abordaremos o problema da linguagem e
algumas dificuldades conceituais em relao a esse estudo. E por
fim, na terceira parte, trataremos da Teoria do Enunciado Con-
creto que se articula, na obra desses tericos, em torno dos con-
ceitos Gneros do Discurso, Tema, Expressividade, Estilos e
Entonaes, numa perspectiva tica, fenomenolgica, histrica,
sociolgica e dialgica.
No temos o intuito de apresentar aqui uma investigao
aprofundada dos fatos que encontramos, e sim, dar uma intro-
duo ao pensamento do Crculo nos limites de uma Teoria do
Enunciado Concreto. Acreditamos ser essa uma forma de cha-
mar a ateno para o todo da obra, ao invs de permanecer em
investigaes onde essa mesma obra tem um valor perifrico
seja no estruturalismo francs ou na Anlise do discurso de li-
nha francesa, com o aproveitamento legtimo de uma ou outra
obra do crculo. Nosso intuito mesmo de provocar discusses,
de dialogar, de polemizar, e se conseguirmos esse feito, essa
monografia ter cumprido sua finalidade.
18
.~..J. .J~. ....
19
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
I. Crcno ahiin/Voochinov/
Medvedev
Nosso estudo poder ser classificado de filosfico so-
bretudo por razes negativas. Na verdade, no se trata
de uma anlise lingstica, nem filolgica, nem literria,
ou de alguma outra especializao. No tocante s razes
positivas, so as seguintes: nossa investigao se situa
nas zonas limtrofes, nas fronteiras de todas as discipli-
nas mencionadas, em sua juno, em seu cruzamento
(23,329).
O encontro de Bakhtin, Volochinov e Medvedev ocorreu,
provavelmente, na Universidade de Petrogrado, ou So Peters-
burgo
3
. Nessa universidade, Bakhtin estudou no Departamento
de Letras Clssicas, no perodo 1914-1918, e Volochinov e Med-
vedev se formaram na Faculdade de Direito.
Era muito comum na Rssia, nessa poca, a cultura dos
Crculos. Bakhtin e Volochinov participaram do Crculo de Nevel
(1918-1920), e Medvedev se juntou ao grupo no Crculo de Vitebsk
(1921-1924), onde foi ser reitor da Universidade Proletria, de-
pois de ter sido voluntrio do Exrcito Russo na I Guerra Mun-
dial. So dessa poca as publicaes da fase fenomenolgica de
Bakhtin Arte e Responsabilidade (1919) e Sobre a Filosofia
3
A cidade de So Petersburgo teve seu nome alterado durante a
Revoluo Russa para Petrogrado, e posteriormente para Leningrado.
Hoje, ela voltou a ser chamada pelo nome anterior a revoluo.
20
.~..J. .J~. ....
do Ato (1919-1921)- os quais, numa abordagem tico-fenome-
nolgica, tratam das relaes da vida cotidiana e da vida da arte
na unidade da pessoa responsvel por seus atos.
Em 1922, Medvedev retorna a Petrogrado para trabalhar
na Editora do Estado. Mais ou menos no mesmo perodo,
Volochinov volta a Universidade de Petrogrado para se graduar
na Faculdade de Filologia. Bakhtin consegue ir para Petrogrado,
em 1924, aps receber uma penso do estado devido s compli-
caes de sua sade, no sem antes terminar os ensaios O
autor e o heri (1922-1924) e O Problema do contedo, do
Material e da Forma na Criao Literria (1924).
em Leningrado, ou no Crculo de Leningrado (1924-1929)
conforme aponta a biografia de Michael Holquist e Katerina Clark,
que o Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev publica a maioria
de seus livros e ensaios. E so, tambm, essas publicaes que
se tornaram, posteriormente, alvo da polmica em torno da au-
toria.
Algumas observaes sobre Volochinov nessa biografia,
levam-nos a duvidar de que ele no seja o autor dos ensaios e
obras publicados com seu nome. Durante esse perodo do Cr-
culo de Leningrado, ele se graduou na Faculdade de Filologia da
Universidade de Petrogrado, em 1927, e desenvolveu trabalhos
de metodologia dos estudos literrios no Instituto de Histria
Comparada de Literatura e Lnguas do Oeste e do Leste. Esse
Instituto representava uma aproximao marxista nova aos
estudos lingsticos, que contestava outras formas de aborda-
gem como a Formalista (34, 110). H, ainda, a informao de
que Volochinov se tornou marxista no mesmo ano, embora nunca
tenha sido membro do partido comunista, e que o tema de sua
dissertao tenha sido, provavelmente, o problema do discurso
citado
4
.
4
O problema do discurso citado enunciado de outrem um dos
eixos fundamentais na articulao da Teoria do Enunciado Concreto
desenvolvida pelo Crculo.
21
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
As obras assinadas por Volochinov e Medvedev nesse pe-
rodo caracterizam-se, realmente, por uma aproximao marxis-
ta nova dos estudos da linguagem, acrescentando aos estudos
histrico-fenomenolgicos de Bakhtin se pensarmos no todo da
obra do Crculo uma abordagem sociolgica o mtodo sociol-
gico- e ideolgica o marxismo- e tambm um aprofundamento
das crticas psicologia, lingstica e ao formalismo, como tam-
bm, aplicao da metodologia dessas disciplinas aos estudos
literrios.
no interior desse projeto que podemos compreender os
livros assinados por Volochinov Freudianism. A critical Sketch
(1927) e Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), bem como o
livro assinado por Medvedev The Formal Method in Literary
Scholarship. A Critical Introduction to Sociological Poetics (1928),
sem nos esquecermos de que essa abordagem j se prenunciava
no ensaio Le discours dans la vie et le discours dans la posie
(1926), o qual tambm era assinado por Volochinov. Todos esses
textos, alm dos outros ensaios de Volochinov Beyond the So-
cial (1925) e The Latest Trends in Linguistic Thought in the
West (1928) formam o todo dos textos cuja autoria atribuda
a Bakhtin, embora nunca tenha havido uma confirmao de sua
parte quando indagado sobre esse problema
5
.
Essa aplicao do mtodo sociolgico, no seu vis marxis-
ta, presente nas obras de Volochinov e Medvedev, no aparece na
obra de Bakhtin, caracterizada em interao com o marxismo.
Ele reconhece a importncia do mtodo sociolgico e sua aplica-
o anlise da obra literria e o que ele faz em Problemas da
Obra de Dostoievski (1929) e em Rabelais na Histria do Realis-
mo (1940), mas no se encontram nessas obras, com sua assi-
natura, referncias ao marxismo. Talvez tenha sido esse um dos
motivos de sua priso em 1929 e seu exlio para Kustanai em
1930, por quatro anos. E tambm, o fato de, ao final do exlio, ele
5
No Prefcio de Marxismo e Filosofia da Linguagem, Jakobson inclui
o ensaio de 1930 A estrutura do enunciado entre as obras em
disputa (28, 9).
22
.~..J. .J~. ....
ter que pedir permisso e obter autorizao para qualquer movi-
mentao no interior do pas, no que contava com a ajuda de
Medvedev para interceder em seu favor junto s autoridades.
Durante o perodo de exlio de Bakhtin, Volochinov de-
senvolveu carreira acadmica como professor do Instituto Peda-
ggico Herzen, e como pesquisador senior do Instituto Estatal
para Dialetos Culturais. Com o agravamento da tuberculose,
que o acompanhava desde 1914, ele veio a falecer em 1936.
Medvedev se tornou professor titular do Instituto Histri-
co e Filolgico de Leningrado, do Instituto Pedaggico Herzen
o mesmo onde Volochinov lecionou , e da Academia Militar
Tolmachev, onde foi chefe do Departamento de Literatura. Em
1937, ele foi preso durante um expurgo, provavelmente, na Fa-
culdade da Academia Militar e veio a falecer em 1941 em local
desconhecido (34, 264-265).
Bakhtin lecionou, a partir de 1936, no Instituto Pedaggi-
co da Mordvia, em Saransk, no Departamento de Literatura
Mundial, onde era o nico professor. Apesar do seu passado
poltico, Bakhtin conseguiu fazer conferncias sobre Shakespeare
na Casa da Literatura, em Moscou (1940), e sobre O Discurso
no Romance (1940)
6
e O romance como gnero literrio (1941)
7
no Departamento de Teoria Literria e Esttica do Instituto Gorki
da Literatura Mundial, tambm em Moscou (34, 262).
Em setembro de 1941, quando j era o nico sobrevivente
do Crculo a que se refere nossa pesquisa, Bakhtin comeou a
lecionar alemo em Savelovo, sendo autorizado a lecionar russo,
a partir de setembro de 1945. nesse perodo II Guerra Mun-
6
O ensaio sobre esse tema, com o mesmo nome, tinha sido escrito por
Bakhtin entre 1934 e 1935 (17).
7
Segundo a biografia de Holquist e Clark, esta conferncia foi desdo-
brada em dois artigos: Da Pr-histria do discurso romanesco (1940)
e Epos e Romance (Sobre a metodologia do estudo do romance)
(1941), que esto includos em Questes de Literatura e de Esttica. A
teoria do Romance (1993) (20).
23
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
dial que ele escreve, entre outros ensaios, a sua dissertao de
doutorado para o Instituto Gorki de Literatura, com o ttulo
Rabelais na Histria do Realismo
8
. Holquist e Clark dizem:
Bakhtin nunca foi, formalmente, um estudante graduado pelo
instituto, mas ele se beneficiou do direito que tinha de apresentar
um trabalho para a ps-graduao, mesmo sem ter feito os estu-
dos formais de graduao (34, 263). Esse fato talvez tenha leva-
do a banca examinadora a conceder-lhe o ttulo de candidato a
doutor (34, 324) quando da apresentao da referida disserta-
o.
Bakhtin retorna a suas funes de professor do Instituto
Pedaggico da Mordvia, em Sarank, no departamento de Litera-
tura Geral, a permanecendo de 1945 a 1961, quando se aposen-
ta por problemas de sade. dessa poca o ensaio Os gneros
do Discurso (1952-1953).
A partir de 1960, um grupo de estudantes do Instituto Gorki,
que tinham redescoberto o livro de Dostoievski e a dissertao
sobre Rabelais nos arquivos deste instituto, comea a fazer es-
foros para sua republicao. Ao descobrirem que Bakhtin ainda
vivia, entram em contato com ele e discutem a possibilidade de
republicao dessas obras. Bakhtin inicia, ento, uma reviso do
livro sobre Dostoievski entre 1961 e 1962, o qual publicado
com sucesso, em 1963, como Problemas da Potica de Dostoivski.
O mesmo ocorre com a sua dissertao sobre Rabelais, publica-
da em 1965 com o ttulo A cultura popular na Idade Mdia e no
Renascimento: o contexto de Franois Rabelais.
Bakthin dedica seus ltimos anos reviso de seus textos
que acabam sendo publicados postumamente em Questes de
Literatura e de Esttica. A teoria do Romance (1975) e Esttica da
Criao Verbal (1979), vindo a falecer em 07 de maro de 1975
aps srias complicaes de seu estado de sade.
8
Uma verso revisada dessa dissertao foi publicada em 1965, com o
ttulo A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento. O contexto
de Franois Rabelais (19)
24
.~..J. .J~. ....
1. s ieios disniados
H um assunto que permanece obscuro na histria das
obras do Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev: a questo da
autoria de algumas das obras. Intricados caminhos, que mais
parecem uma empreitada para Sherlock Holmes, levam ques-
to do inacabamento, deixando o dilogo inconcluso pela
impossibilidade mesma da assinatura do autor para dar fim
polmica.
De um lado pesquisadores como Michael Holquist e Katerina
Clark, que em sua biografia de Bakhtin Mikhail Bakhtin (1984)
assumem que todas os textos disputados so de Bakhtin. Eles
apresentam provas que confirmam essa hiptese, chegando a
dizer que no podem revelar certas fontes. Por outro lado pesqui-
sadores como I. R. Titunik, Gary S. Morson e Caryl Emerson, que
questionam todas as argumentaes de Holquist e Clark, referin-
do-se biografia deles como uma espcie de hagiografia e no
uma simples biografia, considerando que as obras disputa-
das so de Volochinov e Medvedev, conforme publicadas na pri-
meira edio das obras e artigos em disputa.
Assim, por exemplo, Marxismo e Filosofia da Linguagem
atribuda apenas a Volochinov no original russo (8) e na verso
inglesa (11), e nas edies francesa (9) e brasileira (10) apare-
cem com as duas assinaturas Bakhtin (Volochinov). No pref-
cio dessa obra, Roman Jakobson diz: Acabou-se descobrindo
que o livro em questo e vrias outras obras publicadas no final
dos anos vinte e comeo dos anos trinta com o nome de
Volochinov como, por exemplo, um volume sobre a doutrina
do freudismo (1927)
9
e alguns ensaios sobre a linguagem na
vida e na poesia, assim como sobre a estrutura do enunciado
10
9
Ver Volosinov, V. N. (1927) Freudianism. A Critical Sketch (6).
10
Estes ensaios esto publicados em Todorov, T. Mikhal Bakhtine. Le
principe dialogique. Suivi de crits du cercle de Bakhtine: Le discours
dans la vie e le discours dans la posie (5, 181-215); e La structure
de lnonc (16, 287-316) com a assinatura de Volochinov.
25
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
foram na verdade, escritos por Bakhtin (1895-1975) [] Ao
que parece, Bakhtin recusava-se a fazer concesses fraseologia
da poca e certos dogmas impostos aos autores (28,9)
11
.
Na introduo do mesmo livro, Marina Yaguello trata essa
questo como fonte de um desejo de Volochinov e Medvedev,
discpulos de Bakhtin, em ajud-lo, pois devido oesteomielite,
ele estava impossibilitado de trabalhar regularmente (29,11)
12
.
Valendo-se de argumentos do professor V.V. Ivnov, Yaguelo
divulga dois motivos pelos quais Bakhtin aceitara a publicao
de suas obras sob o nome de seus discpulos: em primeiro lu-
gar, Bakhtin teria recusado as modificaes impostas pelo edi-
tor; de carter intransigente, ele teria preferido no publicar do
que mudar uma vrgula; Volochnov e Medvidiev ter-se-iam,
ento, proposto a endossar as modificaes. A outra ordem de
motivos seria mais pessoal e ligada ao carter de Bakhtin, ao
seu gosto pela mscara e pelo desdobramento e tambm, pare-
ce, sua profunda modstia cientfica (29,12). De qualquer
maneira, difcil afirmar com exatido quais as partes do texto
que se devem a Volochnov. Sempre segundo o professor Ivnov,
que deve a informao ao prprio Bakhtin, o ttulo e certas par-
tes do texto ligadas escolha deste ttulo so de Volochnov
(29,13).
Vejamos como alguns pesquisadores brasileiros tm se
posicionado sobre essa questo polmica. O professor Boris
Schnaiderman conta que em sua viagem a Rssia, em 1972, teve
oportunidade de visitar Bakhtin, acompanhado do semioticista
russo V. V. Ivanov o mesmo citado por Jakobson e Yaguello.
Aps esse encontro, Ivanov transmitiu a ele com muita convic-
o, a verso de que vrios livros assinados por membros do
11
Jakobson no faz referncia a obra The Formal Method in Literary
Scholarship que tambm alvo de disputa. A edio americana a
atribui a Bakhtin e Medvedev (7).
12
Os dados constantes da biografia revelam o contrrio, Bakhtin sempre,
apesar das condies polticas desfavorveis, conseguiu continuar o
seu trabalho.
26
.~..J. .J~. ....
grupo de Bakhtin, seriam, na realidade, da autoria deste [] se-
gundo Ivanov, no perodo em que Bakhtin caiu em desgraa
13
, os
livros assinados pelos seus amigos propiciaram-lhe alguns re-
cursos para a manuteno (33, 10-11). Para o professor Boris,
esta tese encontrou tambm alguns opositores. Em todo caso,
na minha opinio, torna-se difcil para ns outros, com a nossa
indigncia bibliogrfica, o nosso desconhecimento das circuns-
tncias em que os fatos ocorreram, emitir opinio categrica so-
bre este assunto, por mais que simpatizemos com esta ou aquela
verso (33,20).
Flavio R. Kothe (1977), em A no-circularidade do Crculo
de Bakhtine, critica em nota a atribuio de Marxismo e Filosofia
da Linguagem a Bakhtin na edio francesa. Segundo esse pes-
quisador, mesmo que tenha havido uma forte influncia de Bakh-
tine, h diferenas entre este e Volosinov, diferenas que seriam
incoerncias caso a tese francesa prevalecesse (27,19)
14
.
Em Bakhtin e a sabedoria (1988), Luiz Roncari apresenta
a questo da autoria da seguinte maneira: creio que uma
considerao de princpio aqui tambm se faz necessria: a da
relatividade da autoria individual na concepo dialgica de
Bakhtin. Ele mesmo no se preocupa muito em enclausurar en-
tre aspas todas suas citaes [] Assume muitas delas, que de-
pois encontramos em outros autores, principalmente entre crti-
cos e tericos russos da poca, como idias do tempo, idias
difundidas e comentadas e que j no se ligam mais a fontes e
autores originais (35,41).
Para Beth Brait (1994), se restam pouqussimas dvidas
sobre a atribuio das obras a Bakhtin, especialmente por ele
ser o pensador do grupo, no h como negar que, mesmo a
13
Bakhtin foi preso, em 1929, por motivos religiosos, acusado de cons-
pirar contra a revoluo (34, 141).
14
O pesquisador se orienta pela edio alem Marxismus und
Sprachphilosophie que, assim como a edio inglesa atribui esse
livro apenas a Volochinov (27,19)
27
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
circunstncia biogrfica especial faz retornar, e de forma bas-
tante concreta, a questo das vozes que esto disseminadas na
configurao de um discurso (41,14). Irene Machado (1995) no
mapeamento das obras de Bakhtin revela: alm disso, h os
escritos polmicos que, embora tenham sido publicados com os
nomes de V. N. Volochinov e P. N. Miedviediv, acredita-se se-
rem de Bakhtin (43,26).
A polmica em torno da autoria consegue um feito que
merece destaque: tornar-se um exemplo concreto da prpria
teoria dialgica que envolve o todo da obra do Crculo Bakhtin/
Volochinov/Medvedev. Nesse sentido, importante considerar
o que se chama hoje de Dialogismo como uma obra de vrias
vozes Mikhail Mikhailovich Bakhtin, Valentin Nikolaevich
Volochinov e Pavel Nikolaevich Medvedev, preservando a auto-
ria sob a qual cada obra foi originalmente publicada, ou mesmo
edit-las como fruto do dilogo desses trs pensadores como
tem ocorrido com algumas dessas obras em edio francesa,
inglesa e brasileira.
Embora essa polmica nunca tenha sido definitivamente
resolvida, no h dvida do prestgio de Bakhtin, hoje, como um
dos mais importantes pensadores do sculo XX. em torno de
sua personalidade que so publicadas biografias e estudos valio-
sos sobre a obra do Crculo, buscando ora um princpio dialgico
(Todorov), ora uma arquitetnica da respondibilidade ou respon-
sabilidade (Holquist), ou, ainda, uma criao da prosaica (Morson),
uma teoria da cultura, uma teoria da ideologia etc enfim, um
nmero infinito de aproximaes que s se tornam possveis quan-
do estamos diante da obra dos grandes filsofos.
De qualquer forma, no podemos esquecer da interao
orgnica que une Bakhtin, Volochinov e Medvedev, que para ns
est articulada no interior de uma Teoria do Enunciado Concre-
to. Nesse sentido, no podemos apagar os nomes de Volochinov e
de Medvedev do todo da obra, sob o risco de estarmos sendo
precipitados. Em primeiro lugar, porque eles continuam a apare-
cer na capa das obras disputadas, nem que seja entre parnte-
28
.~..J. .J~. ....
ses, bem como em outros ensaios de Volochinov que, mesmo no
sendo alvo de disputa, conservam, em grande parte, como todos
os escritos do Crculo, uma relao dialgica com a evoluo do
pensamento terico do grupo e com suas propostas bsicas. E
em segundo lugar, se formos coerentes com a teoria da lingua-
gem desenvolvida por esses trs pensadores, devemos concordar
que o nosso prprio enunciado um enunciado citado de ou-
trem, e a cada momento nico em que criamos um enunciado,
uma obra, mesmo que repetindo as mesmas palavras do outro,
estamos assinando um ato responsvel e renovando, no o prin-
cpio admico da autoria, mas a palavra do outro numa relao
dialgica de concordncia e de evoluo.
2. ercnrso ie6rico
O projeto do Crculo encontra suas primeiras formulaes
em Toward a Philosophy of the Act (1919-1921). Nesse ensaio,
Bakhtin investiga a natureza do ato ou da ao em sua realizao
efetiva, concreta e apreciativa, por um ato consciente, na realida-
de nica, concreta e irrepetvel, ou seja, a compreenso do ato no
seu sentido completo. Essa perspectiva, tica e histrico-
fenomenolgica, se ope diviso entre duas correntes de pensa-
mento: a primeira pensamento abstrato que prope uma in-
vestigao do sentido objetivo, e a segunda pensamento idealis-
ta que investiga o processo subjetivo que engendra um ato con-
creto.
A interao orgnica entre essas duas correntes de pensa-
mento vai encontrar eco no que Bakhtin chama de Arquitetnica.
Para ele, o mundo dividido em uma arquitetnica apreciativa
entre o eu o contemplador, que se situa fora da arquitetnica
e e os outros fundados por esse eu, e que se encontram no
interior da arquitetnica. Nesse sentido, Bakhtin define o seu
projeto, que mais tarde ser incorporado pelo Crculo, da seguin-
te maneira:
29
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
No nossa inteno construir um sistema de valores logica-
mente unificado com o valor fundamental minha participao
no ser situada na cabea, ou, em outras palavras, construir
um sistema ideal de vrios valores possveis. Nem propomos
fornecer uma transcrio de valores que tm sido realmente, e
historicamente reconhecidos pela humanidade, com intuito de
estabelecer tais relaes lgicas entre eles como subordinao,
co-subordinao, etc., isto , com intuito de sistematiz-las. O
que pretendemos fornecer no um sistema, e nem um inven-
trio sistemtico de valores, onde conceitos puros (idnticos em
contedo) esto interconectados na base de uma correlao l-
gica. O que pretendemos fornecer uma representao, uma
descrio da arquitetnica concreta e real do mundo experien-
ciado, governado por valores no com uma base analtica na
cabea, mas com esse centro concreto, real (espacial e tempo-
ral) no qual os valores, as asseres, e os atos acontecem ou se
do, e onde os membros constituintes so objetos reais,
interconectados por relaes de eventos concretos na nica ocor-
rncia do evento do ser (nesse contexto as relaes lgicas cons-
tituem apenas um momento junto aos momentos concreto, es-
pacial, temporal, e emotivo-volitivo) (2, 61).
Esse projeto de buscar no acontecimento real os funda-
mentos de sua teoria j embute uma reflexo em torno da rela-
o eu/outro na esfera de uma arquitetnica do valor, ou
arquitetnica apreciativa. Nessa arquitetnica, o homem, a sua
conscincia, um centro concreto de valores. Sendo assim, o
esttico se complementa com o extra-esttico, o verbal com o
extra-verbal, na unidade do homem que experiencia a vida, a
cincia e a arte. Para Bakhtin, tudo neste mundo adquire sig-
nificao, sentido e valor somente em correlao com o homem
com isso que humano (2, 61). A arquitetnica de um acon-
tecimento, por exemplo, um enunciado concreto, no acabada
nem rgida; ela possui estabilidade apenas na criao e na
respondibilidade do meu ato.
Essa forma de se relacionar com o mundo, essa esttica
arquitetnica da relao eu/outro se desenvolve na obra do Cr-
30
.~..J. .J~. ....
culo como uma Esttica da Criao Verbal. A dimenso do criado
reside na esfera do enunciado nico e concreto, que tem um au-
tor um criador que se utiliza do dado (a lngua, os outros enun-
ciados) , um destinatrio real ou virtual, um gnero do discur-
so relacionado com alguma atividade humana, um estilo e uma
entonao determinadas no interior de um tema e em interao
orgnica com esse gnero do discurso.
Essa representao da arquitetnica real, que Michael
Holquist chama de Arquitetnica da Respondibilidade ou da
Responsabilidade, nos fornece a natureza do projeto que ser
desenvolvido pelo Crculo: a investigao do enunciado concre-
to. essa viso do particular, do evento nico criado esttico
como um acontecimento tico, fenomenolgico, histrico, so-
ciolgico, psicolgico, dialgico, etc. que compe, em linhas ge-
rais, o projeto do Crculo e seus desdobramentos.
O eixo que nos permite aprofundar no percurso terico do
Crculo a investigao do enunciado artstico concreto como
um acontecimento sociolgico. nesse sentido que, durante a
leitura das obras do Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev,
percebemos a presena de um mtodo sociolgico aplicado
literatura potica sociolgica, psicologia psicologia objeti-
va, e cincia da linguagem metalingstica. Esse mtodo,
anterior a Revoluo de 1917, foi desenvolvido por, entre ou-
tros, G. V. Plekhanov (1856-1918), com intuito de fundar uma
nova cincia da literatura baseada nos estudos contempor-
neos em sociologia (1,322-323). Participavam do grupo de
Plekhanov os seguintes crticos: V. M. Friche (1870-1929), P. N.
Sakulin (1868-1930), e V. F. Pereverzev (1882-1958).
Em 1924, no ensaio O Problema do Contedo, do Mate-
rial e da Forma na Criao Literria, Bakhtin reconhece a im-
portncia de tal mtodo, embora pense que seu significado cien-
tfico ultrapasse os limites de uma anlise esttica: mas tanto o
elemento tico como tambm o cognitivo podem ser isolados e
transformados em objeto de uma investigao independente,
31
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
tico-filosfica ou sociolgica, o qual pode tambm tornar-se
objeto de apreciaes atuais, morais ou polticas (apreciaes
secundrias e no primrias, tambm indispensveis para a con-
templao esttica) (4,43).
Ainda nesse ensaio, comeam a aparecer referncias ao
Mtodo sociolgico. Podemos dizer que esse ensaio se situa na
fronteira entre as discusses fenomenolgicas e ticas da obra
de arte, isto , do enunciado artstico concreto, e um enfoque
sociolgico do acontecimento tico que transcende os limites da
esttica, ou seja, extra-esttico. Esse mtodo, na concepo de
Bakhtin, teria as seguintes tarefas:
a) transcrever o acontecimento tico no seu aspecto so-
cial, j vivido e avaliado empaticamente na contempla-
o esttica;
b) sair dos limites do objeto e introduzir o acontecimento
em ligaes sociais e histricas mais amplas; e
c) ultrapassar os limites da anlise propriamente estti-
ca. (4, 43).
Esse embrio de aplicao do mtodo sociolgico poti-
ca, ou seja, ao enunciado artstico concreto, ser retomado e
detalhado nas obras posteriores do crculo, no desenvolvimento
de uma potica sociolgica, de uma estilstica sociolgica, de
uma psicologia social objetiva, enfim, de uma Sociologia do Dis-
curso. Esse ponto de vista exterior ao objeto ser utilizado, tam-
bm, na problematizao de sua aplicao cincia da lingua-
gem.
Discutiremos a seguir alguns aspectos importantes da
aplicao do mtodo sociolgico, como aparecem na obra de
Bakhtin, Volochinov e Medvedev, retomando o lugar de uma
Teoria do Enunciado Concreto nesse ponto de vista de investi-
gao da linguagem artstica, cientfica e cotidiana.
32
.~..J. .J~. ....
O ensaio de Volochinov, Le discours dans la vie et le
discours dans la posie (1926) tem por subttulo Contribution
une potique sociologique e trata das possibilidades de apli-
cao desse mtodo aos problemas colocados pela Potica his-
trica, ou seja, ao conjunto de problemas que tratam da forma
artstica vista sob seus diferentes aspectos (o estilo, etc.) (5,181).
Volochinov critica opinio partilhada por alguns marxistas, de
que o mtodo sociolgico verdadeiramente legtimo quando a
forma potica artstica, enriquecida pelo aspecto ideolgico
isto , pelo contedo , comea a se desenvolver historicamente
no quadro da realidade social exterior; quanto forma, tomada
nela mesma, ela possui sua natureza prpria e se determina
segundo leis especficas, que so artsticas e no sociolgicas
(5,181). Essa ruptura entre forma e contedo provoca, segundo
Volochinov, uma ruptura entre teoria e histria, que contraria o
prprio fundamento do mtodo marxista o seu monismo, ou
seja, o que se aplica ao todo pode ser aplicado s suas unida-
des, e o seu historicismo. A forma e o contedo esto, na pers-
pectiva do Crculo, sempre em interao orgnica.
Nesse mesmo ensaio, Volochinov analisa uma obra do pro-
fessor Sakulin
15
O mtodo sociolgico nos estudos literrios
de 1925, na qual Sakulin distingue dois pontos de vista para
estudar a literatura e sua histria: 1) a srie imanente (interior)
que possui uma estrutura e uma determinao especficas e
prprias, e que evoluem de forma autnoma, segundo sua na-
tureza; e 2) a srie causal ao do meio social extra-artstico. O
primeiro deve ser estudado pelo mtodo formal, e o segundo,
que considera a literatura como um fenmeno social, deve ter a
sua causalidade estudada pelo mtodo sociolgico.
Volochinov prope, ento, um outro vis marxista para o
mtodo sociolgico, no sentido de dotar a estrutura imanente
do enunciado artstico de uma orientao sociolgica. Para ele,
a cincia da ideologia, de acordo com a essncia do objeto que
15
Como j informamos anteriormente, P. N. Sakulin fazia parte do
grupo de Plekhanov.
33
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
ela estuda, no pode pretender o rigor e a preciso das cincias
naturais. Mas, voltada ao mtodo sociolgico, entendido segundo
sua acepo marxista, ela permite, pela primeira vez, que nos
aproximemos bem perto de um estudo verdadeiramente cient-
fico das produes ideolgicas As formaes ideolgicas so
de natureza sociolgica de maneira intrnseca e imanente. (5, 184).
Comea a se instaurar no percurso terico do Crculo uma
Sociologia do Discurso, entendendo-se aqui formaes ideol-
gicas como uma semente do que, mais tarde, ser chamado de
Gneros do discurso. A esttica, entendida como uma formao
ideolgica, para Volochinov, uma variedade do social. Assim, a
teoria da arte s pode ser uma sociologia da arte (5, 185). Para
uma aplicao correta e fecunda da anlise sociolgica na teo-
ria da arte, Volochinov prope que se renuncie a duas concep-
es redutoras da esttica:
a) a fetichizao da obra de arte como coisa; o criador e
os receptores esto fora do campo de estudo, reduo
ao estudo do material;
b) o psiquismo individual do criador e do receptor.
No caso da primeira concepo estaramos no interior do
pensamento abstrato e de suas anlises formalistas e lingsti-
cas; e na segunda, encontraramos a abordagem estilstica tra-
dicional do pensamento idealista, as quais sero criticadas em
quase todas as obras do Crculo.
Para se contrapor a essas duas concepes, que tentam
descobrir o todo na parte, Volochinov descreve, assim, a natu-
reza da potica sociolgica:
1) na realidade, o fato artstico considerado na sua to-
talidade no reside nem na coisa nem no psiquismo do
criador, tomado isoladamente, nem no psiquismo do
receptor, mas ele contm esses trs aspectos. O fato
34
.~..J. .J~. ....
artstico uma forma particular e fixada na obra de
arte por uma relao recproca entre o criador e os re-
ceptores;
2) a comunicao artstica se enraza na infraestrutura
que ela reparte com as outras formas sociais, mas ela
conserva, no menos do que essas outras formas, um
carter prprio: ela um tipo particular de comunica-
o que possui uma forma que lhe prpria e bem es-
pecfica. Assim, a tarefa da potica sociolgica compre-
ender esta forma particular de comunicao social que
se encontra realizada e fixada no material da obra de
arte.(5,187).
Toda essa problematizao, visando compreender a obra
de arte enquanto objeto de comunicao, enquanto um deter-
minado gnero do discurso, aparecer em toda a obra do Crcu-
lo em torno de uma Teoria do Enunciado Concreto, na qual
podemos compreender o fato artstico como um enunciado ar-
tstico concreto.
Ao inserir a obra de arte numa relao de comunicao
artstica o todo da obra, Volochinov a define, sociologica-
mente, pelas seguintes caractersticas:
produto da interao criador/receptor;
momento essencial do acontecimento que constitui essa
interao;
no uma obra isolada, participa enquanto unidade
do fluxo da vida verbal;
reflete a infraestrutura econmica geral;
participa, juntamente com as outras formas de comu-
nicao, de um processo de interao e de trocas de
formas.
16
16
Essas mesmas caractersticas estaro presentes na articulao dos
conceitos Gneros do Discurso, Tema, Expressividade, Estilos e
35
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Essa perspectiva de anlise do todo, pelo mtodo sociolgi-
co em seu vis volochinoviano, orienta a evoluo do pensamento
tico-fenomenolgico desenvolvido anteriormente por Bakhtin e,
tambm, as crticas formuladas pelo Crculo ao formalismo lin-
gstico e s concepes psicolgicas abstratas: a essncia con-
creta, sociolgica do discurso, que sozinha determina sua verda-
de ou sua falsidade, sua baixeza ou sua grandeza, sua utilidade
ou inutilidade, resta, ainda que abordada de uma ou outra ma-
neira, incompreensvel e inacessvel (5, 198). E em busca da
compreenso dessa essncia que os pensadores russos iro
despender esforos no sentido de encontrar formulaes tericas
adequadas investigao desse fenmeno.
Ainda nesse ensaio de 1926, comea a se definir o aspecto
extralingstico do enunciado concreto. O enunciado comporta,
por um lado, um aspecto verbal a lngua, a palavra, e, por outro
lado, um aspecto extra-verbal o horizonte espacial comum (de
um determinado grupo social); o conhecimento e a compreenso
da situao, e o valor comum. O aspecto extra-verbal, ou seja, a
situao de produo do enunciado se integra ao enunciado como
um elemento indispensvel sua constituio semntica (5, 191).
Aparece aqui, tambm, a distino entre enunciado cotidi-
ano e enunciado artstico, fundamental para o desenvolvimento
de uma potica sociolgica e a articulao posterior entre g-
neros do discurso primrios e secundrios no interior de uma
Sociologia do Discurso e de uma Arquitetnica da Representao.
Um outro tema importante de uma Teoria do Enunciado
Concreto a que trata desse enunciado como um acontecimento
subjetivo, ou seja, um enunciado interior. Isso implica num certo
ponto de vista em relao psicologia. Esse vis da teoria orien-
ta-se por uma crtica teoria freudiana, realizada por Volochinov
no livro Freudianism. A Critical Sketch (1927), cujo objetivo apli-
car um ponto de vista dialtico e sociolgico psicologia, bus-
cando compreender o comportamento humano a partir de um
Entonaes, os quais, em conjunto, formam o alicerce do Enunciado
Concreto, seja ele artstico, cientfico ou cotidiano.
36
.~..J. .J~. ....
vis sociolgico objetivo, o que redunda numa psicologia objeti-
va.
Para Volochinov , a psicologia freudiana orienta-se por
um tipo especial de interpretao dos enunciados, que pretende
penetrar nos nveis profundos da alma. Ele faz as seguintes cr-
ticas psicologia freudiana:
1) no toma os enunciados no seu aspecto objetivo;
2) no procura razes fisiolgicas
17
ou sociais nesses enun-
ciados; e
3) procura encontrar os motivos do comportamento no
interior dos enunciados (o paciente d informao so-
bre o inconsciente). (6, 76)
Ele justifica da seguinte forma as suas crticas: qualquer
produto da atividade do discurso humano do simples enuncia-
do cotidiano aos trabalhos elaborados da arte literria deriva
em forma e significao, em todos os seus aspectos essenciais,
no das experincias subjetivas do falante, mas da situao so-
cial na qual o enunciado aparece. A lngua e suas formas so
produtos de uma prolongada comunicao social entre os mem-
bros de uma dada comunidade discursiva (6, 79).
Analisando a sesso psicanaltica como um tipo de rela-
o de comunicao entre um mdico e um paciente, ou seja,
um gnero de discurso determinado, Volochinov formula a se-
guinte crtica ao produto dessa relao: o que refletido nesses
enunciados no a dinmica da psique individual mas a din-
mica social das inter-relaes entre o doutor e o paciente. Aqui
est a origem para o drama da construo freudiana (6, 79-80).
Ele prope, ento, que se atinja as razes das reaes verbais,
ou seja, do comportamento, com a ajuda de mtodos objetivos-
17
Eles se referem aqui ao processos fisiolgicos no sistema nervoso e
nos rgos de fala e de percepo que compem, no interior da
psicologia, as reaes verbais. (6, 21).
37
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
sociolgicos que o marxismo criou para a anlise de vrios sis-
temas ideolgicos: lei, moral, cincia, mundo exterior, arte e re-
ligio (6,87). A concepo de psicologia que norteia as formula-
es tericas do Crculo, traz no seu bojo, ento, uma perspec-
tiva sociolgica.
Aps essa crtica psicologia, um outro livro do Crculo,
The Formal Method in Literary Scholarship (1928), assinado por
Bakhtin/Medvedev, vai centrar suas crticas no formalismo e sua
aplicao nos estudos literrios. Como sempre que o Crculo vai
discutir um enunciado secundrio, ou como nesse caso, um enun-
ciado literrio, a base concreta da reflexo o enunciado cotidia-
no, aqui chamado enunciado prtico. Para os tericos russos, a
literatura se funda na interao real e ativa com outras esferas
da ideologia, no mnimo com todos os enunciados prticos (7,
103).
Essa outra obra tem por subttulo A Critical Introduction to
Sociological Poetics. Aqui, Bakhtin/Medvedev reclama da falta
de uma doutrina sociolgica desenvolvida das caractersticas
distintas do material, da forma, e propsitos de cada rea da
criao ideolgica (7, 3).
A partir de uma base marxista, ele prope o desenvolvi-
mento de um mtodo sociolgico especfico que pode ser adapta-
do s caractersticas de diferente reas ideolgicas, no sentido de
dar acesso a todos os detalhes e sutilezas das estruturas ideol-
gicas (7, 4). Esse tambm era o objetivo de Volochinov: cada rea
da criao ideolgica deve ser entendida, do ponto de vista de
uma Sociologia do Discurso, como um gnero do discurso deter-
minado, e a sua compreenso e anlise deve levar em conta essa
especificidade.
Esse mtodo sociolgico, que j apresentamos anteriormente
na concepo do professor Sakulin, o qual distingue duas con-
cepes autnomas a srie imanente e a srie causal , se ca-
racteriza aqui, como em Volochinov, pela interao entre a hist-
ria da literatura e a potica sociolgica. Essa formulao im-
possvel para o professor Sakulin. J para Medvedev, a potica
38
.~..J. .J~. ....
fornece direes histria da literatura na especificao da pes-
quisa material e nas definies bsicas de suas formas e tipos. A
histria da literatura completa as definies da potica, tornan-
do-as mais flexveis, dinmicas e adequadas diversidade do
material histrico (7,30).
Esse carter complementar entre pontos de vista, um utili-
zando os resultados das anlises do outro uma caracterstica
constante das obras do Crculo e de sua articulao em torno de
um pensamento concreto que leva em considerao as contribui-
es dos pensamentos abstrato e idealista.
As tarefas da potica sociolgica, para Bakhtin/Medvedev,
so as seguintes:
1) especificao: isolar a obra literria e revelar sua es-
trutura;
2) descrio: determinar as formas possveis e variaes
dessa estrutura;
3) anlise: definir seus elementos e suas funes. (7,33)
18
At aqui, o Crculo j direcionou suas crticas, sempre a
partir de uma concepo especfica do mtodo sociolgico, est-
tica, psicologia e ao mtodo formal. Agora, uma outra cincia se
torna alvo das indagaes de Bakhtin/Volochinov/Medvedev: a
cincia da linguagem.
Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), Bakhtin/
Volochinov coloca um subttulo Problemas fundamentais do
Mtodo Sociolgico na Cincia da Linguagem que provoca uma
relao dialgica com as obras anteriores. Definido o ponto de
vista o mtodo sociolgico no seu vis marxista os componen-
tes do Crculo vo alternando os gneros do discurso cientficos a
18
Essas tarefas so devenvolvidas, posteriormente, nas duas obras de
aplicao da potica sociolgica: Problemas da Potica de Dostoivski
e A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto de
Franois Rabelais.
39
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
serem criticados: ora a Esttica, ora a Psicologia, agora a Filoso-
fia da Linguagem
19
.
Tendo como interlocutores o Marximo e a Filosofia da Lin-
guagem, Bakhtin/Volochinov diz que a nica maneira de fazer
com que o mtodo sociolgico marxista d conta de todas as pro-
fundidades e de todas as sutilezas das estruturas ideolgicas
imanentes consiste em partir da filosofia da linguagem concebi-
da como filosofia do signo ideolgico. E essa base de partida deve
ser traada e elaborada pelo prprio marxismo (10,38). Nesse
sentido, Bakhtin/Volochinov observa as seguintes regras meto-
dolgicas:
1. No separar a ideologia da realidade material do signo
(colocando-a no campo da conscincia ou em qual-
quer outra esfera fugidia e indefinvel).
2. No dissociar o signo das formas concretas da comuni-
cao social (entendendo-se que o signo faz parte de
um sistema de comunicao social organizada e que
no tem existncia fora deste sistema, a no ser como
objeto fsico).
3. No dissociar a comunicao e suas formas de sua base
material (infra-estrutura) (10, 44).
Uma outra tarefa do marxismo se refere a uma concepo
nova da psicologia, ou seja, de uma psicologia objetiva: uma das
tarefas mais essenciais e urgentes do marxismo constituir uma
psicologia verdadeiramente objetiva. No entanto, seus fundamen-
tos no devem ser nem fisiolgicos nem biolgicos, mas SOCIO-
19
Estamos levando em considerao o fato de cada um desses discursos
cientficos serem o tema central de um determinado ensaio ou livro.
Mas no podemos esquecer que em todos eles h uma interao
orgnica no que se refere ao Enunciado concreto. Assim sendo, ao
falar da Filosofia da Linguagem so abordadas tambm, dessa
perspectiva, os outros discursos cientficos como a Esttica, a
Psicologia, o Formalismo, a Sociologia, o Marxismo, etc.
40
.~..J. .J~. ....
LGICOS (10, 48). com base nessa psicologia que o Crculo
vai analisar o enunciado interior.
Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov desenvolve nesse livro
a estrutura sociolgica do enunciado, seja ele interior, exterior,
ou de outrem, contrapondo-a ao ponto de vista lingstico e esti-
lstico ento dominantes nos estudos da linguagem, e que repre-
sentavam as correntes de pensamento abstrato e idealista, ou
objetivismo abstrato e subjetivismo idealista, respectivamente,
como veremos mais tarde.
A coerncia metodolgica entre as obras do Crculo quanto
forma de aplicao do mtodo sociolgico fica evidente na intro-
duo ao livro Problemas da obra de Dostoievski (1929). Bakhtin
define assim os propsitos de sua anlise: en la base de nuestro
anlisis est la conviccin de que toda obra literaria tiene interna-
mente, inmanentemente, un carter sociolgico. En ella se cruzan
las fuerzas sociales vivas, y cada elemento de su forma est im-
pregnado de valoraciones sociales vivas. Por eso tambin un
anlisis puramente formal ha de ver en cada elemento de la es-
tructura artstica el punto de refraccin de las fuerzas vivas de la
sociedade, cual un cristal fabricado artificialmente cuyas facetas
se construyeron y se pulieron de tal manera que puedan refractar
los determinados rayos de las valoraciones sociales, y refractarlos
bajo un determinado ngulo (12, 191), ou seja, um ponto de vista
consideravelmente adequado ao vis marxista adotado pelos ou-
tros dois membros do Crculo
20
.
20
Em entrevistas publicadas no jornal Chelovek (1993) datadas de 1973-
74, Bakhtin rememora sua juventude, na descrio de Caryl Emerson:
Bakhtin claims he had always wanted to be a moral philosopher, a
myslitel (thinker); literary scholarship was for him a safe refuge from
politics during those years when others were being harassed,
organized, recruited. He insists that as a young college student in
Petrograd he had been absolutely apolitical. He lamented not only
the October Revolution but the prior February abdication as well; he
predicted that it would end badly and extremely; he went to no
meetings, profoundly distrusted Kerensky, and continued to sit in
41
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Problematizar uma potica sociolgica implica considerar
como sociolgicos todos os elementos envolvidos no interior des-
sa potica. assim que, analisando o discurso no romance, no
ensaio de mesmo nome (1934-1935), Bakhtin diz que a nica
estilstica adequada para esta particularidade do gnero roma-
nesco a estilstica sociolgica. A dialogicidade interna do dis-
curso romanesco exige a revelao do contexto social concreto, o
qual determina toda a sua estrutura estilstica, sua forma e seu
contedo, sendo que os determina no a partir de fora, mas de
dentro; pois o dilogo social ressoa no seu prprio discurso, em
todos os seus elementos, sejam eles de contedo ou de forma
(17, 105-106).
A unio orgnica de uma potica sociolgica com uma
estilstica sociolgica permite a Bakhtin realizar um dos seus mais
ambiciosos projetos: um estudo sociolgico da heterogeneidade
discursiva representada na obra literria e da heterogeneidade
real da cultura popular no seu livro A cultura popular na Idade
Mdia e no Renascimento: o contexto de Franois Rabelais (1940;
1965). Situando esse perodo histrico no limite de trs lnguas
latim clssico, latim medieval e as lnguas nacionais, Bakhtin
nos diz que nos limites das trs lnguas, a conscincia do tempo
devia tomar formas excepcionalmente agudas e originais. A cons-
cincia viu-se na fronteira das pocas e das concepes de mun-
do, pde, pela primeira vez, abarcar largas escalas para medir o
curso do tempo, sentir com cuidado o seu hoje to diferente da
vspera, as suas fronteiras e perspectivas. (20, 412).
E ainda, retomando a sua opo pelo pensamento concre-
to, ele diz: as lnguas so concepes do mundo, no abstratas,
mas concretas, sociais, atravessadas pelo sistema das aprecia-
es, inseparveis da prtica corrente e da luta de classes. Por
isso, cada objeto, cada noo, cada ponto de vista, cada aprecia-
libraries and read books. The image of a learned, apolitical, urbane,
witty, fastidious and aristocratic young Bakhtin that emerges from these
memoirs is in some tension, of course, with the mass-oriented Bakhtin
popular in Western radical circles (45, 108).
42
.~..J. .J~. ....
o, cada entoao, encontra-se no ponto de interseo das fron-
teiras das lnguas-concepes do mundo, englobado numa luta
ideolgica encarnecida. Nessas condies excepcionais, torna-se
impossvel qualquer dogmatismo lingstico e verbal, qualquer
ingenuidade verbal (20, 415).
Pelo percurso terico aqui mencionado, podemos elaborar
uma base terica para reflexo em torno de uma Teoria do Enun-
ciado Concreto, seja ele, cotidiano, artstico ou cientfico. Toda a
investigao desses gneros de enunciado, ou gneros do discur-
so, deve levar em conta os aspectos ticos, fenomenolgicos, his-
tricos, ideolgicos, sociolgicos e dialgicos em interao org-
nica. Nesse percurso terico, poderamos dizer que se encontra o
cronotopo
21
para a construo da Metalingstica, ou seja, de
uma disciplina que empreenda uma investigao verdadeiramente
cientfica do enunciado concreto
22
.
3. robena da iradnao
Um problema que se coloca para quem estuda as obras
dos tericos russos em portugus o da traduo e da falta de
uniformidade terminolgica. Se estudamos a obra do interior dela
mesma, percebemos o sentido que a adquire um determinado
conceito. Mas na relao com as outras obras do crculo que
alguns conceitos ficam comprometidos, visto que em uma obra
21
Para Bakhtin, o cronotopo (tempo-espao), termo emprestado das
cincias matemticas, a interligao entre as relaes espaciais e
as relaes temporais (19, 211).
22
A busca de uma investigao cientfica do enunciado, ou num sentido
largo, de um determinado domnio da cultura, j era prenunciada em
Toward a Philosophy of the Act, quando Bakhtin dizia que uma filosofia
cientfica s pode ser uma filosofia particular, isto , uma filosofia
dos vrios domnios da cultura e de sua unidade na forma de uma
transcrio terica de dentro dos objetos da criao cultural e da lei
imanente de seu desenvolvimento (2, 19).
43
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
ele representado por x e em outra por y, o que de certa forma
pode dificultar a compreenso ativa do conjunto da obra.
Isso pode se dever ao fato de que cada edio brasileira tem
um tradutor diferente, alm de derivar ora do original russo, ora
da traduo francesa, recorrendo, s vezes, traduo inglesa,
conforme apresentamos a seguir, em ordem cronolgica de pu-
blicao da primeira edio:
Bakhtin, M. (Volochinov) (1979). Marxismo e Filosofia
da Linguagem. Trad. do francs (edio de 1977) com
recorrncias constantes edio americana de 1973,
por Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira;
Bakhtin, M. (1981). Problemas da Potica de Dostoivski.
Trad. do original russo (edio de 1972), por Paulo Be-
zerra;
Bakhtin, M. (1987). A cultura popular na Idade Mdia e
no Renascimento: o contexto de Franois Rabelais. Trad.
da edio de francesa de 1970, por Yara Frateschi;
Bakhtin, M. (1988). Questes de Literatura e de Estti-
ca. A teoria do romance. Trad. do original russo de 1975,
por uma equipe de tradutores formada por Aurora F.
Bernardini e outros; e
Bakhtin, M. (1992) Esttica da Criao Verbal. Trad.
do francs, por Maria Ermantina G. B. Gomes Pereira.
Enquanto Bakhtin se diz interessado pela variao ter-
minolgica que abrange um nico e mesmo fenmeno, as
edies brasileiras revelam uma variao terminolgica para
uma nica e mesma palavra russa, comprometendo a unidade
temtica que orienta as formulaes tericas do Crculo, preci-
samente no que se refere a uma Teoria do Enunciado Concreto.
A importncia que o pensamento do Crculo vem adqui-
rindo nos estudos lingsticos brasileiros implica a necessidade
de iniciar um processo de discusso em torno da terminologia e
44
.~..J. .J~. ....
dos conceitos que articulam as suas formulaes tericas. Se,
por um lado, a lngua russa inacessvel para a maioria dos
pesquisadores, por outro, existe a possibilidade de comparar
tradues em outras lnguas, bem como comparar os conceitos
com as outras obras do Crculo publicadas em portugus.
Para demonstrar o problema, escolhemos as palavras rus-
sas vyskazyvanie e rechevye zhanry ou apenas zhanry, as quais
esto diretamente relacionadas ao tema de nossa dissertao. A
primeira palavra foi traduzida, nas edies francesa e brasileira
das obras do Crculo, ora por enunciado ora por enunciao, e a
segunda por gneros do discurso ou apenas gnero, alm de
modos de discurso, categorias de atos de fala, frmulas, etc.
O que acontece nas edies brasileiras das trs obras onde
encontramos esse problema uma falta de critrio quanto tra-
duo por um ou outro conceito. Isso acontece, provavelmente,
porque cada obra tem um tradutor ou equipe de tradutores dife-
rentes, o que de certa maneira dificulta um acompanhamento
aprofundado de outras obras do Crculo que no aquela que
objeto da traduo.
A primeira obra que apresenta esse problema Marxismo e
Filosofia da Linguagem (1979), assinadas por Bakhtin e
Volochinov. Nessa edio traduziu-se o conceito vyzkazyvanie
por enunciao, em todas as ocorrncias, conforme justifica em
nota a tradutora francesa Marina Yaguello:
Rappelons que le russe jazyk dsigne le langage, la langue, et la
langue-organe, le russe rec dsigne la parole, la langue, le langage,
le discours. J ai traduit jazyk tantt par langage comme dans le
titre, tantt par langue. Cependant, por supprimer lambiguit,
Bakhtine a fourg un nom compos: jazyk-rec (le langage) quil
oppose jazyk kak sistema form (la lange) et vyskazyvanje
(lnonciation ou acte de parole) (N.d.t.) (9, 90).
Comparando as citaes de Marxismo e Filosofia da Lin-
guagem que localizamos na obra de Todorov Mikhail Bakhtine. Le
45
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
principle dialogique. (1981)
23
com as da edio de Yaguello, en-
contramos no lugar de enunciao, o conceito enunciado, articu-
lado no interior de uma Teoria do Enunciado que desenvolvida
no captulo 4 do referido livro:
Lnonc se construit entre deux personnes socialement
organises, et sil ny a pas dinterlocuteur rel, on le prsuppose
en la personne du reprsentant normal, pour ainsi dire, du groupe
social auquel appartient le locuteur. Le di scours est ori ent vers
l i nterl ocuteur (30, 70)
En effet, lnonci ati on est le produit de linteraction de deux
individus socialement organiss et, mme sil ny a pas un
interlocuteur rel, on peut substituer celui-ci le reprsentant
moyen du groupe social auquel appartient le locuteur. Le mot
sadresse un i nterl ocuteur (9, 123)
Todorov reserva o conceito enunciao para se referir ao
contexto de produo do enunciado, ao contexto de enunciao
(30, 68), ou ainda interao verbal
24
, articulando, no interior da
obra do Crculo, uma Teoria do Enunciado e no uma Teoria da
Enunciao como aparece na traduo de Yaguello.
Na edio da obra de Bakhtin Problemas da Potica de
Dostoivski (1981), traduzido do russo por Paulo Bezerra, encon-
tramos os dois conceitos enunciado e enunciao sendo que,
na comparao com a edio francesa La Potique de Dostoievski
(1970)- descobrimos que a enunciao se apresenta como nonc
23
As tradues do russo constantes no livro de Todorov foram feitas
por Georges Philippenko com a coloborao de Monique Canto. (31,
177)
24
Essa relao apresentada no Prefcio de Esttica da Criao Verbal:
nos mesmos anos que Bakhtin se empenha em lanar as bases de
uma nova lingstica, ou, como dir mais tarde, translingstica (o
termo em uso hoje seria antes pragmtica), cujo objeto j no
mais o enunciado, mas a enunciao, ou seja, a interao verbal
(39, 15)
46
.~..J. .J~. ....
enunciado em quase todas as ocorrncias, como mostra o
exemplo abaixo:
Sempre que no contexto do autor h um discurso direto, o
de um heri, por exemplo, verificamos nos limites de um con-
texto dois centros do discurso e duas unidades do discurso: a
unidade da enunciao do autor e a unidade da enunciao do
heri. (13, 162)
La o, dans le texte dun auteur, intervint le discours direct,
celui dun personnage par exemple, nous trouvons lintrieur dun
seul contexte deux centres, deux units de discours: lnonc de
lauteur et lnonc du hros. (14, 244-245)
Finalmente, no livro de Bakhtin Questes de Literatura e
de Esttica. A teoria do romance (1993), traduzido do russo, loca-
lizamos no ensaio O discurso no romance, de 1934-1935, tam-
bm, a presena dos dois conceitos: enunciado e enunciao.
Nesse caso, comparamos com a edio francesa Esthtique et
thorie du Roman (1994) onde encontramos, tambm, os concei-
tos nonc e nonciation. O problema que na maioria das ocor-
rncias no existe coincidncia entre as duas tradues.
H casos em que a ocorrncia enunciao em portugus
aparece como nonc na edio francesa:
O verdadeiro meio da enunciao, onde ela vive e se forma,
um plurilinguismo dialogizado, annimo e social como lingua-
gem, mas concreto, saturado de contedo e acentuado como
enunciao individual. (17, 82).
Le vritable milieu de lnonc, l ou il vit et se forme, cest le
polylinguisme dialogis, anonyme et social comme le langage, mais
concret, mais sature de contenu, et accentu comme un nonc
individuel. (18, 96).
Tambm h ocorrncias em que nas duas edies encon-
tramos o conceito enunciao/nonciation, mas a ocorrncia
enunciado a que aparece mais vezes:
47
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
A filosofia da linguagem, a lingstica e a estilstica postulam
uma relao simples e espontana do locutor em relao sua
prpria linguagem, nica e singular, e uma realizao simples
dessa linguagem na enunciao monolgica do indivduo (17, 80).
La philosophie du langage, la linguistique et la stylistique,
postulent une relation simple et spontane du locuteur son
langage lui, seul et unique, et une ralisation de ce langage
dans lnonci ati on monologique dun individu (18, 94).
Nas duas outras obras do crculo, assinadas por Bakhtin,
que esto publicadas no Brasil A cultura popular na Idade
Mdia e no Renascimento: o contexto de Franois Rabelais (1987)
e Esttica da Criao Verbal (1992) no existe esse problema,
sendo que nesta ltima, no ensaio Os gneros do discurso,
toda a segunda parte dedicada ao enunciado, tendo por ttulo
O enunciado, unidade da comunicao verbal, no havendo a
qualquer ocorrncia de enunciao:
O estudo do enunciado, em sua qualidade de unidade real
da comunicao verbal, tambm deve permitir compreender
melhor a natureza das unidades da lngua (da lngua como sis-
tema): as palavras e as oraes. (21, 287).
Ltude de lnonc, en sa qualit duni t rel l e de l change
verbal , doit permettre aussi de mieux comprendre la nature des
uni ts de l angue (de la langue en tant que systme) les mots
et les propositions. (21a, 272).
Enquanto conceito, ou seja, enquanto um elemento do dis-
curso cientfico na tradio dos estudos lingsticos a partir de
Benveniste, enunciado e enunciao tem acepes diferentes:
enquanto enunciado se refere ao produto do discurso, enuncia-
o se refere ao processo ou situao de discurso. Ou mais
explicitamente, como afirma Benveniste no artigo O aparelho
formal da enunciao: o ato mesmo de produzir um enuncia-
do, e no o texto do enunciado, que nosso objeto (36, 82). Essa
48
.~..J. .J~. ....
distino entre produto e processo no encontra eco na obra do
Crculo, onde o todo do enunciado concreto compreende o pro-
duto o material verbal e o processo a situao em interao
orgnica. Para o Crculo, o enunciado concreto um elo da ca-
deia de comunicao verbal, ou seja, ele produto um aconte-
cimento nico na existncia e processo uma unidade da ca-
deia de comunicao verbal simultaneamente.
Embora esse contexto cientfico, a Teoria da Enunciao
de Benveniste, seja posterior a maioria das obras do Crculo nas
quais ocorre o problema, sem dvida ele tem grande importncia
no fluxo da obra do Crculo no Ocidente, e, principalmente, em
trs dos seus divulgadores na Frana: Julia Kristeva
25
, Marina
Yaguello e Tzvetan Todorov
26
, todos eles com forte ligao e en-
volvidos com as idias de Benveniste em relao a enunciao.
O outro problema relacionado com a traduo, trata da
palavra russa rechevye zhanry ou apenas zhanry, as quais de-
saparecem da obra de Bakhtin/Volochinov Marxismo e Filosofia
da Linguagem (1929). Nesse obra, a interao orgnica entre os
conceitos enunciado, dilogo e gneros do discurso se desintegra.
Logo no segundo captulo que trata da relao entre a infra-
estrutura e as superestruturas, os tericos russos dizem o se-
guinte: Mais tarde, em conexo com o problema da enunciao e
do dilogo, abordaremos, tambm, o problema dos gneros lin-
gsticos(10, 43). Comparando com a traduo inglesa later
on, in connection with the problem of the utterance and dialogue,
we shall again touch upon the problem of speech genres (11,
40), percebemos que enunciado utterance se torna enunciao
25
Foi Julia Kristeva que, em 1966, introduziu a obra de Bakhtin na
Frana, como demonstra Franois Dosse em seu Histria do
Estruturalismo vol. 2 (42, 74-76).
26
Todorov chega a promover uma relao dialgica entre o ensaio Se-
miologia da Lngua (1969), de Benveniste, e os Apontamentos 1970-
1971 (24), de Bakhtin, sugerindo que esse possa ter emprestado a
Benveniste a noo de interpretante. (30, 81).
49
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
e gneros do discurso speech genres se torna gneros lingsti-
cos, e mais tarde, modos de discurso, categorias de atos de fala,
discursos menores, modelagem, frmulas, frmulas estereotipa-
das, enfim, tantas acepes que a importncia desse conceito no
contexto do interior dessa obra, e, mais ainda, na sua relao
com as outras obras do crculo se desintegram de sua interao
orgnica com o enunciado concreto.
Nesse sentido, resolvemos comparar as citaes que apre-
sentam essa dificuldade de traduo, recorrendo forma que
elas aparecem citadas em um outro ensaio de Volochinov La
structure de lnonc (1930), deixando em nota, a forma que
adquirem na edio americana:
(1) La question bien forme, lexclamation, lordre, la prire, voil
les formes les plus typiques dnoncs de la vie quotidienne,
qui soient des totalits. Ils exigent tous et, surtout, lordre et
la prire un complment extra-verbal, mais aussi bien un
commencement de nature elle-mme extra-verbale. Chacun de
ces petis genres dnoncs, qui ont cours dans le quotidien,
suppose, pour tre accompli, que le discours soit en contact
avec le milieu extra-verbal, dune part, et le discours dautrui,
dautre part (16, 290).
(1a) Uma questo completa, a exclamao, a ordem, o pedido so
enunciaes completas tpicas da vida corrente. Todas (parti-
cularmente as ordens, os pedidos) exigem um complemento
extraverbal assim como um incio no verbal. Esses tipos de
discursos menores da vida cotidiana so modelados pela frio
da palavra contra o meio extravebal e contra a palavra do
outro (10, 124)
27
.
27
The full-fledged question, exclamation, command, request these are
the most typical forms of wholes in behavioral utterances. All of them
(especially the command and request) require an extraverbal
complement and, indeed, an extraverbal commencement. The very type
of structure these little behavioral genres will achieve is determined
by the effect of its coming up against the extraverbal milieu and against
another word (i.e., the words of other people) (11, 96).
50
.~..J. .J~. ....
(2) Ainsi, la faon dont est formule un ordre est dtermine par les
lments qui peuvent faire obstacle la ralisation de celui-ci,
par le degr de soumission quil peut rencontrer, etc. Le genre
prend donc sa forme acheve dans les traits particuliers,
contingents et uniques, qui dfinissent chaque situation vcue
(16, 290-291).
(2a) Assim, a forma da ordem determinada pelos obstculos que
ela pode encontrar, o grau de submisso do receptor, etc. A
modelagem das enunciaes responde aqui a particularida-
des fortuitas e no reiterveis das situaes da vida corrente
(10, 125)
28
(3) Mais on ne peut parler de genres constitus, propres au
discours quotidien, que si lon est en prsence de formes de
communication qui soient, dans la vie quotidienne, quelque peu
stables et fixes par le mode de vie et les circonstances (16,
291).
(3a) S se pode falar de frmulas especficas, de esteretipos no
discurso da vida cotidiana quando existem formas de vida
em comum relativamente regularizadas, reforadas pelo uso
e pelas circunstncias (10, 125)
29
.
(4) Ainsi, on peut observer un type de genre constitu, tout fait
spcifique dans le bavardage de salon: cette conversation
superficielle, qui nengage rien, entre gens du mme monde,
o le seul critre qui diffrencie ceux qui y ont part lauditoire
est la distinction entre hommes et femmes. L slaborent
des formes spcifiques de discours: lallusion, les sous-entendu,
la rptition de petits rcits connus de tous comme frivoles, etc.
(16,291).
28
Thus, the form of a command will take is determined by the obstacles
it may encounter, the degree of submissiveness expected, and so on.
The structure of the genre in these instances will be in accord with the
accidental and unique features of behavioral situations (11, 96).
29
Only when social custom and circumstances have fixed and stabilized
certain forms in behavioral interchange to some appreciable degree,
can one speak of specific types of structure in genres of behavioral
speech (11, 96-97).
51
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
(4a) Assim, encontram-se tipos particulares de frmulas estereo-
tipadas servindo s necessidades da conversa de salo, ftil e
que no cria nenhuma obrigao, em que todos os partici-
pantes so familiares uns aos outros e onde a diferena prin-
cipal entre homens e mulheres. Encontram-se elaboradas
formas particulares de palavras-aluses, de subentendidos,
de reminiscncias de pequenos incidentes sem nenhuma im-
portncia, etc. (10, 125)
30
.
(5) Un autre type de genre constitu se forme aussi dans la con-
versation entre mari et femme ou entre frre et soeur. Suppo-
sons une file dattente, o se trouvent runis par hasard des
gens de catgorie sociale diffrente, dans une administration
quelconque, ou en quelque lieu que ce soit, on entendra, dans
chaque cas, des dclarations et des rpliques qui se distin-
guent radicalement les unes des autres par leur dbut, leur fin
et la structure mme des noncs qui les composent. Les veills
villageoises, les sautreies dans les villes, les entretiens des
ouvriers pendant la pause de midi connaissent des types de
genre qui leur sont propres (16,291).
(5a) Um outro tipo de frmula elabora-se na conversa entre mari-
do e mulher, entre irmo e irm. Pessoas inteiramente estra-
nhas umas s outras e reunidas por acaso (numa fila, numa
entidade qualquer) comeam, constroem e terminam suas de-
claraes e suas rplicas de maneira completamente diferen-
te. Encontram-se ainda outros tipos nos seres no campo,
nas quermesses populares na cidade, na conversa dos oper-
rios hora do almoo, etc. (10, 125-126)
31
.
30
So, for instance, an entirely special type of structure has been worked
out for the genre of the light and casual causerie of the drawing room
where everyone feels at home and where the basic differentiation
within the gathering (the audience) is that between men and women.
Here we find devised special forms of insinuation, half-saying, allu-
sions to little tales of an intentionally nonserious character, and so on.
(11,97).
31
A different type of structure is worked out in the case of conversation
between husband and wife, brother and sister, etc. In the case where
a random assortment of people gathers while waiting in a line or
52
.~..J. .J~. ....
(6) Toute situation de la vie quotidienne possde un auditoire, dont
lorganisation est bien prcise, et dispose donc dun rpertoire
spcifique de petits genres appropris. Dans chaque cas, le
genre quotidien sadapte au sillon que la communication so-
ciale parat avoir trac por lui et cela, pour autant quil repr-
sente le reflet idologique du type, de la structure, du but et de la
constitution propres aux rapports de communication sociale (16,
291).
(6a) Toda situao inscrita duravelmente nos costumes possui um
auditrio organizado de uma certa maneira e conseqente-
mente um certo repertrio de pequenas frmulas correntes. A
frmula estereotipada adapta-se, em qualquer lugar, ao canal
da interao social que lhe reservado, refletindo ideologica-
mente o tipo, a estrutura, os objetivos e a composio social do
grupo (10, 126)
32
(7) Le genre quotidien est un lment du milieu social: quil sagisse
de la fte, des loisirs, des relations de salon, datelier, etc. Il
concide avec ce milieu, il sy trouve limit et il est aussi dter-
min par lui en tous ses composants internes (16, 291).
(7a) As frmulas da vida corrente fazem parte do meio social, so
elementos da festa, dos lazeres, das relaes que se travam no
hotel, nas fbricas, etc. Elas coincidem com esse meio, so por
eles delimitadas e determinadas em todos os aspectos (10,
126)
33
.
conducting some business statements and exchanges of words will
start and finish and be constructed in another, completely different
way. Village sewing circles, urban carouses, workers lunchtime chats,
etc., will all have their own types. (11, 97).
32
Each situation, fixed and sustained by social custom, commands a
particular kind of organization of audience and, hence, a particular
repertoire of little behavioral genres. The behavioral genre fits
everywhere into the channel of social intercourse assigned to it and
functions as an ideological reflection of its type, structure, goal, and
social composition (11, 97).
33
The behavioral genre is a fact of social milieu: of holiday, leisure
time, and of social contact in the parlor, the workshop, etc. It meshes
with that milieu and is delimited and defined by it in all its internal
aspects (11, 97).
53
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Poderamos apresentar mais uma srie de exemplos nos
quais enunciado e enunciao concorrem para uma expresso
mais adequada da expresso russa vyskazivanie, bem como g-
nero do discurso, ou apenas gnero a traduo mais coerente
para rechevye zhanry ou apenas zhanry, mas com isso perder-
amos o objetivo de nossa dissertao que de discorrer de ma-
neira introdutria sobre a Teoria do Enunciado Concreto desen-
volvida pelo Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev. Nesse sen-
tido, deixaremos a resposta questo que intitula este captulo
em aberto, lanando mo de outros argumentos para contextua-
lizar mais francamente a nossa opo pelos conceitos enunciado
e gneros do discurso.
II. A ingnagen
A interao verbal a realidade fundamental da
linguagem (30, 71).
A investigao dos conceitos que articulam a Teoria do
Enunciado Concreto implica em cada um deles preencher uma
certa extenso de sentido: ele tem de ser dinmico, histrico-
fenomenolgico, sociolgico, ideolgico e, finalmente dialgico.
Se tomarmos alguma definio de linguagem, dada pelo Crcu-
lo, encontraremos, em cada uma delas, todas as caractersticas
acima citadas.
A linguagem dinmica, ou seja, um produto da vida
social que no de nenhum modo congelado ou petrificado: ela
est em perptuo vir a ser e, em seu desenvolvimento, ela segue a
evoluo da vida social (16, 288). Ela um fenmeno histrico-
fenomenolgico e sociolgico: a essncia verdadeira da lingua-
gem o acontecimento social que consiste em uma interao
verbal, e se encontra concretizada em um ou mais enunciados.
(16, 288)
34
. A linguagem ideolgica, ela procede da organizao
social do trabalho e da luta de classes (16,287). E como todo
34
Esse enunciado j havia aparecido em MFL (1929), quando da crtica
ao objetivismo abstrato e ao subjetivismo idealista: A verdadeira
substncia da lngua [linguagem] no constituda por um sistema
abstrato de formas lingsticas nem pela enunciao [enunciado]
monolgica isolada, nem pelo ato psicofisiolgico de sua produo,
mas pelo fenmeno social da interao verbal, realizada atravs da
enunciao [enunciado] ou das enunciaes [enunciados] (10, 123).
56
.~..J. .J~. ....
conceito do Crculo, ela tambm dialgica: a linguagem vive
apenas na comunicao dialgica daqueles que a usam. preci-
samente essa comunicao dialgica que constitui o verdadeiro
campo da vida da linguagem (13, 158), o dilogo a troca de
palavras a forma mais natural de linguagem (16,292).
Se promovermos uma relao dialgica entre essas pro-
postas tericas do Crculo e as dificuldades encontradas por
Saussure em torno de uma trabalho cientfico da linguagem o
que o obriga a criar a dicotomia lngua/fala e escolher a primeira
como objeto da lingstica encontraremos, nesse ltimo, al-
guns princpios sobre a linguagem:
a) A linguagem tem um lado individual e um lado social,
sendo impossvel conceber um sem o outro (44, 16);
b) A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo
um sistema estabelecido e uma evoluo: a cada ins-
tante, ela uma instituio atual e um produto do pas-
sado. Parece fcil, primeira vista, distinguir entre es-
ses sistemas e sua histria, entre aquilo que ele e o
que foi; na realidade, a relao que une ambas to
ntima que se faz difcil separ-las (44, 16);
c) se estudarmos a linguagem sob vrios aspectos ao
mesmo tempo, o objeto da Lingstica nos aparecer
como um aglomerado confuso de coisas heterclitas,
sem liame entre si. Quando se procede assim, abre-se
a porta a vrias cincias Psicologia, Antropologia,
Gramtica Normativa, Filologia etc. , que separamos
claramente da Lingstica, mas que, por culpa de um
mtodo incorreto, poderiam reivindicar a linguagem
como um de seus objetos (44, 16).
A primeira e a segunda observao de Saussure implicam
uma relao de concordncia do Crculo para com o terico
genebrino, na medida em que todos os elementos do todo do enun-
ciado concreto se encontram em interao orgnica. J a terceira
57
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
observao no encontra eco nas formulaes tericas do Crcu-
lo, cujo percurso terico observa a linguagem sob vrios aspectos
ao mesmo tempo, todos esses aspectos em interao orgnica.
Nesse sentido, as portas so abertas para uma Psicologia Objeti-
va, uma Antropologia Filosfica
35
, uma Sociologia do Discurso, e,
finalmente, uma Metalingstica.
Saussure vai eleger a lngua como norma de todas as ou-
tras manifestaes da linguagem (44, 16-17), como uma parte
determinada e essencial da linguagem que a parte social da
linguagem, exterior ao indivduo, que, por si s, no pode nem
cri-la nem modific-la; ela no existe seno em virtude duma
espcie de contrato estabelecido entre os membros da comu-
nidade (44, 22).
Essa viso esttica e abstrata da linguagem que Saussure
utiliza para constituir a Lingstica no se confunde com a abor-
dagem dinmica e concreta da vida da linguagem promovida pelo
Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev. Para Bakhtin, por exem-
plo, toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de
emprego (a linguagem cotidiana, a prtica, a cientfica, a artsti-
ca, etc.), est impregnada de relaes dialgicas. Mas a lingsti-
ca estuda a linguagem propriamente dita com sua lgica espe-
cfica na sua generalidade, como algo que torna possvel a comu-
nicao dialgica, pois ela abstrai conseqentemente as relaes
propriamente dialgicas. Essas relaes se situam no campo do
discurso, pois este por natureza dialgico e, por isto, tais rela-
es devem ser estudadas pela metalingstica, que ultrapassa
os limites da lingstica e possui objeto autnomo e tarefas pr-
prias (13, 158-159).
Todas essas observaes nos servem de parmetro inicial
para a discusso das crticas formuladas pelo Crculo no s
35
Ver Cap. 7 Anthropologie Philosophique em Todorov, T. Mikhal
Bakhtine. Le principe dialogique. suivi de crits du cercle de Bakhtine.
(31, 145-172), e Faraco, C. A. O dialogismo como chave de uma
antropologia filosfica (47, 113-126).
58
.~..J. .J~. ....
lingstica, mas tambm estilstica tradicional. Considerar a
linguagem enquanto um fenmeno vivo, concretizado em enun-
ciados, vai exigir do Crculo o estudo de outros gneros cientfi-
cos de investigao desse mesmo objeto, os quais vo ser carac-
terizados aqui como oriundos de um pensamento abstrato ob-
jetivismo abstrato e de um pensamento idealista subjetivismo
idealista, contrapondo-se ao pensamento concreto que orienta as
investigaes de Bakhtin, Volochinov e Medvedev.
1. snbjeiivisno ideaisia, o objeiivisno absiraio e o
ennnciado concreio
Quando procuramos compreender o todo da obra do Cr-
culo Bakhtin/Volochinov/Medvedev nos encontramos no inte-
rior de uma arquitetnica, que reflete e refrata, ao mesmo tempo,
as concepes monolgicas do pensamento abstrato e do pensa-
mento idealista, no que se refere ao enunciado concreto. como
se a crtica promovida pelo Crculo penetrasse no mais ntimo
aspecto de cada disciplina cientfica investigada o outro, e ani-
masse os conceitos interiores de um ponto de vista exterior. E
essa investigao complementar, ou situada na fronteira das dis-
ciplinas, como eles costumam dizer, que possibilita a percepo
do enunciado concreto, do acontecimento real da linguagem,
fundamental para compreender o relacionismo, ou o dialogismo
entre o pensamento concreto, o pensamento abstrato e o pensa-
mento idealista, e suas respectivas tarefas autnomas.
A forma como cada um desses pensamentos concreto,
abstrato, idealista se defrontam sobre o material verbal vai im-
plicar num determinado gnero. Esses gneros cientficos me-
talingstico, esttico, lingstico, formalista, psicolgico, estils-
tico, etc. vo dar um acabamento especfico a esse material,
considerando-o sob diferentes formas e contedos.
Desde a obra do perodo fenomenolgico de Bakhtin, Toward
a Philosophy of the Act (1919-1921), j existe uma abordagem
59
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
dos pensamentos abstrato/concreto/idealista, no sentido de bus-
car uma compreenso do ato concreto em oposio pureza lgi-
ca do pensamento abstrato, ou criatividade idealista. Para o
terico russo, qualquer expresso muito mais concreta do que
uma significao pura ela distorce e embota a pureza e a valida-
de do sentido em si mesmo. por isso que ns nunca entende-
mos uma expresso, em seu sentido total, no pensamento abs-
trato (2, 31).
Um dos medos de Bakhtin era que uma Filosofia do Ato
responsvel se revertesse em uma abordagem psicologista ou
subjetivista: o subjetivismo e o psicologismo so diretamente
correlatos do objetivismo (objetivismo lgico) e [uma palavra ileg-
vel
36
] apenas quando o ato responsvel dividido abstratamente
em seu sentido objetivo e no processo subjetivo de sua realiza-
o. Do ponto de vista do ato, tomado em seu todo indivisvel,
no h nada que seja subjetivo e psicolgico. Na sua responsabi-
lidade [respondibilidade], o ato apresenta em si sua prpria ver-
dade [pravda] como algo para ser acabado uma verdade que
une os momentos subjetivo e psicolgico, da mesma forma que
une o momento do que universal (vlido universalmente) ao
momento do que individual (real). Essa verdade [pravda] unit-
ria e nica do ato responsvel realizado posto como algo para
ser acabado qual uma verdade [pravda] sinttica (2, 29).
Essa busca da interao orgnica entre o subjetivo e o psi-
colgico, ao mesmo tempo que entre o universal e o individual
tambm permeia a crtica ao racionalismo quando esse pensa-
mento contrape o que objetivo, como sendo racional, ao que
subjetivo, individual, singular considerado esses ltimos como
irracionais e fortuitos: a racionalidade inteira de um ato respon-
svel ou ao atribudo aqui [] ao que objetivo, ao que foi
36
Algumas palavras ou grupos de palavras de Toward a Philosophy of
the Act estavam ilegveis no manuscrito original, o qual segundo
Bocharov, seu editor russo, encontra-se em condies precrias (2,
XVII).
60
.~..J. .J~. ....
separado abstratamente do ato responsvel, enquanto tudo que
fundamental e que sobra aps essa subtrao, considerado
como um processo subjetivo. Entretanto, a unidade transcendental
inteira da cultura objetiva , na realidade, irracional e elementar,
totalmente divorciada do centro unitrio e nico constitudo por
um ato consciente. Evidentemente, um divrcio total , na reali-
dade, impossvel, e at onde pensarmos, realmente, essa unida-
de brilha com uma luz emprestada da nossa responsabilidade.
Somente um ato ou ao tomado, do exterior, como um fato fisi-
olgico, biolgico, ou psicolgico, pode se apresentar como ele-
mentar e irracional, como qualquer ser abstrato. Mas do interior
de um ato responsvel, o nico que responsavelmente, realiza o
ato, conhece uma luz clara e distinta, na qual ele realmente ori-
enta a si mesmo (2, 30).
Nos dois pargrafos anteriores, tivemos uma amostra das
crticas formuladas ao subjetivismo idealista e ao objetivismo
abstrato, a partir do ponto de vista do ato concreto, da constru-
o do enunciado concreto como um todo. E os elementos cons-
tituintes desse todo j aparecem aqui numa concepo tica-
fenomenolgica que j sugere os pontos de vista sociolgico, ide-
olgico e dialgico, que sero aplicados mais tarde ao enunciado
concreto.
Para Bakhtin, o evento inacabado pode ser claro e distin-
to, em todos os seus momentos constituintes, para um partici-
pante no ato ou ao que ele realiza (2, 30). O autor desse ato
conhece as pessoas e os objetos presentes a esse acontecimento
concreto, ao mesmo tempo que os valores reais e concretos des-
sas pessoas e objetos. Segundo o terico russo, ele [o autor] intui
a vida interior deles [os outros participantes da situao] como
tambm os seus desejos; ele compreende o sentido real e neces-
srio da inter-relao entre ele e essas pessoas e objetos a ver-
dade [pravda] do estado de relaes dada e compreende a ne-
cessidade de seu ato realizado, isto , no a lei abstrata desse
ato, mas a necessidade real e concreta condicionada pelo seu
nico lugar no contexto dado do evento inacabado. E todos esses
61
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
momentos, que compe o evento em sua totalidade, esto pre-
sentes para ele como algo dado e, tambm, como algo para ser
acabado numa luz unitria, numa conscincia responsvel, uni-
tria e nica, e eles so realizados num ato responsvel, nico e
unitrio (2, 30).
As implicaes do todo do enunciado concreto do ato
nos seus elementos vo adquirindo outros desdobramentos nas
discusses em torno do problema do contedo, do material e da
forma, e da interao orgnica entre esses problemas. Pensar
cada um desses problemas isoladamente implica em no perder
a viso do todo. E essa uma das crticas que o Crculo direciona
regularmente lingstica e a sua concepo abstrata do ato
concreto, do enunciado concreto.
Para o terico russo, a lingstica opera com enunciados
neutros, v neles somente o fenmeno da lngua, relaciona-os
apenas com a unidade da lngua, mas no com a unidade de
conceito, de prtica de vida, da Histria, do carter de um indiv-
duo, etc. (4, 46). Em oposio a esses enunciados neutros da
lingstica, Bakhtin diz que o enunciado isolado e concreto sem-
pre dado num contexto cultural e semntico-axiolgico (cient-
fico, artstico, poltico, etc.) ou no contexto de uma situao isola-
da da vida privada; apenas nesses contextos o enunciado isolado
vivo e compreensvel: ele verdadeiro ou falso, belo ou disfor-
me, sincero ou malicioso, franco, cnico, autoritrio e assim por
diante (4, 46).
Essa busca da verdade, da compreenso do todo do enun-
ciado concreto, adquire contornos sociolgicos e ideolgicos em
Marxismo e Filosofia da Linguagem. Nessa obra, Bakhtin/
Volochinov tece, de um ponto de vista sociolgico e ideolgico,
crticas s concepes abstratas e idealistas, denominando-as
Objetivismo Abstrato e Subjetivismo Idealista. Para os tericos
russos, as posies fundamentais da primeira Subjetivismo Ide-
alista (A) e da segunda Objetivismo Abstrato (B), so antteses
uma da outra, conforme apresentamos a seguir:
62
.~..J. .J~. ....
1A A lngua uma atividade, um processo criativo
ininterrupto de construo (energia), que se materia-
liza sob a forma de atos individuais de fala. (10, 72)
1B A lngua um sistema estvel, imutvel, de formas
lingsticas submetidas a uma norma fornecida tal
qual conscincia individual e peremptria para esta.
(10, 82)
2A As leis da criao lingstica so essencialmente as
leis da psicologia individual. (10, 72)
2B As leis da lngua so essencialmente leis lingsticas
especficas, que estabelecem ligaes entre os signos
lingsticos no interior de um sistema fechado. Estas
leis so objetivas relativamente a toda conscincia sub-
jetiva. (10, 82)
3A A criao lingstica uma criao significativa, an-
loga criao artstica. (10, 72).
3B As ligaes lingsticas especficas nada tm a ver com
valores ideolgicos (artsticos, cognitivos ou outros).
No se encontra, na base dos fatos lingsticos, ne-
nhum motor ideolgico. Entre a palavra e seu sentido
no existe vnculo natural e compreensvel para a
conscincia, nem vnculo artstico. (10, 82).
4A A lngua, enquanto produto acabado (ergon), enquan-
to sistema estvel (lxico, gramtica, fontica), apre-
senta-se como um depsito inerte, tal como a lava fria
da criao lingstica, abstratamente construda pelos
lingistas com vistas sua aquisio prtica como ins-
trumento pronto para ser usado. (10,73).
4B Os atos individuais de fala constituem, do ponto de
vista da lngua, simples refraes ou variaes fortui-
tas ou mesmo deformaes das formas normativas.
Mas so justamente estes atos individuais de fala que
explicam a mudana histrica das formas da lngua;
enquanto tal, a mudana , do ponto de vista do sis-
63
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
tema, irracional e desprovida de sentido. Entre o sis-
tema da lngua e sua histria no existe nem vnculo
nem afinidade de motivos. Eles so estranhos entre
si. (10, 83).
Tanto as teses do Subjetivismo Idealista a lngua enquanto
criao quanto as do Objetivismo Abstrato a lngua enquanto
norma no so suficientes para dar conta do projeto do Crculo,
ou seja, de uma investigao do enunciado concreto. nesse
sentido que vamos apresentar as crticas formuladas por Bakhtin/
Volochinov a cada uma dessas orientaes do pensamento lin-
gstico, aproveitando, ao mesmo tempo, para construir o ponto
de vista especfico da investigao promovida pelo Crculo.
Bakhtin/Volochinov formula as seguintes crticas ao
Objetivismo Abstrato:
a) a compreenso que o indivduo tem de sua lngua no
est orientada para a identificao de elementos
normativos do discurso, mas para a apreciao de sua
nova qualidade contextual (10, 103).
b) a enunciao [enunciado] monolgica fechada consti-
tui, de fato, uma abstrao. A concretizao da palavra
s possvel com a incluso dessa palavra no contexto
histrico real de sua realizao primitiva. Na enuncia-
o [enunciado] monolgica isolada, os fios que ligam a
palavra a toda a evoluo histrica concreta foram cor-
tados (10,103).
c) a reflexo lingstica de carter formal-sistemtico foi
inevitavelmente coagida a adotar em relao s lnguas
vivas uma posio conservadora e acadmica, isto , a
tratar a lngua viva como se fosse algo acabado, o que
implica uma atitude hostil em relao a todas as inova-
es lingsticas. A reflexo lingstica de carter for-
mal-sistemtico incompatvel com uma abordagem
histrica e viva da lngua (10,104).
64
.~..J. .J~. ....
d) as formas que constituem uma enunciao [enunciado]
completa s podem ser percebidas e compreendidas
quando relacionadas com outras enunciaes [enunci-
ados] completas pertencentes a um nico e mesmo do-
mnio ideolgico. (10, 105).
e) a forma lingstica somente constitui um elemento abs-
tratamente isolado do todo dinmico da fala, da enuncia-
o [enunciado] A enunciao [enunciado] como um
todo no existe para a lingstica (10, 105).
f) o sentido da palavra totalmente determinado por seu
contexto. [] os contextos possveis de uma nica e
mesma palavra so freqentemente opostos [], encon-
tram-se numa situao de interao e de conflito tenso
e ininterrupto (10, 106-107).
g) o objetivismo abstrato coloca a lngua fora do fluxo da
comunicao verbal [] Entretanto, a lngua
inseparvel desse fluxo e avana justamente com ele.
Na verdade, a lngua no se transmite; ela dura e per-
dura sob a forma de um processo evolutivo contnuo.
Os indivduos no recebem a lngua pronta para ser
usada; eles penetram na corrente da comunicao
verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa
corrente que sua conscincia desperta e comea a
operar (10, 107-108).
h) o objetivismo abstrato [] no sabe ligar a existncia da
lngua na sua abstrata dimenso sincrnica com sua
evoluo. [] Torna-se, assim, impossvel a conjuno
dialtica entre necessidade e liberdade e at, por assim
dizer, a responsabilidade lingstica. Assenta-se, aqui,
o reino de uma concepo puramente mecanicista da
necessidade no domnio da lngua (10, 108).
i) na base dos fundamentos tericos do objetivismo abs-
trato esto as premissas de uma viso do mundo
racionalista e mecanicista, ao menos favorveis a uma
65
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
concepo correta da histria; ora, a lngua um fen-
meno puramente histrico (10, 108-109).
O principal aspecto das crticas reside na incapacidade
dessas duas tendncias do pensamento lingstico o objetivismo
abstrato e o subjetivismo idealista em perceber, ou querer en-
frentar a realidade tica, histrica-fenomenolgica, sociolgica,
e enfim dialgica do enunciado concreto, incluindo a o proble-
ma da criatividade lingstica e da teoria da expresso subja-
cente ao subjetivismo idealista ou subjetivismo individualista
, o qual criticado pelo Crculo nos seguintes termos:
a) a teoria da expresso subjacente ao subjetivismo indivi-
dualista deve ser completamente rejeitada. O centro or-
ganizador de toda enunciao [enunciado], de toda ex-
presso, no interior, mas exterior: est situado no
meio social que envolve o indivduo. [] A enunciao
[enunciado] enquanto tal um puro produto da intera-
o social, quer se trate de um ato de fala determinado
pela situao imediata ou pelo contexto mais amplo que
constitui o conjunto das condies de vida de uma de-
terminada comunidade lingstica. (10, 121).
b) o subjetivismo individualista tem razo em sustentar
que as enunciaes [enunciados] isoladas constituem a
substncia real da lngua e que a elas est reservada a
funo criativa da lngua. Mas est errado quando igno-
ra e incapaz de compreender a natureza social da
enunciao e quando tenta deduzir esta ltima do mun-
do interior do locutor, enquanto expresso desse mun-
do interior. (10, 122)
37
.
37
Um trecho desse enunciado aparece em Todorov, T. Mikhal Bakhtin.
Le principe dialogique: Mais le subjectivisme individualiste a tort
en ce quil ignore et ne comprend pas la nature sociale de lnonc, et
66
.~..J. .J~. ....
c) A estrutura da enunciao e da atividade mental a ex-
primir so de natureza social
38
. A elaborao estilstica
da enunciao [enunciado] de natureza sociolgica e a
prpria cadeia verbal, qual se reduz em ltima anlise
a realidade da lngua, social. Cada elo dessa cadeia
social, assim como toda a dinmica de sua evoluo.
(10, 122).
d) O subjetivismo individualista tem toda a razo quando
diz que no se pode isolar uma forma lingstica do seu
contedo ideolgico. Toda palavra ideolgica e toda
utilizao da lngua est ligada evoluo ideolgica.
Esta errado quando diz que esse contedo ideolgico
pode igualmente ser deduzido das condies do
psiquismo individual. (10, 122).
e) o subjetivismo individualista est errado em tomar, da
mesma maneira que o objetivismo abstrato, a enuncia-
o [enunciado] monolgica como seu ponto de partida
bsico. (10, 122).
As formulaes tericas das duas orientaes e a forma
com que se debruam sobre a linguagem no servem aos prop-
sitos de Bakhtin, Volochinov e Medvedev em relao a uma in-
vestigao cientfica do enunciado concreto.
Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov chama ateno para o
fato de que ao considerar que s o sistema lingstico pode dar
conta dos fatos da lngua [linguagem], o objetivismo abstrato re-
jeita a enunciao [enunciado], o ato de fala, como sendo indivi-
dual. Como dissemos, esse o proton pseudos, a primeira men-
tira, do objetivismo abstrato (10, 109).
quil essaie de le dduire du monde intrieur du locuteur, comme
expresssion de ce monde intrieur. (31, 56).
38
Idem, La structure de lnonc, ainsi que celle de lexperience
exprimable mme, est une structure social (31,56)
67
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Pelo mesmo motivo, para explicar a realidade concreta da
linguagem, os tericos do Crculo iro rejeitar a outra corrente de
pensamento lingstico: o subjetivismo individualista, ao con-
trrio, s leva em considerao a fala. Mas ele tambm considera
o ato de fala como individual e por isso que tenta explic-lo a
partir das condies da vida psquica individual do sujeito fa-
lante. E esse o seu proton pseudos (10, 109).
Rejeitando tanto a tese quanto a anttese, resta ao Crculo
promover uma sntese dialtica: na realidade, o ato de fala, ou,
mais exatamente, seu produto, a enunciao [enunciado], no
pode de forma alguma ser considerado como individual no senti-
do estrito do termo; no pode ser explicado a partir das condies
psicofisiolgicas do sujeito falante. A enunciao [enunciado]
de natureza social (10, 109).
No podemos esquecer que o enunciado que serve de base
para as formulaes do ponto de vista do Crculo o enunciado
concreto, que tem um autor e um interlocutor, ou seja, que
uma unidade da comunicao verbal. na estrutura tica, hist-
rico-fenomenolgica, sociolgica e dialgica desse enunciado que
eles iro fundamentar as seguintes formulaes tericas:
a) A lngua com sistema estvel de formas normativamente
idnticas apenas uma abstrao cientfica que s pode
servir a certos fins tericos e prticos particulares. Essa
abstrao no d conta de maneira adequada da reali-
dade concreta da lngua [linguagem].
b) A lngua constitui um processo de evoluo ininterrup-
to, que se realiza atravs da interao verbal social dos
locutores.
c) As leis da evoluo lingstica no so de maneira algu-
ma as leis da psicologia individual, mas tambm no
podem ser divorciadas da atividade dos falantes. As leis
da evoluo lingstica so essencialmente leis sociol-
gicas.
68
.~..J. .J~. ....
d) A criatividade da lngua no coincide com a criativida-
de artstica nem com qualquer outra forma de criativi-
dade ideolgica especfica. Mas, ao mesmo tempo, a
criatividade da lngua no pode ser compreendida in-
dependentemente dos contedos e valores ideolgicos
que a ela se ligam. A evoluo da lngua, como toda
evoluo histrica, pode ser percebida como uma ne-
cessidade cega de tipo mecanicista, mas tambm pode
tornar-se uma necessidade de funcionamento livre,
uma vez que alcanou a posio de uma necessidade
consciente e desejada.
e) A estrutura da enunciao [enunciado] uma estrutura
puramente social. A enunciao [enunciado] como tal
s se torna efetiva entre falantes. O ato de fala indivi-
dual (no sentido estrito do termo individual) uma
contradictio in adjecto. (10, 127).
a partir de uma concepo sociolgica do enunciado con-
creto, como a realidade material da linguagem, ou seja, com um
ato que se constitui organicamente de uma parte verbal a lngua
e uma parte extraverbal a situao que Bakhtin/Volochinov/
Medvedev podem distinguir entre esse enunciado e o enunciado
monolgico isolado a frase, a sentena, a orao bem como,
conceber a criatividade lingstica no como um ato puramente
individual, mas como uma criatividade sociolgica e dialgica,
realizada na interao verbal, ou seja, na dimenso do dilogo
entre falantes de uma determinada comunidade lingstica.
2. A Irase e o ennnciado concreio
fundamental distinguir, na compreenso do todo da obra
do Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev, o enunciado concre-
to da frase, sentena, orao lingsticas, bem como do ato de
fala individual (o ponto de vista do subjetivismo idealista). Essa
distino um dos eixos das crticas formuladas ao pensamento
abstrato, ou objetivismo abstrato, que norteia as investigaes
69
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
lingsticas e formalistas, por exemplo, visto que o pensamento
do Crculo no vai investigar a frase enquanto uma unidade lin-
gstica pura, como uma unidade independente do todo dinmi-
co do enunciado. Por outro lado, essa mesma investigao do
todo dinmico do enunciado no vai considerar o enunciado con-
creto o ato de fala como sendo individual, como prprio ao
pensamento idealista ou subjetivismo idealista de que fala
Bakhtin/Volochinov.
Em 1924, ao tratar do problema do material verbal no inte-
rior da lingstica, Bakhtin diz: at hoje a lingstica ainda
no ultrapassou cientificamente a orao complexa: este o mais
longo fenmeno da lngua j explorado lingstica e cientifica-
mente: tem-se a impresso de que a lngua precisamente lings-
tica e metodicamente pura de repente termina ali e de repente
tem incio a cincia, a poesia, etc.; entretanto a anlise lingsti-
ca pura pode ser levada mais adiante, por mais difcil que parea
e por mais tentador que seja introduzir aqui pontos de vista alheios
lingstica (4, 47). Portanto, importante distinguir entre as
formas da lngua e as formas do enunciado concreto.
A frase percebida pelo Crculo como um enunciado mo-
nolgico, fechado, que no tem relao com o exterior, no tem
autor, no tem conceito. Ela retirada do funcionamento real
para ser desconstruda em unidades menores como palavra,
fonemas, morfemas, etc. E essas categorias lingsticas s so
aplicveis no interior do territrio da enunciao [enunciado]; elas
deixam de ser teis quando se trata de definir o todo. O mesmo
se d com as categorias sintticas, por exemplo a orao: a cate-
goria orao meramente uma definio da orao como uma
unidade dentro de uma enunciao [enunciado], mas de nenhu-
ma maneira como entidade global (10, 140). Segundo Bakhtin/
Volochinov impossvel encontrar na orao os elementos que a
converte em um enunciado concreto.
Para os tericos russos, a lingstica promove um estudo
do enunciado monolgico isolado com as seguintes caracte-
rsticas:
70
.~..J. .J~. ....
a) procura as relaes imanentes no interior do enuncia-
do;
b) o alcance mximo da anlise a frase complexa;
c) as relaes exteriores aos limites do enunciado so ig-
noradas;
d) h um fosso entre a sintaxe e os problemas de compo-
sio do discurso;
e) a frase, a orao so unidades convencionais.
Em contraposio aos estudos puramente lingsticos, o
estudo promovido pelo Crculo, com base no enunciado concreto,
um estudo complementar, ou seja, metalingstico. Para
Bakhtin, o estudo do enunciado, em sua qualidade de unidade
real da comunicao verbal, tambm deve permitir compreender
melhor a natureza das unidades da lngua (da lngua como sis-
tema): as palavras e as oraes (21, 287). Ele considera que a
abstrao cientfica da lingstica no pode ser tomada como um
fenmeno real e concreto, porque assim ela pode cair na fico.
Podemos dizer, ento, que a natureza abstrata da reflexo lin-
gstica no consegue refletir o todo do enunciado concreto, per-
manecendo a, no interior de uma reflexo objetiva-abstrata.
No ensaio Os gneros do discurso (1952-1953) so expli-
citadas as diferenas entre a orao (unidade da lngua) e o enun-
ciado (unidade da comunicao verbal), as quais distinguem tam-
bm, por um lado, a natureza do pensamento abstrato da natu-
reza do pensamento concreto, e por outro, o estudo do hbrido
desses dois pensamentos, isto , a passagem da orao ao enun-
ciado completo, onde ela se torna uma resposta ou uma com-
preenso responsiva de outro locutor.
A distino entre a frase e o enunciado se torna mais clara
nessa citao de Bakhtin, onde ele esboa a sntese entre o dado
a orao, a frase, a sentena e o criado o enunciado: as
pessoas no trocam oraes, assim como no trocam palavras
(numa acepo rigorosamente lingstica), ou combinaes de
71
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
palavras, trocam enunciados constitudos com a ajuda de unida-
des da lngua palavras, combinaes de palavras, oraes; mes-
mo assim, nada impede que o enunciado seja constitudo de uma
nica orao, ou de uma nica palavra, por assim dizer, de uma
nica unidade da fala (o que acontece sobretudo na rplica do
dilogo), mas no isso que converter uma unidade da lngua
numa unidade da comunicao verbal (21, 297).
Mas quais so as caractersticas da frase, sentena, ora-
o que as impedem de se tornar uma enunciado? Para respon-
der a essa questo, precisaramos encontrar caractersticas dis-
tintas entre uma e outra categoria. Vejamos com quais caracte-
rsticas podemos definir a frase, a orao e a sentena:
1) um fato gramatical, dado;
2) uma unidade da lngua;
3) tem um acabamento gramatical, abstrato do elemento,
pode ser reproduzida ilimitadamente;
4) no marcada pela alternncia de sujeitos falantes, ou
seja, no leva em conta a comunicao verbal real e viva;
5) o contexto da orao o contexto do discurso de um
nico e mesmo sujeito falante (o locutor).
6) no pertence a ningum e no se dirige a ningum, ou
seja, no tem autor nem destinatrio.
Todas essas caractersticas no permitem a investigao
do enunciado concreto, visto que as categorias frase, orao, sen-
tena se encontram no eixo de abstrao, retiradas do funciona-
mento real e concreto da linguagem, sendo produtos da constru-
o terica abstrata. J o enunciado concreto se define por carac-
tersticas distintas:
a) um fato real, criado;
b) uma unidade da comunicao verbal, isto , uma
unidade do gnero;
72
.~..J. .J~. ....
c) apresenta um acabamento real, ou seja, so irrepro-
duzveis (embora possam ser citados);
d) as suas pausas so pausas reais;
e) tem autor (e expresso) e destinatrio.
Essas caractersticas, presentes na investigao do todo
do enunciado concreto, refletem tambm a necessidade de se dis-
tinguir entre lngua e discurso. No ensaio O problema do texto
(1959-1961), Bakhtin resume, de maneira bastante clara, a rela-
o entre lngua e discurso, entre orao e enunciado: O sujeito
falante (a individualidade natural generalizada) e o autor do
enunciado. A alternncia dos sujeitos falantes e alternncia dos
locutores (dos autores de um enunciado). Pode-se estabelecer um
princpio de identidade entre a lngua e o discurso, porque no
discurso se apagam os limites dialgicos do enunciado, mas ja-
mais se pode confundir lngua e comunicao verbal (entendida
como comunicao dialgica efetuada mediante enunciados).
possvel a identidade absoluta entre duas ou mais oraes (so-
brepostas, como duas figuras geomtricas, elas coincidem). H
mais: qualquer orao, mesmo complexa, dentro do fluxo ilimita-
do do discurso pode ser repetida ilimitadamente e de uma forma
perfeitamente idntica, mas, enquanto enunciado (ou fragmento
de enunciado), nenhuma orao, ainda que constituda de uma
nica palavra, jamais pode ser repetida, reiterada, duplicada: sem-
pre temos um novo enunciado (mesmo que em forma de citao)
(23, 334-335). , talvez, por isso que o fenmeno do discurso
citado o enunciado de outrem to importante nas formula-
es tericas do Crculo.
O sentido fenomenolgico do enunciado concreto, criado
no momento nico de sua existncia, implica num esforo para
compreender a dinmica da sua construo, da sua arquitetnica:
dentro dos limites de um nico e mesmo enunciado, uma orao
pode ser reiterada (repetio, autocitao), porm, cada ocorrn-
cia representa um novo fragmento de enunciado, pois sua posi-
o e sua funo mudaram no todo do enunciado (23, 335), ou
73
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
seja, a noo do enunciado como um acontecimento, como uma
criao nica, implica a adoo de um ponto de vista dinmico
para sua investigao.
O material que serve de base de investigao para o pes-
quisador sempre um material representado, isto , o enunciado
de outrem. Em outras palavras, todo discurso um discurso ci-
tado. Portanto, resta ao pesquisador encontrar um ponto de vista
para investigar esse discurso citado, e esse ponto de vista ns
acreditamos que pode ser encontrado se considerarmos o enun-
ciado concreto, seja ele de qual gnero for, como a base material
com a qual pode interagir uma Arquitetnica da Representao.
3. ennnciado concreio cono base naieria
da Meiaingnsiica. o diaogisno
Um dos conceitos mais importantes da obra do Crculo o
dilogo. Talvez seja esse mesmo conceito a base de toda investi-
gao do enunciado concreto desencadeada por Bakhtin/
Volochinov/Medvedev. Se pensarmos em conceitos como enun-
ciado, comunicao verbal, social, ideolgica, dialgica, artstica
, interao verbal, situao, encontraremos em sua base concre-
ta a dimenso de um dilogo, pois o todo do enunciado se cons-
titui como tal graas a elementos extra-lingsticos (dialgicos), e
este todo est vinculado aos outros enunciados (23, 335-336),
ou seja, na dimenso do criado o enunciado enquanto um
acontecimento, uma interao verbal entre sujeitos falantes, que
encontramos a natureza dialgica da linguagem.
Pensar o enunciado como unidade real, concreta, da co-
municao verbal significa tomar os elementos dialgicos como
fonte de uma compreenso ativa e cientfica. Um dos problemas
colocados pelo Crculo de saber se a cincia pode tratar de
uma individualidade to absolutamente irreproduzvel como o
enunciado, que estaria fora do mbito em que opera o conheci-
74
.~..J. .J~. ....
mento cientfico propenso a generalizao (23, 335). Segundo
Bakhtin, isso possvel, e ele nos d trs argumentos:
a) qualquer cincia, em seu ponto de partida, lida com
singularidades irreproduzveis e, em toda a sua traje-
tria, permanece ligada a elas;
b) a cincia, e acima de tudo a filosofia, pode e deve estu-
dar a forma especfica e a funo dessa individualidade;
c) esse estudo cientfico do particular deve levar em con-
ta a absoluta necessidade de uma correo perma-
nente que previna de uma pretenso a uma anlise
abstrata totalmente exaustiva (lingstica, por exem-
plo) de um enunciado concreto (23,335).
O campo desses estudos situa-se na fronteira entre a an-
lise da lngua (o enunciado isolado) e a anlise do sentido (o enun-
ciado dialgico). E esse campo uma campo que pertence a
cincia (23, 335). Bakhtin chama esse campo de estudo de Me-
talingstica.
Para ele, as pesquisas metalingsticas, evidentemente
no podem ignorar a lingstica e devem aplicar os seus resulta-
dos. A lingstica e a metalingstica estudam um mesmo fen-
meno concreto, muito complexo e multifactico o discurso, mas
o estudam sob diferentes aspectos e de diferentes ngulos de
viso. Devem completar-se mutuamente e no fundir-se. Na
prtica, os limites entre elas so violados com muita freqncia
(13, 157).
Esse carter de complementaridade entre as disciplinas
enfatizado por Bakhtin: a lingstica conhece, evidentemente, a
forma composicional do discurso dialgico e estuda as suas
particularidades sintticas lxico-semnticas. Mas ela as estuda
enquanto fenmenos puramente lingsticos, ou seja, no plano
da lngua, e no pode abordar, em hiptese alguma, a especifici-
dade das relaes dialgicas entre as rplicas. Por isto, ao estu-
75
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
dar o discurso dialgico, a lingstica deve aproveitar os resul-
tados da metalingstica (13, 158).
Tudo o que, anteriormente, era chamado de aspecto extra-
verbal, extra-lingstico, subentendido do enunciado e que, ge-
ralmente, compreendia o conceito situao, encontra na Metalin-
gstica uma expresso mais adequada, e esses aspectos, pela
prpria tradio de estudos de um campo de fronteira de discipli-
nas, passam a ser chamados de aspectos metalingsticos, e mais
precisamente, relaes dialgicas.
O objeto de estudo da Metalingstica caracteriza-se, en-
to, como relaes dialgicas. Essas relaes so extralingsticas,
ao mesmo tempo, porm, no podem ser separadas do campo
do discurso, ou seja, da lngua enquanto fenmeno integral con-
creto. A linguagem vive apenas na comunicao dialgica daque-
les que a usam. precisamente essa comunicao dialgica que
constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem (13, 158).
por se situar no campo do discurso, que por natureza dialgico,
que as relaes dialgicas devem ser estudas pela metalingsti-
ca, que ultrapassa os limites da lingstica e possui objeto aut-
nomo e tarefas prprias (13, 159) Eis algumas dessas tarefas:
a) estudo dos aspectos e das formas da relao dialgica
que se estabelece entre os enunciados e entre suas for-
mas tipolgicas (os fatores do enunciado): a forma do
enunciado;
b) estudo dos aspectos extra-lingsticos e no significan-
tes (artsticos, cientficos e outros) do enunciado: a fun-
o social do enunciado;
c) estudo da palavra de outrem: a orientao da palavra
entre palavras, a sensao distinta da palavra do outro
e os diversos meios de reagir diante dela (13, 176).
Numa definio mais especfica do conceito relaes
dialgicas, Bakhtin diz que ela uma relao marcada por uma
profunda originalidade e que no pode ser resumida a uma re-
76
.~..J. .J~. ....
lao de ordem lgica, lingstica, psicolgica ou mecnica, ou
ainda a uma relao de ordem natural. Estamos perante uma
relao especfica de sentido cujos elementos constitutivos s
podem ser enunciados completos (ou considerados completos,
ou ainda potencialmente completos) por trs dos quais est (e
pelos quais se expressa) um sujeito real ou potencial, o autor do
determinado enunciado (23, 354).
Ao estudar o discurso, os enunciados completos e concre-
tos, que so as unidades da comunicao verbal, e que so, tam-
bm, irreproduzveis (embora possam ser citados), estamos na
realidade, por uma necessidade cientfica, estudando o enuncia-
do no interior de alguma relao dialgica, na qual necessaria-
mente, o pesquisador tem um papel exterior, o papel de terceiro
no dilogo. nesse sentido que, para o pesquisador, s existem
enunciados citados.
Pensando o dilogo como uma grande unidade de reflexo
do pensamento concreto, ou seja, o todo do dilogo encontramos,
em interao orgnica, de um lado, a comunicao social e sua
base econmica, e de outro, a comunicao verbal ou interao
verbal realizada em enunciados concretos.
Como j vimos anteriormente, o todo do enunciado concre-
to o produto da interao entre falantes num determinado con-
texto e no interior de uma situao social complexa. Este o
cenrio, onde o enunciado concreto, o discurso deve ser compre-
endido. Segundo Volochinov, o discurso como que o cenrio
do ato imediato de comunicao no processo no qual ele engen-
drado, e esse ato de comunicao , por sua vez, um fator do
largo campo de comunicao da comunidade da qual provm os
falantes (6, 79).
O enunciado dialgico, o discurso dialgico, a comuni-
cao , tambm, dialgica. Nesse sentido, importante salientar
que todo o projeto de investigao dialgica do enunciado concre-
to uma investigao dinmica. Conseqentemente, o seu con-
ceito de comunicao difere daquele completamente pronto e
esttico, e segundo o Crculo, radicalmente incorreto desenvol-
77
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
vido pelos formalistas nos anos 20. Vejamos a comparao entre
uma e outra perspectiva:
Formalistas: Dados dois membros da sociedade. A (o autor) e R
(o leitor); a relao social entre eles so constantes
e estveis num momento dado; dado tambm
uma comunicao pronta X, que ser simplesmente
transmitida de A para R. O que (contedo) dessa
mensagem X difere do seu como (forma), e a
orientao pela expresso (como) caracters-
tica da palavra artstica.
Crculo: Na realidade, a relao entre A e R est mudando e se
desenvolvendo constantemente, e ela muda no proces-
so comunicativo.
E no existe uma comunicao X pronta. Ela se desen-
volve no processo de comunicao entre A e R.
Alm disso, X no transmitida de um para outro, mas
construda entre eles como um tipo de ponte ideolgi-
ca, ela construda no processo da interao deles. E
esse processo causa ao mesmo tempo: a unidade tem-
tica do trabalho desenvolvido e a forma de sua realiza-
o real. Isso no pode ser separado
Se separarmos objetos, trabalhos prontos do processo
social vivo e objetivo, ns nos encontraremos com abs-
traes que prescindem de qualquer movimento, cria-
o e interao (7, 152).
Pensar a linguagem, em sua configurao dialgica, signi-
fica consider-la como um acontecimento social, fruto de alguma
atividade de comunicao social (trabalho) realizada na forma de
uma comunicao verbal determinada, isto , da interao verbal
de um ou mais enunciados construdos num processo dialgico
de alternncia dos sujeitos envolvidos, e no na concepo est-
tica apresentada, como vimos, pelos formalistas neste perodo.
Nesse sentido, importante compreender como o Crculo articu-
la as relaes de comunicao social que vo ser um dos funda-
mentos do cenrio que compreende o todo do enunciado con-
creto.
78
.~..J. .J~. ....
Numa tipologia geral de relaes de Comunicao Social,
Volochinov sugere a seguinte:
a) a comunicao artstica;
b) as relaes de produo (nas usinas, nos ateliers, nos
kolkhoses, etc.);
c) as relaes de negcios (nas administraes, nos orga-
nismos pblicos, etc.);
d) as relaes cotidianas (os encontros e conversas na rua,
nas cantinas, consigo mesmo, etc.); e
e) as relaes ideolgicas strictu sensu: propaganda, es-
cola, cincia, a atividade filosfica sobre todas as suas
formas. (16, 289).
Assim sendo, encontramos na estrutura arquitetnica do
enunciado o abrigo para diferentes tipos de atividade humana,
ou seja, de comunicao social. Devemos enxergar no enunciado
espaos organizados e animados, ou seja, dinmicos, compostos
de uma certa atividade humana (Comunicao Social) e de uma
certa atividade de linguagem (Comunicao Verbal) gnero do
discurso engendradas num determinado enunciado ou enun-
ciados na dimenso de um dilogo. Para o Crculo, todos os dis-
cursos so dialgicos.
Para melhor compreender a linguagem, precisamos com-
preender que a sua verdadeira substncia no constituda por
um sistema abstrato de formas lingsticas nem pelo enunciado
monolgico isolado, nem pelo ato psicofisiolgico de sua produo,
mas pelo fenmeno social da interao verbal, realizada atravs
do enunciado ou dos enunciados (10, 123).
Essa perspectiva dialgica, sociolgica, fenomenolgica e
histrica, nos leva a uma outra observao de Bakhtin/Volochinov:
a compreenso dialgica por natureza, ou seja, a compreen-
so est para o enunciado assim como uma rplica est para a
79
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
outra no dilogo (10, 132). Em um outro ponto, eles dizem o
problema do dilogo comea a chamar cada vez mais a ateno
dos lingistas e, algumas vezes, torna-se mesmo o centro das
preocupaes em lingstica. Isso perfeitamente compreens-
vel, pois, como sabemos, a unidade real da lngua que realizada
na fala (Sprache als Rede) no a enunciao [enunciado]
monolgica individual e isolada, mas a interao de pelo menos
duas enunciaes [enunciados], isto , o dilogo (10, 145-146).
Toda essa discusso, realizada na dimenso dialgica, pode
ser resumida no seguinte esquema, apresentado no ensaio La
structure de lnonc (1930), o qual implica uma interao org-
nica entre os seus elementos, e, ao mesmo tempo, preenche a
natureza ideolgica, sociolgica, dialgica e lingstica envolvi-
das no todo do enunciado concreto:
Organizao econmica da sociedade
A comunicao social
A interao verbal (comunicao verbal)
Os enunciados
As formas gramaticais de linguagem
Aps apresentar esse esquema, Volochinov diz que ele ser-
vir de fio diretor no estudo dessa unidade concreta, que releva
da parole e que ns chamaremos enunciado (16, 289). , ento,
o enunciado concreto que se torna a unidade de base para a
compreenso do esquema estruturado acima.
A interao orgnica entre o enunciado concreto e a intera-
o verbal um dos princpios bsicos do pensamento do Crcu-
lo. na interao verbal (comunicao verbal) que eles encon-
tram a realidade fundamental da linguagem. Para Volochinov,
80
.~..J. .J~. ....
toda comunicao, toda interao verbal se realiza sob a forma
de uma troca de enunciados, isto , na dimenso de um dilogo
(16, 292). Esse um dos motivos da crtica lingstica e ao seu
objeto a lngua formulada por Bakhtin: o objeto da lingstica
formado pela matria isolada, pelos meios da comunicao verbal
sozinhos mas no pela comunicao verbal, nem pelos enunci-
ados enquanto tais, nem pelas relaes (dialgicas) que existem
entre eles, nem pelas formas da comunicao verbal nem pelos
gneros verbais (30, 79).
Mergulhando no todo da obra podemos aproximar os con-
ceitos discurso, comunicao e dilogo, e encontrar os seus pon-
tos de convergncia para com o objetivo de explicar o funciona-
mento do enunciado concreto. Nesse sentido, apresentamos trs
citaes: a primeira de Volochinov, a segunda de Bakhtin/
Medvedev e a terceira de Bakhtin/Volochinov:
O discurso verbal, no no sentido estreito da lingstica, mas no
seu sentido sociolgico largo e concreto este o meio objetivo no
qual o contedo da psique apresentado (6, 83).
Se tomarmos a palavra comunicativo no seu sentido mais lar-
go e mais geral, ento, todo enunciado comunicativo A comu-
nicao, compreendida nesse sentido largo, um elemento cons-
titutivo da linguagem como tal. (7, 93-94)
O dilogo, no sentido estrito do termo, no constitui, claro,
seno uma das formas, verdade que das mais importantes, da
interao verbal. Mas pode-se compreender a palavra dilogo
num sentido amplo, isto , no apenas como a comunicao em
voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicao
verbal, de qualquer tipo que seja (10, 123).
Essa compreenso, tanto do discurso, como da comunicao
e do dilogo, no sentido largo, reflete a necessidade de compreen-
der o enunciado concreto em trs dimenses. Podemos dizer que
no interior do enunciado concreto, que no todo de sua articula-
o, os conceitos tm sempre um carter tridimensional, e nesse
81
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
caso, existem trs dimenses para se pensar as suas relaes
dialgicas:
a) o micro-dilogo: o dilogo interior;
b) o dilogo no sentido estrito: o dilogo exterior realizado
numa determinada situao;
c) o dilogo no sentido largo, ou seja, o grande dilogo: o
dilogo infinito em que no h nem a primeira nem a
ltima palavra.
Se observarmos atentamente o todo da obra, veremos que
os conceitos principais atuam dessa maneira e, ento, podemos
formular o seguinte esquema de reflexo:
enunciado concret o dilogo t empo
interior micro-dilogo pequena temporalidade
exterior dilogo imediato
de outrem grande-dilogo grande temporalidade
A vida do enunciado concreto se encontra realizada nes-
sas trs dimenses de dilogo. Do ponto de vista do pesquisa-
dor, podemos dizer que:
a) A primeira no acessvel ao pesquisador, embora ele
saiba de sua existncia concreta por experincia prpria.
Sendo assim, ela s pode ser observada em sua repre-
sentao literria no dilogo do heri com ele mesmo.
b) A segunda compreende o dilogo de duas ou mais pes-
soas onde a resposta , em geral, imediata, existe
alternncia de sujeitos. Nesse caso, o pesquisador o
terceiro, cujo olhar exterior consegue perceber a relao
eu/outro efetivada no dilogo;
c) A terceira corresponde a dimenso de resposta no ime-
diata, onde as relaes dialgicas entre os enunciados
82
.~..J. .J~. ....
concretos, vivos, constri o fenmeno, estudado exaus-
tivamente pelo Crculo, do discurso de outrem do enun-
ciado de outrem que adentra a estrutura do enun-
ciado, isto , o interior do meu discurso. Essa dimenso
aparece tambm em um ponto da obra sob a denomina-
o de dilogo inconcluso.
Derivado do conceito de dilogo e de uma concepo
relacionista do mundo, da natureza dialgica da conscincia e da
vida humana, Bakhtin nos diz que el dilogo inconcluso es la
nica forma adecuada de expresin verbal de una vida humana
autntica. La vida es dialgica por su naturaleza.Vivir significa par-
ticipar en un dilogo: significa interrogar, or, responder, esta de
acuerdo, etc. El hombre participa en este dilogo todo y con toda su
vida: con ojos, labios, manos, alma, espritu, con todo el cuerpo, con
sus actos. El hombre se entrega todo a la palavra y esta palavra
forma parte de la tela dialgica de la vida humana, del simposio
universal. Las imgenes cosificadas, objetuales, son profundamen-
te inadecuadas tanto para la vida como para la palavra. El modelo
cosificado del mundo se est sustuyendo por el modelo dialgico.
Cada pensamiento y cada vida lheam a formar parte de un dilogo
inconcluso. Tamben es impermisible la cosificacin de la palavra:
sua naturaleza tambin es dialgica (24, 334).
Essa busca pela no coisificao da palavra necessria
para fugir ao procedimento puramente mecnico, o qual, segundo
Bakhtin, no permite perceber as relaes dialgicas. Ainda se-
gundo o mesmo terico, no se podem contemplar, analisar e
definir as conscincias alheias como objetos, como coisas: comu-
nicar-se com elas s possvel dialogicamente. Pensar nelas im-
plica em conversar com elas, pois do contrrio elas voltariam ime-
diatamente para ns o seu aspecto objetificado: elas calam, fe-
cham-se e imobilizam-se nas imagens objetificadas acabadas
(13, 58). Essa fuga da coisificao, da fetichizao, encontra eco
nas observaes de Volochinov aqui citados na segunda parte do
primeiro captulo dessa dissertao.
83
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
De acordo com Bakhtin, o enunciado existente, surgido
de maneira significativa num determinado momento social e his-
trico, no pode deixar de tocar os milhares de fios dialgicos
existentes, tecidos pela conscincia ideolgica em torno de um
dado objeto de enunciao, no pode deixar de ser participante
ativo do dilogo social. Ele tambm surge desse dilogo como seu
prolongamento, como sua rplica, e no sabe de que lado ele se
aproxima desse objeto (17, 86)
39
.
Para que o enunciado toque pelo menos alguns desses fios
dialgicos e ideolgicos, necessrio haver, por parte do pesqui-
sador, uma atitude responsiva ativa, visto que a compreenso
de uma fala viva, de um enunciado vivo sempre acompanhada
de uma atitude responsiva ativa []; toda compreenso prenhe
de resposta e, de uma forma ou de outra, forosamente a produz:
o ouvinte torna-se o locutor (21, 290), ou seja, o pesquisador o
observador que se situa no exterior, no grande dilogo, lugar e
tempo grande temporalidade onde pode promover as mais
variadas relaes dialgicas, e promovendo essas relaes
dialgicas acaba criando um novo elo nessa cadeia da comunica-
o verbal.
por isso que o carter humanista, de negao da coisifi-
cao como explicao das cincias humanas, sempre encontra
um lugar ativo e importante no interior de cada obra do Crculo,
como por exemplo nesta citao de Bakhtin/Volochinov: a vida
comea apenas no momento em que uma enunciao [enunciado]
encontra outra, isto , quando comea a interao verbal, mesmo
que no seja direta, de pessoa a pessoa, mas mediatizada pela
literatura (10, 179), ou como aparece ainda em outra obra, assi-
39
Em francs, no h a ocorrncia enunciao: Un nonc vivant,
significativement surgi un moment historique et dans un milieu social
dtermins, ne peut manquer de toucher des milliers de fils dialogiques
vivants, tisss par la conscience socio-ideologique autour de lobjet de
tel nonce et de participer activement au dialogue social. Du reste,
cest de lui que lnonc est issu: il est comme sa continuation, sa
rplique, il naborde pas lobjet en arrivant don ne sait o. (18, 100).
84
.~..J. .J~. ....
nada por Bakhtin; ser significa comunicarse (24, 327). a in-
vestigao da vida da lngua, dos gneros do discurso, enfim da
linguagem viva que est sendo, a todo momento, instigada pelo
Crculo.
Podemos dizer que o que Bakhtin formula um ponto de
vista da linguagem, que leva em considerao os aspectos cient-
ficos da lngua na sua generalidade, mas que insiste numa abor-
dagem do funcionamento real da linguagem, onde podemos en-
contrar a verdade do acontecimento particular e nico de um
enunciado concreto. Essa linha de pensamento vai atravessar
todo o desenvolvimento da obra do crculo, desdobrando-se nos
conceitos Gneros do Discurso, Tema, Expressividade, Estilos e
Entonaes que orientam a investigao do enunciado concreto e
que tambm vo adquirindo uma extenso de sentido adequado
cada obra, seja de Bakhtin, Volochinov ou Medvedev, no senti-
do de construo de uma nova disciplina: a metalingstica. Esse
mesmo escopo terico que adentra s obras dos trs pensadores
russos , tambm, um dos argumentos utilizados para requerer
a autoria de todas elas para Bakhtin, como j foi tratado ante-
riormente nessa dissertao.
Buscar a verdade do enunciado concreto implica compre-
ender a arquitetnica de sua representao em sua natureza ti-
ca, histrico-fenomenolgica, sociolgica e dialgica. O que pre-
tendemos no terceiro captulo dessa dissertao procurar a ver-
dade desse enunciado concreto na dimenso dos conceitos prin-
cipais definidos pelo Crculo com essa finalidade.
85
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
III. A Teoria do Innnciado Concreio
A lngua penetra na vida atravs dos enunciados con-
cretos que a realizam, e tambm atravs dos enuncia-
dos concretos que a vida penetra na lngua.
(21, 282)
Para discutir a Teoria do Enunciado Concreto do Crculo
Bakhtin/Volochinov/Medvedev, tornou-se importante uma inves-
tigao da evoluo do pensamento do crculo, ou seja, uma an-
lise diacrnica do todo da obra no que se refere ao conceito enun-
ciado. Esse conceito estvel intercambia-se e se une a outros
conceitos: palavra-enunciado, signo-enunciado, ato de fala-enun-
ciado, obra-enunciado, texto-enunciado, discurso-enunciado,
expresso-enunciado, idia-enunciado, enfim, uma srie de con-
ceitos que aqui se encontram na fronteira de vrias disciplinas
que tratam da linguagem e que recobrem pontos de vista histri-
co-fenomenolgico, sociolgico, ideolgico, tico, esttico e meta-
lingstico, num processo de interao orgnica.
Essa estratgia de escolher um conceito enunciado para
dialogar com todas as outras disciplinas que se debruam sobre a
linguagem, e que nas edies francesas e brasileiras aparece tam-
bm como enunciao, se revela altamente produtiva no sentido
de facilitar a compreenso do carter dinmico do pensamento de
Bakhtin, Volochinov e Medvedev. O que procuraremos, a seguir,
levantar algumas dessas relaes dialgicas com intuito, tambm,
de justificar a nossa opo pelo conceito enunciado.
Cada conceito do Crculo um eu da Arquitetnica, cada
definio de conceito permite enxergar a extenso do todo, ou
86
.~..J. .J~. ....
seja, os outros conceitos. por isso que h uma interao org-
nica entre os conceitos no interior desse todo. A importncia in-
dividual do conceito reflete e refrata as suas relaes com todos
os outros, a partir do interior da reflexo metalingstica, tica,
ideolgica e sociolgica, e tambm, no exterior, pela comparao
do mesmo com sua definio lingstica, esttica, psicolgica,
formalista, etc. .
Num primeiro momento, vamos nos debruar no percurso
que o conceito enunciado desenvolve na obra do Crculo, tentan-
do abarcar todas as definies com que ele definido, mesmo
que ainda no com esse nome.
Um dos primeiros textos do Crculo, Toward a Philosophy
of the Act (1919-1921), j prenunciava a preocupao com o todo.
Nesse texto, Bakhtin nos d a dimenso da palavra completa, da
unidade da palavra enquanto todo, a qual, segundo ele, compre-
enderia os seguintes aspectos:
a) aspecto contedo/sentido: conceito a designao de
um objeto;
b) aspecto expressivo: imagem;
c) aspecto emotivo-volitivo: entonao expressa minha
atitude valorativa sobre o objeto.
40
Esses aspectos j indicam que, para o Crculo, no h enun-
ciados neutros. Eles consideram que um enunciado isolado e
concreto sempre dado num contexto cultural e semntico-
axiolgico (cientfico, artstico, poltico, etc.) ou no contexto de
uma situao isolada da vida privada; apenas nesses contextos o
enunciado isolado vivo e compreensvel: ele verdadeiro ou
falso, belo ou disforme, sincero ou malicioso, franco, cnico, au-
toritrio e assim por diante (4, 46).
40
Esses aspectos do todo da palavra vo encontrar, posteriormente,
um lugar dentre as caractristicas do enunciado concreto.
87
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Voltando ao problema da palavra, do material verbal, en-
contramos no ensaio, Le discours dans la vie et le discours dans
la posie (1926), assinado por Volochinov, o lugar onde ela se
torna elemento integrante do enunciado. Tratando aqui do enun-
ciado cotidiano, Volochinov nos diz que o todo do enunciado
composto de uma parte verbal a palavra (forma composicional)
e de uma parte extra-verbal que corresponde situao (forma
arquitetnica). Essa parte extra-verbal a situao se integra
ao enunciado como um elemento indispensvel sua constitui-
o semntica (5, 191).
A situao, a forma arquitetnica do enunciado, compre-
ende os seguintes elementos:
a) elemento espacial: horizonte espacial comum;
b) o elemento semntico: o conhecimento e a compreen-
so da situao (Tema);
c) o elemento axiolgico: o valor comum.
Esses elementos extra-verbais do enunciado concreto, ali-
ados aos aspectos composicionais da palavra o conceito, a ima-
gem, a entonao se tornam uma unidade orgnica. A investi-
gao da parte verbal, imanente ao enunciado, deve ser relacio-
nada a esses elementos extra-verbais. O horizonte social (valor)
que organiza, por um lado, a forma a escolha da palavra e a sua
disposio, e tambm, por outro, a entonao.
Um outro aspecto importante desse ensaio que, no funci-
onamento da sociedade, alguns valores no precisam ser enun-
ciados: na verdade, os principais valores sociais, que enrazam
imediatamente nas particularidades da vida econmica do grupo
social dado no so mais enunciados: eles entram na carne e no
sangue de todos os representantes deste grupo; eles organizam
as aes e condutas das pessoas; eles so de algum modo solda-
dos s coisas e aos fenmenos correspondentes; por isso que
eles no requerem uma formulao verbal particular (5, 193), de
88
.~..J. .J~. ....
qualquer maneira esses valores se realizam em algum material
semitico, seja pela mmica, gestualidade, expresso facial e ou-
tros, que so tambm de natureza extra-verbal.
A abordagem do Crculo nasce do esforo de aplicar o m-
todo sociolgico forma composicional do enunciado concreto,
de maneira a promover uma anlise imanente e encontrar nele
os elementos que permitem a sua interao orgnica enquanto
um todo concreto. Para Volochinov, toda a estrutura formal do
discurso depende em larga medida da relao entre o enunciado
de uma parte, e de outra parte a comunho de valores que supo-
mos existir no meio social ao qual o discurso dirigido (5, 195).
Para compreendermos todos os aspectos do enunciado
verbal como eles se organizam e tomam forma precisamos
observar a dupla orientao do locutor: 1. em direo ao ouvinte,
e 2. em direo ao objeto do enunciado o tema. Segundo
Volochinov, toda palavra realmente pronunciada e no sepul-
tada no dicionrio a expresso e o produto da interao social
de trs participantes: o locutor (o autor), o ouvinte (o leitor) e isto
de que se fala (o heri)
41
(5, 198).
Perseguindo a noo de enunciado concreto, tema de nossa
dissertao, percebemos j nesse ensaio uma explicao dessa
unidade da comunicao verbal que serve de base para as refle-
xes do Crculo: O enunciado concreto (e no a abstrao lin-
gstica) nasce, vive e morre no processo da interao social dos
participantes do enunciado. Sua significao e sua forma so
determinadas, essencialmente, pela forma e pelo carter dessa
interao (5, 198).
Se vimos at agora a estrutura do enunciado exterior, ou
seja, na relao locutor/ouvinte, como o Crculo resolveria, en-
to, o problema do enunciado interior, ou seja, a dimenso psico-
lgica e subjetiva do enunciado?
41
Ou o tema, como aparece em Marxismo e Filosofia da Linguagem.
(10, 128-136)
89
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Como podemos compreender, ento, um discurso monol-
gico como, por exemplo: o discurso de um orador, o curso de um
professor, o monlogo de um autor, as reflexes em voz alta de
um homem sozinho, o cinema, a televiso?
Segundo as formulaes do Crculo, todos os discursos
so dialgicos pela sua estrutura semntica e estilstica. A opo-
sio entre um discurso dialgico e um discurso monolgico s
possvel na perspectiva da forma exterior, ou seja, se no mo-
mento da sua realizao a resposta no imediata, e o todo do
enunciado, do dilogo, se completa na grande temporalidade,
no grande dilogo.
A mesma orientao se reflete no discurso interior, ou seja,
no funcionamento concreto do enunciado interior. Segundo
Volochinov, por exemplo, h um elemento sociolgico inerente
conscincia humana, a suas emoes e a sua expresso. Nesse
sentido, o discurso interior reflete e refrata a sociedade, na qual o
indivduo vive, criando um ouvinte virtual, uma sociedade vir-
tual. Esse auditrio virtual pode refletir o ponto de vista pessoal
a viso de mundo prpria ao grupo social ao qual perteno; a
diviso em ideologias diferentes quando duas classes sociais
disputam com igual fora a minha conscincia ; ou, ainda, a
situao onde o indivduo perdeu seu ouvinte interior ocorrn-
cia da desagregao da conscincia devido a conflitos violentos
entre discurso interior e discurso exterior.
O discurso interior, o enunciado interior, assume, da mes-
ma forma que o enunciado exterior um ouvinte e se orienta em
sua construo em relao a esse ouvinte. O discurso interior
um tipo de produto e expresso da comunicao social como o
discurso exterior (6, 79). Ele pressupe um ouvinte virtual, com
o qual trava um dilogo interior.
No podemos esquecer das crticas formuladas por
Volochinov psicanlise freudiana. Para ele, em primeiro lugar,
todo enunciado concreto reflete sempre o pequeno evento social
imediato o evento de comunicao, de troca de palavras entre
pessoas do qual ele procede diretamente (6, 86). Nesse sentido,
90
.~..J. .J~. ....
42
Bakhtin/Medvedev critica a distino, feita pelos formalistas, entre
linguagem prtica e linguagem potica: ns sabemos que a construo
prtica no existe, e que os enunciados da vida, a realidade que subjaz
a natureza das funes comunicativas da linguagem, se formam em
vrias direes, dependendo das diferentes esferas e propsitos da
comunicao social (7, 93).
Volochinov faz a seguinte observao em relao a sesso psica-
naltica e sua anlise do discurso interior: o que refletido nes-
ses enunciados no a dinmica da psique individual mas a
dinmica social das inter-relaes entre o doutor e o paciente.
Aqui est a origem para o drama que a construo freudiana.
(6, 79-80). O terico russo no acredita no acesso ao inconscien-
te, e, sim, na conscincia: o contedo da psique humana um
contedo que consiste de pensamentos, sentimentos e desejos
dado numa formulao feita pelo conscincia e, conseqente-
mente, na formulao do discurso verbal humano (6, 83).
H tambm no todo da obra do Crculo, uma srie de refle-
xes em torno do enunciado cotidiano. Para analisar um enun-
ciado prtico
42
, ou cotidiano, devemos ter em mente: as caracte-
rsticas sociais da comunidade discursiva e a complexidade con-
creta do horizonte ideolgico conceitos, crenas, etc. onde cada
enunciado prtico formado. O enunciado para Bakhtin/
Medvedev uma construo comunicativa, diferentemente da lin-
gstica que o toma como uma construo abstrata onde forma
seus conceitos de lngua e seus elementos para seus prprios
propsitos tericos e prticos.
Numa crtica ao formalismo, Bakhtin/Medvedev diz que
todo enunciado concreto uma unidade fontica compacta e
singular (7, 101). Ele acredita que o corpo fontico da obra, o
todo fontico organizado em tempo e espaos reais e sociais e
que esse tempo e esse espao so eventos da comunicao so-
cial. Por isso, propem uma sociologia do som significativo,
onde o estudo da organizao do corpo fontico da obra no
pode ser separado do estudo da comunicao social organizada
que o implementa (7, 103).
91
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
O enunciado concreto um material individual complexo,
fontico, articulado, complexo visual e, simultaneamente, tam-
bm uma parte da realidade social (7, 120). Mais uma crtica
lingstica, cincia piloto da poca, formulada aqui: a palavra,
a forma gramatical, a sentena, e todas as definies lingsticas
em geral, tomadas em abstrao do enunciado histrico e con-
creto, se tornam signos tcnicos de uma significao que so-
mente possvel e ainda no individualizada historicamente (7,
121). Para Bakhtin/Medvedev, se tomarmos o enunciado con-
creto fora de sua criao histrica, em abstrao, estaremos nos
desviando do que estamos procurando (7, 126).
E o que o Crculo est procurando? O que vamos perce-
bendo, na medida em que vamos evoluindo na leitura das obras,
que essa noo de enunciado concreto serve de base para que
Bakhtin, Volochinov e Medvedev reflitam sobre a realidade da
palavra-enunciado e os vrios gneros do discurso engendrados
por ela no processo da comunicao verbal a partir de uma cer-
ta relao de comunicao social: o enunciado potico, o enun-
ciado prtico, o enunciado cotidiano, o enunciado cientfico, o
enunciado interior, etc. considerando o enunciado concreto
como uma unidade da comunicao verbal que podemos anali-
sar cada uma dessas manifestaes do material verbal, ou seja,
cada um desses gneros do discurso.
A obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), assinada
por Bakhtin/Volochinov discute o enunciado sob os seus mais
variados aspectos: o enunciado enquanto signo ideolgico, pala-
vra, enunciado interior, enunciado dialgico/monolgico e enun-
ciado de outrem. Todos esses aspectos so discutidos a partir do
enunciado concreto vivo, real e humano conforme as vrias
direes para as quais se encaminham as investigaes dinmi-
cas do Crculo. esse tipo de investigao dinmica que ir se
refletir na definio do conceito signo. O signo de natureza inte-
rindividual e a sua relao com a conscincia a seguinte:
a prpria conscincia s pode surgir e se afirmar como realidade
mediante a encarnao material em signos. Afinal, compreender
92
.~..J. .J~. ....
um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros
signos j conhecidos; em outros termos, a compreenso uma
resposta a um signo por meio de signos. E essa cadeia de criati-
vidade e de compreenso ideolgicas, deslocando-se de signo em
signo para um novo signo; nica e contnua: de um elo de natu-
reza semitico (e, portanto, tambm de natureza material) passa-
mos sem interrupo para um outro elo de natureza estritamen-
te idntica. Em nenhum ponto a cadeia se quebra, em nenhum
ponto ela penetra a existncia interior, de natureza no material
e no corporificada em signos (10, 34).
O signo, o material semitico, que tem como caractersti-
cas: a pureza semitica, a neutralidade ideolgica, a implicao
na comunicao humana ordinria, a possibilidade de interiori-
zao, a presena obrigatria, como fenmeno acompanhante,
em todo ato consciente, o fenmeno ideolgico por excelncia,
a PALAVRA. Essas caractersticas permitem que a palavra seja
um material flexvel, veiculvel pelo corpo, tanto no interior o
discurso interior como exterior o dilogo com outrem e o di-
logo de outrem.
Segundo Bakhtin/Volochinov, a nica maneira de fazer
com que o mtodo sociolgico marxista d conta de todas as pro-
fundidades e todas as sutilezas das estruturas ideolgicas
imanentes consiste em partir da filosofia da linguagem concebi-
da como filosofia do signo ideolgico (10, 38), ou seja, como
uma filosofia da palavra: a palavra, como signo, extrada pelo
locutor de um estoque social de signos disponveis (10, 113), e a
prpria realizao deste signo social na enunciao [enunciado]
concreta inteiramente determinada pelas relaes sociais (10,
113).
Temos, ento, o material necessrio para a construo de
uma Teoria do Enunciado Concreto: o enunciado ideolgico, ou
seja, a palavra ideolgica, como tambm o mtodo para investi-
gar a sua estrutura imanente: o mtodo sociolgico. Nesse senti-
do, a filosofia marxista da linguagem deve justamente colocar
93
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
como base de sua doutrina a enunciao [enunciado] como reali-
dade da linguagem e como estrutura scio-ideolgica (10, 126).
A natureza ideolgica do enunciado concreto revela a ao
de foras centrpetas e centrfugas no seu interior: o verdadeiro
meio da enunciao, onde ela vive e se forma, um plurilingismo
dialogizado, annimo e social como linguagem, mas concreto,
saturado de contedo e acentuado como enunciao individual
43
(17, 82).
O procedimento dinmico com que os conceitos principais
do Crculo so definidos d a dimenso dos elementos envolvidos
na investigao do enunciado concreto. Se ele concreto, hist-
rico; se ele histrico, humano; se ele humano, social; se ele
social, tico; se ele tico, consciente, tudo isso em interao
orgnica. Por isso existe a necessidade de uma estrutura sociolgi-
ca bem determinada para dar conta do enunciado concreto e de
sua especificidade tica, histrica-fenomenolgica, sociolgica e
dialgica. tambm necessrio levar em conta que o enunciado
concreto uma unidade da comunicao verbal, pois para
Volochinov impossvel compreender como se constitui um enun-
ciado qualquer, tenha ele a aparncia da autonomia e do acaba-
mento, se no o encaramos como um momento, como uma sim-
ples gota nesta rio da comunicao verbal da qual o momento
incessante aquele mesmo da vida social e da Histria (16, 288).
Tomar o enunciado como unidade da comunicao verbal
o objetivo do segundo captulo do ensaio Os gneros do discur-
so (1952-1953). As discordncias com Saussure, em relao a
forma de utilizao da lngua, so aqui explicitadas: a utilizao
da lngua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos),
concretos e nicos, que emanam dos integrantes duma ou dou-
tra esfera da atividade humana (21, 290).
43
Na edio francesa enunciao aparece como nonc: Le veritable
milieu de lnonc, l ou il vit et se forme, cest la polylinguisme
dialogis, anonyme et social comme le langage, mais concret, mais
sature de contenu, et accentu comme un nonc individuel (18, 96).
94
.~..J. .J~. ....
A interao orgnica entre a lngua e a vida se d por inter-
mdio de enunciados concretos. E quais seriam, ento, as parti-
cularidades constitutivas do enunciado concreto? Para Bakhtin,
elas so as seguintes:
a) a alternncia dos sujeitos falantes;
b) o acabamento especfico do enunciado:
b.1 o tratamento exaustivo do sentido do objeto (tema);
b.2 o intuito, o querer-dizer do locutor;
b.3 as formas tpicas de estruturao do gnero do aca-
bamento;
c) a relao do enunciado com o prprio locutor (com o au-
tor do enunciado), e com os outros parceiros da comuni-
cao verbal.
importante considerar todas essas particularidades em
interao orgnica, uma sendo indissocivel da outra. Assim
sendo, vejamos como Bakhtin explica cada uma delas.
A primeira particularidade explicada da seguinte manei-
ra: a alternncia dos sujeitos falantes compe o contexto do enun-
ciado, transformando-o numa massa compacta rigorosamente
circunscrita em relao aos outros enunciados vinculados a ele
(21, 298-299).
J a segunda, alm de ser uma das particularidades cons-
titutivas do enunciado, determinada por trs fatores, os quais,
da mesma forma que as particularidades constitutivas, esto li-
gados, de maneira indissolvel, ao todo orgnico do enunciado.
Comeando pela particularidade, Bakhtin nos diz que o acaba-
mento do enunciado de certo modo a alternncia dos sujeitos
falantes vista do interior; essa alternncia ocorre precisamente
porque o locutor disse (ou escreveu) tudo o que queria dizer num
preciso momento e em condies precisas (21, 299). Nesse senti-
do, o primeiro e mais importante dos critrios de acabamento do
enunciado a possibilidade de responder (21, 299).
95
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Essa possibilidade de responder determinada pelos trs
fatores apresentados acima em relao ao acabamento especfico
do enunciado concreto. Todos esses fatores o tema, o intuito
elemento subjetivo, e o gnero do discurso, que como j dissemos
so ligados indissoluvelmente, permitem que observemos nas
explicaes tericas de Bakhtin, a articulao dinmica dessa
interao orgnica.
Portanto, o tratamento exaustivo do objeto de sentido
explicado do seguinte modo: teoricamente, o objeto inesgot-
vel, porm, quando se torna tema de um enunciado (de uma obra
cientfica, por exemplo), recebe um acabamento relativo, em con-
dies determinadas, em funo de uma dada abordagem do pro-
blema, do material, dos objetivos por atingir, ou seja, desde o
incio ele estar dentro dos limites de um intuito definido pelo
autor (21, 300).
Esse intuito discursivo ou o querer-dizer do locutor que
Bakhtin considera o elemento subjetivo do enunciado, entra em
combinao com o sentido do objeto objetivo para formar uma
unidade indissolvel, que ele limita, vincula situao concreta
(nica) da comunicao verbal, marcada pelas circunstncias in-
dividuais, pelos parceiros individualizados e suas intervenes
anteriores: seus enunciados (21, 300).
Completando essa engrenagem, do ponto de vista das for-
mas tpicas de estruturao do gnero do acabamento, chega-
mos aos gnero do discurso: o querer-dizer do locutor se realiza
acima de tudo na escolha de um gnero do discurso. Essa escolha
determinada em funo da especificidade de uma dada esfera
da comunicao verbal, das necessidades de uma temtica (do
sentido do objeto), do conjunto constitudo dos parceiros, etc.
Depois disso, o intuito discursivo do locutor, sem que este re-
nuncie sua individualidade e sua subjetividade, adapta-se e
ajusta-se ao gnero escolhido, compe-se e desenvolve-se na for-
ma do gnero determinado (21,301).
Nos resta explicar, ainda, a terceira particularidade consti-
tutiva do enunciado: a relao do enunciado com o prprio locutor
96
.~..J. .J~. ....
(com o autor do enunciado), e com os outros parceiros da comuni-
cao verbal. Considerando o enunciado como um elo na cadeia
da comunicao verbal, Bakhtin diz que esse enunciado repre-
senta a instncia ativa do locutor numa ou noutra esfera do ob-
jeto do sentido. Por isso o enunciado se caracteriza acima de tudo
pelo contedo preciso do objeto do sentido. A escolha dos recur-
sos lingsticos e do gnero do discurso determinada principal-
mente pelos problemas de execuo que o objeto de sentido im-
plica para o locutor (o autor) (21, 308). Essa escolha dos recur-
sos lingsticos e do gnero do discurso, aliada a necessidade de
expressividade do locutor ante o objeto de seu enunciado, com-
pem as particularidades que determinam o estilo e a composi-
o do enunciado, ao mesmo tempo que explicita a relao do
enunciado com o seu autor.
No podemos esquecer, tambm, da relao do enunciado
com os outros parceiros da comunicao verbal. Para Bakhtin,
ter um destinatrio, dirigir-se a algum, uma particularidade
constitutiva do enunciado, sem a qual no h, e no poderia
haver, enunciado. As diversas formas tpicas de dirigir-se a al-
gum e as diversas concepes tpicas do destinatrio so as par-
ticularidades constitutivas que determinam a diversidade dos
gneros do discurso (21, 325).
Das particularidades constitutivas do enunciado e de seus
fatores de acabamento, destacamos alguns conceitos que julga-
mos importante apresentar de uma maneira mais aprofundada:
Gneros do Discurso, Tema, Expressividade, Estilos e Entonaes.
O que nos propomos, a seguir, eleger cada um desses
conceitos principais, que em interao orgnica, permitem inves-
tigar o enunciado concreto, tomando cada um como centro de
nossas atenes por motivos exclusivamente didticos. claro
que esses conceitos no so nenhuma novidade terminolgica,
mas a extenso de sentido que adquirem no interior do todo da
obra do Crculo se revela absolutamente nova.
97
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
1. Gneros do iscnrso
O conceito Gneros de Discurso aparece, pela primeira vez,
na obra de Bakhtin/Medvedev The Formal Method In Literary
Scholarship (1928)
44
, como crtica definio mecnica desse
conceito pelos formalistas.
Como acontece com os outros conceitos do Crculo,
Bakhtin/Medvedev procura entender o sentido desse conceito,
que representa, no interior da obra dos formalistas, uma expres-
so do pensamento abstrato, em sua relao com o enunciado
concreto. Para os tericos russos, o problema da investigao do
gnero no pensamento formalista que ele s abordado quan-
do todos os outros elementos bsicos da construo j esto es-
tudados e definidos, e a potica formalista est terminada (7,
129), ou seja, o gnero s investigado no fim da anlise, meca-
nicamente, como um composto de esquemas.
A proposta do Crculo que a anlise do todo da obra po-
tica, do todo desse enunciado artstico concreto, deve ser iniciada
pelo gnero, pois ele representa a forma tpica dessa construo
potica. Mais uma vez, a crtica se dirige a uma anlise da cons-
truo potica cujo percurso se orienta pelos elementos abstra-
tos da lngua, propondo, por outro lado, uma definio para esse
conceito no interior do enunciado concreto. Bakhtin/Medvedev
44
Morson e Emerson em seu Creation of a Prosaics, fazem a seguinte
observao: Perhaps still more surprising, the Bakhtin groups first
serious discussion of genre belongs not to Bakhtin himself, but to
Medvedev. The Formal Method i n Li terary Schol arshi p devotes a
chapter to demonstrating that any good sociological approach to
literature must be grounded in genres, which, Medvedev argued, carry
and shape social experience for individual people. Although it is
presently impossible to determine priority of discovery, Bakhtin seems
to have been impressed and influenced by Medvedevs argument,
enough so to have refined, extended, and recast it. Over the next few
decades and with varying degrees of success, Bakhtin was to pass all
his favorite concepts and concerns through the prism of genre and the
novel (38, 272).
98
.~..J. .J~. ....
considera que o sentido construtivo de cada elemento s pode
ser compreendido em conexo com o gnero (7, 129).
O gnero a totalidade tpica do enunciado artstico, e
uma totalidade vital, um todo acabadado e resolvido (7, 129).
Para o Crculo, o problema do acabamento [zavershenie] um
dos problemas mais importantes da Teoria do Gnero (7, 129),
pois todo gnero representa um caminho especial de construo
e acabamento de um todo, acab-lo essencialmente e
tematicamente (repetimos), e no apenas condicionalmente ou
composicionalmente (7, 129).
De qualquer forma, importante salientar que para
Bakhtin/Medvedev o acabamento composicional possvel em
todas as esferas da criao ideolgica, mas o acabamento temtico
real impossvel (7, 129), devido a concepo fenomenolgica e
particular que orienta sua concepo de enunciado concreto, ou
seja, do ponto de vista da comunicao verbal a abordagem te-
mtica est sempre em evoluo e em interao com a evoluo
dos gneros do discurso.
A anlise mecnica, segundo o Crculo, que norteia o pen-
samento formalista impede a percepo do problema do todo cons-
trutivo tridimensional, a interao orgnica entre o problema do
todo, o problema do gnero e o problema do acabamento temtico
na construo da obra potica, bem como nos outros gneros do
discurso.
Qualquer gnero se orienta em relao realidade em duas
direes:
a) ao ouvinte ou receptor em conjunto com as condies
precisas de performance e percepo;
b) vida pelos seus contedos temticos. (acontecimen-
tos, problemas, etc.).
Para Bakhtin/Medvedev, cada gnero capaz de contro-
lar apenas certos aspectos precisos da realidade. Cada gnero
possui princpios precisos de seleo, formas precisas para ver e
99
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
conceptualizar a realidade, e uma extenso e profundidade de
penetrao (7, 130).
Como j demonstrado anteriormente, em relao aos con-
ceitos enunciado e dilogo, o conceito gnero interage, tambm,
com o problema da conscincia e do gnero interior. Para o Cr-
culo, so as formas do enunciado, e no as formas da lngua,
que tm o papel mais importante na conscincia e na compreen-
so da realidade (7, 133). Nesse sentido, a conscincia humana
possui uma srie de gneros interiores para perceber e
conceptualizar a realidade. Uma conscincia determinada rica
ou pobre em gneros, dependendo do seu desenvolvimento ideo-
lgico (7, 133).
Um outro aspecto da base do pensamento concreto do
Crculo a proposta de que uma potica genuna do gnero s
pode ser uma sociologia do gnero. Para eles, a realidade do
gnero e a realidade acessvel ao gnero so inter-relacionadas
organicamente. Mas temos visto que a realidade do gnero a
realidade social de sua realizao no processo da comunicao
artstica. Portanto, o gnero o agregado de sentidos da orienta-
o coletiva na realidade, com a orientao atravs do acaba-
mento. Esta orientao capaz de subjugar novos aspectos da
realidade. A conceptualizao da realidade se desenvolve e se
cria no processo da comunicao social ideolgica (7, 135).
Sendo assim, os gneros do discurso se tornam os modelos
padres da construo de um todo verbal, como que uma tipolo-
gia estilstico-composicional das produes verbais. De qualquer
forma, devemos levar em conta que esses modelos do gnero se
distinguem por princpio do modelo lingstico das oraes (23,
357).
Embora o conceito Gneros do discurso s tenha aparecido
em 1928, as obras anteriores do Crculo j refletem um encami-
nhamento para esse conceito. J no seu primeiro texto Art and
Answerability (1919), Bakhtin divide a cultura humana em trs
domnios: a cincia, a arte e a vida, lembrando que esses trs
domnios ganham unidade somente na pessoa individual que os
100
.~..J. .J~. ....
integra dentro de sua prpria unidade (1, 1). Para ele, a arte e a
vida no so uma unidade, mas elas devem se unir em mim na
unidade de minha responsabilidade (1, 3). Nesse sentido, o con-
ceito Gneros do Discurso vai ser construdo no interior de cada
um desses domnios, sendo que a vida cotidiana ser constituda
pelos Gneros Primrios e a vida da cincia e a vida da arte, pelos
Gneros Secundrios.
Essa noo de domnio cultural vai estar presente, tam-
bm, no ensaio de 1926, Le discours dans la vie et le discours
dans la posie, onde Volochinov busca a compreenso de um
gnero primrio o discurso na vida como fundamento para
uma explicao do funcionamento do gnero secundrio a poe-
sia, no interior do todo da sociedade e de sua vida econmica.
Referindo-se ao primeiro o discurso na vida como enunciado
da vida cotidiana, encontramos aqui uma primeira referncia a
gnero: todas as avaliaes desse gnero, qualquer que seja o
critrio tico, gnoseolgico, poltico ou outro que lhes oriente,
englobam muito mais que o contedo no aspecto propriamente
verbal, lingstico do enunciado: elas englobam, ao mesmo tem-
po, a palavra e a situao extra-verbal do enunciado (5, 189)
45
O estudo da problema dos Gneros do Discurso deve ser
analisado em interao orgnica com o problema da lngua e o
problema da Comunicao Social. Nesse sentido, Bakhtin/
Volochinov prope que uma anlise fecunda das formas do con-
junto de enunciaes [enunciados] como unidades reais na ca-
deia verbal s possvel de uma perspectiva que encare a enuncia-
o [enunciado] individual como um fenmeno puramente socio-
lgico (10, 126).
45
Na edio inglesa desse ensaio no h referncia a gnero nessa
citao: All these and similar evaluations, whatever the criteria that
govern them (ethical, cognitive, political, or other), take in a good deal
more than what is enclosed within the strictly verbal (linguistic) factors
of the utterance. Together wi th the verbal factors, they al so take
i n the extraverbal si tuati on of the utterance (6, 98). Talvez por
isso, Morson e Emerson no considerem referncia a esse conceito
nesse ensaio.
101
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Nesse sentido, Bakhtin/Volochinov desenvolve a seguinte
ordem metodolgica para o estudo da lngua:
1. the forms and types of verbal interaction in connection
with their concrete conditions;
2. forms of particular utterances, of particular speech
performances, as elements of a closely linked interaction
i.e., the genres of speech performance in human behavior
and ideological creativity as determined by verbal
interaction;
3. a reexamination, on this new basis, of language forms
in their usual linguistic presentation. (11, 95-96)
46
Essa ordem metodolgica no esconde a interao org-
nica entre as suas proposies, assim como, a sua articulao
dinmica: as relaes sociais evoluem (em funo das infra-es-
truturas), depois a comunicao e a interao verbais evoluem
no quadro das relaes sociais, as formas dos atos de fala evolu-
em em conseqncia da interao verbal, e o processo de evolu-
o reflete-se, enfim, na mudana das formas da lngua (10,
124).
A relao entre o tipo de comunicao social, o tipo de inte-
rao verbal e os gneros do discurso explicada da seguinte
46
Na edio brasileira, o conceito gneros do di scurso substitudo
por categorias de atos de fala, e a ordem metodolgica do estudo da
lngua a seguinte:
1. As formas e os tipos de interao verbal em ligao com as condies
concretas em que se realiza.
2. As formas das distintas enunciaes, dos atos de fala isolados, em
ligao estreita com a interao de que constituem os elementos,
isto , as categorias de atos de fala na vida e na criao ideolgica
que se prestam a uma determinao pela interao verbal.
3. A partir da, exame das formas da lngua na sua interpretao
lingstica habitual (10, 124).
102
.~..J. .J~. ....
forma: toda situao da vida cotidiana possui um auditrio, cuja
organizao bem precisa, e dispe de um repertrio especfico
de pequenos gneros apropriados. Em cada caso, o gnero cotidi-
ano se adapta linha que a comunicao social parece ter traa-
do para ele no sentido de representar o reflexo ideolgico do
tipo, da estrutura, da finalidade e da constituio prpria s rela-
es de comunicao social (16,291).
Em La structure de lnonc (1930), Volochinov tambm
d sua definio de gnero: ele um tipo de comunicao social
que organiza, constroi e acaba, de maneira especfica, a forma
gramatical e estilstica do enunciado, assim como a estrutura do
tipo do qual ele depende (16, 290). Nesse mesmo ensaio ele dis-
cute o gnero cotidiano representado no discurso literrio, ou
seja, no enunciado potico.
Antes de continuar nossas observaes sobre o desenvolvi-
mento do conceito gneros do discurso na obra do Crculo, im-
portante lanar algumas observaes sobre o seu funcionamen-
to:
a) ao nascer, um novo gnero nunca suprime nem substi-
tui quaisquer gneros j existentes;
b) qualquer gnero novo nada mais faz que completar os
velhos, apenas amplia o crculo de gneros j existen-
tes;
c) cada gnero tem seu campo predominante de existncia
em relao ao qual insubstituvel;
d) cada novo gnero essencial e importante, uma vez sur-
gido, influencia todo o crculo de gneros velhos: o novo
gnero torna os velhos, por assim dizer, mais conscien-
tes, f-los melhor conscientizar os recursos e limitaes,
ou seja, superar a sua ingenuidade;
e) a influncia dos novos gneros sobre os velhos contri-
bui, na maioria dos casos, para a renovao e o enri-
quecimento destes. (13, 237-238).
103
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Todas essas caractersticas mantm a coerncia dinmica
dos conceitos que articulam as formulaes tericas de Bakhtin/
Volochinov/Medvedev, o que tambm ir se refletir na distino
entre gneros primrios e gneros secundrios. E no ensaio Os
gneros do discurso (1952-1953) que encontramos todas as de-
finies que orientam esse conceito no todo da obra do Crculo
desenvolvidos em seu mais alto grau de acabamento terico. Aqui,
os gneros do discurso so divididos em gneros primrios e g-
neros secundrios e, tambm, esses conceitos so orientados
dentro de uma perspectiva dinmica com base no enunciado con-
creto cotidiano.
Os gneros do discurso so aqui definidos como tipos re-
lativamente estveis de enunciados que uma determinada co-
munidade utiliza no processo de interao verbal. Para Bakhtin,
a riqueza e a variedade dos gneros do discurso so infinitas,
pois a variedade virtual da atividade humana inesgotvel, e
cada esfera dessa atividade comporta um repertrio de gneros
do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se medida
que a prpria esfera se desenvolve e fica mais complexa (21,
279). Essa heterogeneidade dos gneros do discurso desde os
gneros da vida cotidiana, passando pelas formas variadas de
exposio cientfica, e de todos os modos literrios poderia
inviabilizar o seu estudo, visto que a diversidade funcional pare-
ce tornar os traos comuns a todos os gneros do discurso abs-
tratos e inoperantes (21, 280).
Mas, ento, como Bakhtin resolve esse problema? O teri-
co russo vai definir o carter genrico do enunciado concreto le-
vando em considerao a diferena essencial existente entre o
gnero de discurso primrio (simples) e o gnero de discurso se-
cundrio (complexo) (21, 281), ou seja, o enunciado concreto ,
em relao aos enunciados anteriores, um enunciado tpico da
organizao social da linguagem em gneros do discurso de uma
ou outra esfera primria ou secundria.
Para Bakhtin, uma concepo clara da natureza do enun-
ciado em geral e dos vrios tipos de enunciados em particular
(primrios e secundrios), ou seja, dos diversos gneros do dis-
104
.~..J. .J~. ....
curso, indispensvel para qualquer estudo, seja qual for a sua
orientao especfica
47
(21, 282). Ele fala que o que esclarece a
natureza do enunciado e sobretudo o difcil problema da corre-
lao entre lngua, ideologias e viso do mundo (21, 282) , por
um lado a inter-relao entre os gneros primrios e secundri-
os, e por outro o processo histrico de formao dos gneros se-
cundrios. E o que so gneros primrios e gneros secundrios?
Os gneros primrios so aqueles que compreendem os
tipos de dilogo oral: linguagem de reunies sociais, dos crculos,
linguagem familiar, cotidiana, linguagem sociopoltica, filosfica,
etc.. A sua esfera de realizao concreta a da comunicao verbal
cotidiana onde eles se apresentam em infinita variedade: em in-
terao com as formas de autor, ou seja, comunicamos fatos
que achamos interessantes ou que so ntimos, pedimos e recla-
mamos todas espcies de coisas, fazemos declaraes de amor,
discutimos e brigamos, trocamos amabilidades, etc(25, 395); em
interao com uma certa hierarquia social esfera de familiari-
dade, a esfera oficial, e suas variantes. Esses gneros so fen-
menos da vida cotidiana.
Ao refletir sobre esses fenmenos da vida cotidiana, o enun-
ciado cotidiano, o Crculo se vale do enunciado literrio como uma
representao do enunciado real. Segundo Volochinov, podemos,
[] sem risco de erro, supor que a relao de dependncia que
existe entre a infra-estrutura econmica a base econmica da
sociedade e o tipo de comunicao cotidiana reproduzida no poe-
ma de Ggol, medido segundo a proporo que ele tenha ocorri-
do na vida real; diremos a mesmo coisa da dependncia que existe
entre um tipo de comunicao cotidiana e o modo de interao
verbal que se inscreve no seu quadro (16, 310)
48
.
47
O enunciado concreto encontra seu lugar nas relao com enunciados
anteriores do mesmo tipo. Nesse sentido, o conjunto de enunciado
tpicos, ou seja, que pertence a uma determinada esfera de sentido,
o que o Crculo chama de gneros do discurso.
48
Essa relao entre o enunciado real e o enunciado representado
discutida, tambm, nas obras de Bakhtin Problemas da Potica de
105
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Os gneros secundrios o romance, o discurso cientfico,
o discurso ideolgico so aqueles que durante o processo de
sua formao [] absorvem e transmutam os gneros primrios
(simples) de todas as espcies, que se constituram em circuns-
tncia de uma comunicao verbal espontnea (21, 281). im-
portante observar, ento, que a presena do gnero primrio no
gnero secundrio implica uma representao, visto que o pri-
meiro um fenmeno da vida cotidiana, e o segundo, da vida de
um determinado gnero secundrio romance, discurso cientfi-
co, discurso religioso, etc.
Essa distino entre gneros primrios e gneros secund-
rios de importncia capital para a compreenso da distino
entre a heterogeneidade de gneros do discurso da vida cotidiana
e a representao desses gneros no romance, concebido como
um fenmeno da vida artstico-literria
49
. Segundo Bakhtin, a
natureza do enunciado deve ser elucidada e definida por uma
anlise de ambos os gneros. S com esta condio a anlise se
adequaria natureza complexa e sutil do enunciado e abrangeria
seus aspectos essenciais (21, 282).
De acordo com Bakhtin, todos os gneros secundrios (nas
artes e nas cincias) incorporam diversamente os gneros primri-
os do discurso na construo do enunciado, assim como a relao
existente entre estes (os quais se transformam, em maior ou me-
nor grau, devido ausncia de uma alternncia dos sujeitos falan-
tes) (21, 295). Os gneros secundrios simulam a comunicao
verbal, ou seja, o dilogo, e os gneros primrios do discurso no
que se refere a posio responsiva do enunciado. Ocorre, ento,
que nos limites do enunciado, o locutor (ou escritor) formula per-
guntas, responde-as, ope objees que ele mesmo refuta, etc. (21,
295), ou seja, opera simulando as rplicas do dilogo.
Dostoievski e A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento. O
contexto de Franois Rabelais.
49
No seu primeiro escrito Arte e Responsabilidade (1919), Bakhtin
j dizia: Quando um ser humano est na arte, ele no est na vida,
e vice-versa (1, 1)
106
.~..J. .J~. ....
No s a distino entre gneros primrios e gneros se-
cundrios que vai nos ajudar a analisar as sutilezas do enuncia-
do. preciso, tambm, considerar o enunciado concreto como
uma unidade da comunicao verbal, seja ele um enunciado co-
tidiano, cientfico ou artstico.
Nesse sentido, podemos compreender a obra-enunciado
realizada por um gnero secundrio, tambm como um elo na
cadeia da comunicao verbal; do mesmo modo que a rplica do
dilogo, ela se relaciona com as outras obras-enunciados: com
aquelas a que ela responde e com aquelas que lhe respondem, e,
ao mesmo tempo, nisso semelhante rplica do dilogo, a obra
est separada das outras pelo fronteira absoluta da alternncia
dos sujeitos falantes (21, 298), ou seja, todas as particularida-
des constitutivas do enunciado concreto, que apresentamos na
introduo desse captulo, funcionam tanto para a anlise do
gnero primrio como do gnero secundrio, e permitem colocar
no mesmo terreno comum tanto os enunciados concretos
pertencentens a um ou outro gnero.
Falta ainda apresentar uma ltima distino, do ponto de
vista do enunciado enquanto unidade da comunicao verbal: a
oposio entre as formas da lngua e os gneros do discurso
formas do enunciado concreto. Bakhtin diz que Saussure ignora
o fato de que, alm das formas da lngua, h tambm as formas
de combinao dessas formas da lngua, ou seja, ignora os g-
neros do discurso (21, 304). O dado, o que compreende os re-
cursos para a construo de um enunciado concreto o criado
se compem, ento, das formas da lngua e dos gneros do dis-
curso (formas do enunciado).
Para Bakhtin, os gneros do discurso so, em compara-
o com as formas da lngua, muito mais fceis de combinar,
mais geis, porm, para o indivduo falante, no deixam de ter
um valor normativo: eles lhe so dados, no ele que os cria.
por isso que o enunciado, em sua singularidade, apesar de sua
individualidade e de sua criatividade, no pode ser considerado
como uma combinao absolutamente livre das formas da lngua,
do modo concebido, por exemplo, por Saussure (e, na sua estei-
107
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
ra, por muitos lingistas), que ope o enunciado (a fala), como
um ato puramente individual, ao sistema da lngua como fen-
meno puramente social e prescritivo para o indivduo
50
(21, 304).
Mas importante ressaltar que para o Crculo, os gneros
do discurso e a lngua materna so anteriores gramtica, com-
preendendo a gramtica como fruto do pensamento abstrato. Nes-
se sentido, a lngua materna a composio do seu lxico e sua
estrutura gramatical no a apreendemos nos dicionrios e nas
gramticas, ns a adquirimos mediante enunciados concretos que
ouvimos e reproduzimos durante a comunicao verbal viva que
se efetua com os indivduos que nos rodeiam. Assimilamos as for-
mas da lngua somente nas formas assumidas pelo enunciado e
juntamente com essas formas. As formas da lngua e as formas
tpicas do enunciado, isto , os gneros do discurso, introduzem-
se em nossa experincia e em nossa conscincia conjuntamente e
sem que sua estreita correlao seja rompida (21, 301-302).
A dinmica do funcionamento real do enunciado concreto
ganha, na relao com o gnero do discurso, uma explicao mais
particular. Se antes o enunciado era uma unidade da comunica-
o verbal, agora, ele vai ser um elo na cadeia da comunicao
verbal de uma dada esfera (21, 316), ou seja, de um gnero do
discurso determinado. Segundo Bakhtin, as fronteiras desse
enunciado determinam-se pela alternncia dos sujeitos falantes.
Os enunciados no so indiferentes uns aos outros, refletem-se
mutuamente. So precisamente esses reflexos recprocos que lhes
determinam o carter. O enunciado est repleto dos ecos e lem-
branas de outros enunciados, aos quais est vinculado no inte-
rior de uma esfera comum da comunicao verbal (21, 316), ou
seja, de um determinado gnero do discurso, seja ele primrio ou
secundrio.
Aquela reflexo que deixamos de fazer em Marxismo e Fi-
losofia da Linguagem por problemas de traduo, ou seja as
relaes existentes entre o enunciado concreto, o dilogo e o
50
Essa distino entre lngua e fala j foi tratada no captulo anterior,
quando tratamos do objetivismo abstrato.
108
.~..J. .J~. ....
gnero do discurso, ganham no ensaio Os Gneros do Discur-
so uma articulao que permite recuperar a unidade do crcu-
lo. De um ponto de vista dialgico, o enunciado concreto , an-
tes de mais nada, uma resposta, ou seja, uma rplica a enun-
ciados anteriores dentro do mesmo gnero: refuta-os, confir-
ma-os, completa-os, baseia-se neles, supe-nos conhecidos e,
de um modo ou de outro, conta com eles (21, 316), ou seja, no
acontecimento nico e no-reitervel do enunciado concreto h
uma interao orgnica entre o gnero do discurso ao qual ele
pertence e a sua natureza dialgica, seja do ponto de vista do
micro-dilogo dilogo interior, do dilogo na presena de in-
terlocutores, ou do grande dilogo, onde todo ato verbal huma-
no pode ser colocado em relao dialgica.
no interior de um gnero do discurso determinado que
o enunciado concreto ocupa uma posio definida em relao a
um determinado tema. Desta forma, o enunciado repleto de
reaes-resposta a outros enunciados numa dada esfera da co-
municao verbal (21, 316), mas esse o assunto que tratare-
mos a seguir, e se refere s relaes entre o enunciado de outrem
e a expressividade expressa pelo estilo e pela entonao.
2. Tena
O tratamento exaustivo do tema , como vimos anterior-
mente, um dos fatores do acabamento especfico de um enun-
ciado concreto enquanto unidade da comunicao verbal. Mas
como esse conceito foi tratado no percurso terico do Crculo
Bakhtin/Volochinov/Medvedev? Quais so as caractersticas que
ele apresenta na relao com outros conceitos como gneros do
discurso, situao, significao, relaes dialgicas? Como inse-
rir o tema na engrenagem dinmica que move o todo do enun-
ciado concreto?
Se o princpio monstico que caracteriza o pensamento do
Crculo permanecer vlido para esse conceito, encontraremos
nele todas as caractersticas j mencionadas em relao ao enun-
109
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
ciado e aos gneros do discurso. Em primeiro lugar, vamos par-
tir de uma definio de tema dada pelo Crculo, para depois
percorrer o todo da obra, procurando outras relaes que esse
conceito possa ter adquirido nesse percurso.
Na obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929) h um
captulo destinado a esse conceito. O captulo 7 Tema e Signifi-
cao na Lngua apresenta uma srie de caractersticas com as
quais podemos definir o tema. Para Bakhtin/Volochinov, o tema
:
a) uma propriedade que pertence a cada enunciado como
um todo;
b) o sentido do enunciado completo;
c) individual e no reitervel;
d) expresso de uma situao histrica concreta que deu
origem ao enunciado;
e) determinado no s pelas formas lingsticas que en-
tram na composio (as palavras, as formas morfolgicas
ou sintticas, os sons, as entoaes), mas igualmente
pelos elementos no verbais da situao;
f) to concreto como o instante histrico ao qual pertence
o enunciado;
g) irredutvel anlise, ou seja, no pode ser segmentado;
h) um sistema de signos dinmico e complexo, que procura
adaptar-se adequadamente s condies de um dado
momento da evoluo; e
i) uma reao da conscincia em devir ao ser em devir,
ou seja, uma resposta
51
(10, 128-129).
51
O problema da traduo aparece mais uma vez aqui. Em Marxismo e
Filosofia da Linguagem no existe a ocorrncia enunciado, e sim
enunciao completa, enunciao como um todo. Decidimos manter o
conceito enunciado por dois motivos: 1) o tema de nossa dissertao
e 2) encontramos argumentos favorveis nas citaes dessa obra que
110
.~..J. .J~. ....
Antes de traar um paralelo entre as distines enuncia-
do/frase (ou orao) e as que so feitas nesse captulo de Mar-
xismo e Filosofia da Linguagem entre tema o sentido nico e
no reitervel do enunciado concreto e significao o sentido
das palavras que compe o enunciado concreto na sua acepo
lingstica importante voltar um pouco no tempo, e procurar
outras relaes com as quais o conceito tema apresentado.
Em Discours dans la vie et dans la posie(1926) pode ser
estabelecida uma relao dialgica entre tema aquilo de que se
fala na vida e heri- aquele de que se fala na obra literria: toda
palavra realmente pronunciada [] a expresso e o produto da
interao social de trs participantes: o locutor (ou autor), o ou-
vinte (ou leitor) e aquilo (ou isso) de que falamos (ou heri) (5,
198). Esses trs participantes o locutor, o ouvinte, o tema
interagem organicamente. Sendo assim, os dois ltimos o ou-
vinte e o tema (heri), aos quais o locutor orienta seu enunciado
concreto, participam constantemente no acontecimento da cria-
o, o qual no cessa de ser, um instante sequer, o acontecimen-
to de uma comunicao viva entre eles (5, 201).
Bakhtin/Medvedev aponta um outro aspecto na definio
de tema. Para eles, importante distinguir entre uma concepo
lingstica do tema, a significao da palavra e da frase, da que
defendida pelo Crculo, onde o tema o sentido do todo do enun-
ciado concreto. O tema no composto dessas significaes, ou
se encontram em Mi kha l Bakhti ne. Le pri nci pe di al ogi que, como
segue:
Appelons le sens de lnonc entier son thme. [] En fait, le thme
de lnonc est individuel et non ritrable, comme lest lnonc lui-
mme. Il est lexpression de la situation historique concrte que a
engendr lnonc [..] Il sensuit que le thme de lnonc est
dtermin non seulement par les formes linguistiques qui le composent
mots, forms morphologiques et syntaxiques, sons, intonation mais
aussi par les aspects extra-verbaux de la situation. Si nous omettons
ces aspects de la situation, nous ne saurions comprendre lnonc,
comme si nous en avions omis les mots les plus importants (30, 73).
111
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
seja, ele no um elemento da lngua. Mesmo sendo construdo
com a ajuda desses elementos, o tema transcende a lngua, ao
todo do enunciado como um ato discursivo que est direcionado
o tema, no palavra, frase, ou ao perodo (7, 132). Os tericos
russos consideram o tema como um ato scio-histrico preciso.
Conseqentemente, ele inseparvel da situao total do enun-
ciado da mesma forma que inseparvel dos elementos lingsti-
cos (7, 132), ou seja, em todo enunciado concreto existe uma
parte verbal e uma parte extra-verbal, e o tema pertence a essa
ltima, enquanto um dos fatores de acabamento do enunciado
concreto.
A relao entre o tema e o gnero do discurso explicitada
da seguinte maneira: a unidade temtica da obra e seu lugar
real na vida desenvolvem-se conjuntamente, organicamente, na
unidade do gnero
52
(7, 133). Uma viso mais ampla dessa
relao dada na seguinte citao: dentro do horizonte ideol-
gico da cada poca, h um centro de valores que seguido por
todos os caminhos e aspiraes da atividade ideolgica. Esse
centro de valores torna-se o tema bsico ou, mais precisamente
o complexo de temas da literatura de uma dada poca. Os te-
mas dominantes esto conectados, tambm, como sabemos, com
um repertrio especfico de gneros
53
(7, 157).
Voltando a Marxismo e Filosofia da Linguagem, encontra-
mos essa mesma articulao: a cada etapa do desenvolvimento
da sociedade, encontram-se grupos de objetos particulares e li-
mitados que se tornam objetos da ateno do corpo social e que,
52
Entenda-se obra aqui como uma obra-enunciado, ou seja, a obra
como uma unidade da comunicao verbal de um gnero secundrio,
nesse caso, da literatura.
53
Essa relao do centro de valores com os temas de um gnero de
discurso especfico a literatura (gnero secundrio) pode tambm
ser derivada para os gneros primrios (vida cotidiana), bem como
para outros gneros secundrios. Ver os objetivos de Bakhtin
explicitados anteriormente neste trabalho no que se refere Arquite-
tnica Apreciativa e ao centro de valores.
112
.~..J. .J~. ....
por causa disso, tomam um valor particular. S este grupo de
objetos dar origem a signos, tornar-se- um elemento da comu-
nicao por signos (10, 44). O signo a que Bakhtin/Volochinov
se refere aqui o signo ideolgico, ou seja, o signo povoado por
valores sociais. Nesse sentido, os tericos russos chamam a rea-
lidade que d lugar formao de um signo de tema do signo
(10, 45), isto , cada signo constitudo possui seu tema (10, 45),
ou melhor, cada enunciado concreto, cada manifestao verbal
tem seu tema especfico.
O tema , ento, um tema ideolgico, o qual possui sempre
um ndice de valor social de natureza interindividual. O signo
ideolgico, o tema, o valor se constroem entre os indivduos, ou
seja, eles so de natureza sociolgica, ideolgica e dialgica. Para
Bakhtin/Volochinov, o tema e a forma do signo ideolgico esto
indissoluvelmente ligados, e no podem, por certo, diferenciar-se
a no ser abstratamente (10, 45).
Nesse sentido, as relaes entre forma gneros do discur-
so e contedo tema adquirem vida sob as mesmas foras
sociais e condies econmicas. De acordo com os tericos rus-
sos, so as mesmas condies econmicas que associam um
novo elemento da realidade ao horizonte social, que o tornam
socialmente pertinente, e so as mesmas foras que criam as
formas das comunicaes ideolgicas (cognitiva, artstica, reli-
giosa, etc.), as quais determinam, por sua vez, as formas da ex-
presso semitica
54
(10, 46).
Essa explicao extra-verbal da natureza do tema precisa
ser compreendida tambm na sua relao com o verbal, ou seja,
com a palavra, visto que o enunciado concreto, como j fala-
mos, se compe de uma parte verbal as palavras e de uma
54
Essas foras sociais e a organizao econmica da sociedade so
fundamentais para a compreenso ativa de qualquer conceito do
Crculo. Elas aparecem no todo da obra com as seguintes
designaes: horizonte social, apreciao social , expressividade
e outras.
113
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
parte extra-verbal a situao. Bakthin/Volochinov formula,
ento, a inter-relao entre o tema extra-verbal e a significa-
o verbal da seguinte maneira:
o tema constitui o estgio superior real da capacidade lingsti-
ca de significar. De fato, apenas o tema significa de maneira
determinada. A significao o estgio inferior da capacidade
de significar. A significao no quer dizer nada em si mesma,
ela apenas um potencial, uma possibilidade de significar no
interior de um tema concreto (10, 131).
Os tericos russos distinguem aqui a relao entre a signi-
ficao contextual de um enunciado concreto o tema e a signi-
ficao da palavra, frase, orao no sistema da lngua, ou seja, a
investigao abstrata dos elementos lingsticos
55
. A natureza
semntica e a natureza lingstica, ou seja, o extra-verbal e o
verbal que compem o enunciado concreto se completam na se-
guinte dinmica: a significao, elemento abstrato igual a si
mesmo, absorvida pelo tema, e dilacerada por suas contradi-
es vivas, para retornar enfim sob a forma de uma nova signifi-
cao com uma estabilidade e uma identidade igualmente provi-
srias (10, 136).
Essa relao do tema com o enunciado concreto, nico, e
no reitervel, ajuda a compreender o discurso de outrem, fen-
meno que estudado amplamente pelo Crculo. A relao entre o
discurso do autor e o discurso citado envolve, tambm, uma abor-
dagem do tema. O discurso citado um tema do nosso discurso.
Enquanto um enunciado citado, ele apresenta o seu prprio tema,
e assim integra o contexto do discurso do autor o nosso discur-
so: o tema autnomo ento torna-se o tema de um tema (10,
144). O estudo do fenmeno do discurso citado exige que se es-
55
Pode ser feita um analogia entre essa inter-relao entre tema e
significao e a que foi feita no captulo anterior entre enunciado e
frase (e orao), visto que o tema corresponde a uma forma do
enunciado e a significao forma da lngua.
114
.~..J. .J~. ....
56
Na edio francesa aparece enunci ado e no enunciao: Le sens
linguistique dun nonc donn se conoit sur le fond du langage, son
sens rel, sur le fond dautres noncs concrets sur le mme thme,
dautres opinions, points de vue et apprciations en langages divers
(18, 104).
tabelea uma relao dialgica entre o tema do enunciado do au-
tor e o tema do enunciado citado. Segundo Bakhtin, o significado
lingstico de uma enunciao dada conhecido sobre o fundo de
uma lngua e o seu sentido atual, sobre o fundo de outras
enunciaes concretas do mesmo tema, sobre o fundo de opinies
contraditrias, de pontos de vista e de apreciaes
56
(17, 90).
No ensaio O discurso no romance, Bakhtin dedica um
captulo pessoa que fala no romance, buscando a relao entre
essa pessoa representada no gnero secundrio (romance), e a
pessoa que fala na vida cotidiana gnero primrio. Nesse lti-
mo, ele mostra como nossa fala est cheia de palavras de outrem,
ou seja, o tema de nossos discursos o tema dos discursos de
outrem: fala-se no cotidiano sobretudo a respeito daquilo que os
outros dizem transmitem-se, evocam-se, ponderam-se, ou jul-
gam-se as palavras dos outros, as opinies, as declaraes, as
informaes; indigna-se ou concorda-se com elas, discorda-se
delas, refere-se a elas, etc. Se prestarmos ateno aos trechos de
um dilogo tomado ao vivo na rua, na multido, nas filas, no hall,
etc., ouviremos com que freqncia se repetem as palavras diz,
dizem, disse, e freqentemente escutando-se uma conversa
rpida de pessoas na multido, ouve-se como que tudo se juntar
num nico ele diz, voc diz, eu digo E como importante o
todos dizem e o ele disse para a opinio pblica, a fofoca, o
mexerico, a calnia, etc. (17, 139).
importante ressaltar quantas caractersticas o tema j
adquiriu nesse percurso. O tema ideolgico, histrico-
fenomenolgico, sociolgico e dialgico, ou seja, preenche o prin-
cpio monstico que rege todos os conceitos formulados pelo Cr-
culo. A engrenagem dinmica que move o enunciado concreto
move tambm todos os seus elementos constitutivos.
115
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Assim sendo, o tratamento exaustivo do tema do enuncia-
do , em conjunto com o gnero do discurso e o intuito discursivo
do locutor, um dos trs fatores que em interao orgnica do
acabamento especfico ao enunciado concreto e proporcionam
sua capacidade de responder a enunciados anteriores.
Para Bakhtin, o objeto do discurso inesgotvel, porm,
quando se torna tema de um enunciado (de uma obra cientfica,
por exemplo), recebe um acabamento relativo, em condies de-
terminadas, em funo de uma dada abordagem do problema, do
material, dos objetivos por atingir, ou seja, desde o incio ele esta-
r dentro dos limites de um intuito definido pelo autor (21, 300).
Nesse sentido, o objeto do discurso o tema de um enunciado
concreto no objeto do discurso pela primeira vez neste enun-
ciado, e este locutor no o primeiro a falar dele (21, 319). Se-
gundo o terico russo, o locutor no um Ado, e por isso o
objeto de seu discurso se torna, inevitavelmente, o ponto onde se
encontram as opinies de interlocutores imediatos (numa con-
versa ou numa discusso acerca de qualquer acontecimento da
vida cotidiana) ou ento as vises de mundo, as tendncias, as
teorias, etc. (na esfera da comunicao cultural) (21, 319-320).
O tema, como um dos fatores de acabamento do enunciado
concreto, exige que o percebamos dentro do mesmo princpio
dialgico que orienta esse enunciado, ou seja, para uma com-
preenso ativa do tema no podemos nos esquecer que o enun-
ciado um elo na cadeia da comunicao verbal e no pode ser
separado dos elos anteriores que o determinam, por fora e por
dentro, e provocam nele reaes-respostas imediatas e uma res-
sonncia dialgica
57
(21, 320).
57
No ensaio O problema do Texto, Bakhtin fornece uma outra dimen-
so do princpio dialgico que orienta o tema, no interior da grande
temporalidade: dois enunciados distintos confrontados um com o
outro, ignorando tudo um do outro, apenas ao tratar superficialmen-
te um nico e mesmo tema entabulam, inevitavelmente, uma relao
dialgica entre si. Ficam em contato, no territrio do tema comum,
de um pensamento comum (22, 342).
116
.~..J. .J~. ....
Para concluir nossas observaes acerca do tema o sen-
tido do enunciado concreto vamos tomar tema e sentido como
sinnimos e apresentar mais uma pea da engrenagem dinmi-
ca que move as formulaes tericas do Crculo:
O sentido potencialmente infinito, mas s se atualiza no contato
com outro sentido (o sentido do outro), mesmo que seja apenas no
contato com uma pergunta no discurso interior do compreendente.
Ele deve sempre entrar em contato com outro sentido para revelar
os novos momentos de sua infinidade (assim como a palavra reve-
la suas significaes somente num contexto). O sentido no se
atualiza sozinho, procede de dois sentidos que se encontram e
entram em contato. No h um sentido em si. O sentido existe s
para outro sentido, com o qual existe conjuntamente. O sentido
no existe sozinho (solitrio). Por isso no pode haver um sentido
primeiro ou ltimo, pois o sentido se situa sempre entre os senti-
dos, elo na cadeia do sentido que a nica suscetvel, em seu todo,
de ser uma realidade. Na vida histrica, essa cadeia cresce infini-
tamente; por essa razo que cada um dos elos se renova sempre;
a bem dizer, renasce outra vez (25, 386).
3. Iressividade
Para compreender o enunciado concreto na cadeia da co-
municao verbal necessrio perseguir o conceito que organiza
essa comunicao, e esse conceito aparece com vrios nomes no
todo da obra do Crculo, preenchendo as concepes tica, hist-
rico-fenomenolgica, sociolgica, ideolgica e dialgica por ele
desenvolvida: avaliao social, apreciao social, orientao so-
cial, horizonte social, expressividade, enfim, uma srie de termos
para recobrir um elemento comum a noo de valor que preen-
che a relao do autor com o seu enunciado concreto.
Nesse sentido, decidimos levantar alguns aspectos do per-
curso do conceito apreciao social no interior do todo da obra do
Crculo, reservando para ltima parte as observaes em torno
117
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
do conceito expressividade, desenvolvida por Bakhtin no ensaio
Os gneros do discurso (1952-1953), o qual representa, para
ns, a articulao do conceito de valor no interior do enunciado
concreto em seu mais alto grau.
Os conceitos que articulam a Teoria do Enunciado Concre-
to acabam, como sabemos, se situando, por um lado, sempre na
fronteira entre o verbal e o extra-verbal, e por conseqncia, h
sempre uma interao orgnica entre eles. o que acontece, por
exemplo, com o conceito apreciao social. A apreciao social, o
valor de uma determinada relao social numa comunidade dis-
cursiva, define:
a escolha do tema, palavras, forma e sua combinao
individual nos limites de um enunciado dado;
a escolha do contedo, a seleo da forma e a conexo
entre forma e contedo.
Segundo Bakhtin/Medvedev, a apreciao social unifica
o minuto da poca e as novidades do dia com a inteno hist-
rica. Isso determina a fisionomia histrica de todo ato e de todo
enunciado, sua fisionomia histrica individual, de classe, de po-
ca (7, 121).
Em relao a esse mesmo conceito, Bakhtin/Medvedev diz
que se trata de uma instncia intermediria entre a lngua en-
quanto sistema abstrato de possibilidades o ponto de vista das
formas lingsticas e a lngua enquanto realidade concreta o
ponto de vista do sentido: apenas para o enunciado dado, em
suas condies histricas particulares que a unidade de senti-
do, signo e realidade realizada atravs da apreciao social. Se
tomarmos o enunciado concreto fora de sua criao histrica, em
abstrao, estaremos longe do que estamos, precisamente, pro-
curando (7, 125-126). A apreciao social compe, ento, o eixo
tico com o qual opera qualquer enunciado concreto.
Por tudo isso, impossvel compreender um enunciado
concreto sem nos acostumarmos aos seus valores, sem com-
118
.~..J. .J~. ....
preender a orientao de suas apreciaes no meio ideolgico
(7, 121). Ou como aparece em Marxismo e Filosofia da Lingua-
gem, toda enunciao [enunciado] compreende antes de mais
nada uma orientao apreciativa (10, 135).
Os conceitos apreciao social ou orientao apreciativa vo
estabelecer uma relao dialgica de concordncia com o con-
ceito expressividade, desenvolvido por Bakhtin mais extensamen-
te, como j falamos, no ensaio Os gneros do discurso. De qual-
quer maneira, no podemos esquecer que o conceito expressivi-
dade j aparece no ensaio O discurso no romance (1934-1935),
na discusso da palavra bivocal, ou seja, da relao entre o enun-
ciado do autor e o enunciado de outrem: no campo de quase
todo enunciado ocorre uma interao tensa e um conflito entre a
sua palavra e a de outrem, um processo de delimitao ou de
esclarecimento dialgico mtuo. Desta forma o enunciado um
organismo muito mais complexo e dinmico do que parece, se
no se considerar apenas sua orientao objetal e sua expressivi-
dade unvoca direta
58
(17, 153). esta natureza complexa e
dinmica do enunciado concreto e sua relao com a expressivi-
dade que passar a ser, agora, nosso objeto de reflexo.
Antes de nos determos sobre o conceito expressividade,
vamos recapitular as trs particularidades constitutivas do enun-
ciado concreto. Em primeiro lugar, o enunciado concreto um
elo na cadeia de comunicao verbal, portanto, ele se constitui
pela alternncia dos sujeitos falantes. Em segundo, o enunciado
concreto se constitui por um determinado acabamento, cujo in-
terior se constitui, por sua vez, de trs fatores ligados indissolu-
velmente: um gnero do discurso determinado, um tema trata-
do exaustivamente no processo da comunicao verbal, e o intui-
58
Bakhtin considera que na composio de quase todo enunciado do
homem social desde a curta rplica do dilogo familiar at as grandes
obras verbal-ideolgicas (literrias, cientficas e outras) existe, numa
forma aberta ou velada, uma parte considervel de palavras
significativas de outrem, transmitidas por um ou outro processo
(17, 153).
119
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
to do locutor a sua expressividade individual para com esse
enunciado. Finalmente, o enunciado concreto se constitui na re-
lao com o seu autor e com os seus outros parceiros destina-
trios da comunicao verbal.
Todas essas particularidades constitutivas do enunciado
concreto se caracterizam, no processo da comunicao verbal,
por uma expressividade determinada. Mas o que seria essa ex-
pressividade? Qual a sua relao com essas particularidades,
ou seja, com o gnero do discurso, com o tema, com a entonao
e com o estilo, assim como com o autor e com o enunciado de
outrem? E qual a diferena entre a expressividade do enun-
ciado concreto e a expressividade da orao?
Antes de mais nada, vamos responder a essa ltima ques-
to. No ensaio Os gneros do Discurso (1952-1953), Bakhtin
faz as seguintes perguntas: Pode-se considerar que o princpio
expressivo do discurso um fenmeno da lngua enquanto sis-
tema? Pode-se falar de aspectos expressivos quando se trata de
unidades da lngua, ou seja, de palavras e de oraes? (21, 308).
Segundo o terico russo, essas perguntas s podem ter uma res-
posta negativa: a lngua enquanto sistema dispe, claro, de um
rico arsenal de recursos lingsticos lexicais, morfolgicos e sin-
tticos para expressar a posio emotivo-valorativa do locutor,
mas todos esses recursos na qualidade de recursos lingsticos,
so absolutamente neutros no plano dos valores da realidade
(21, 308), ou seja, no acontecimento de um enunciado concreto
no h espao para neutralidade.
De qualquer maneira, no podemos esquecer que a expres-
sividade do enunciado concreto, nico, e no reitervel,
construda com a ajuda do material verbal, isto , dos recursos
lingsticos. E com isso concorda Bakhtin: apenas o contato entre
a significao lingstica e a realidade concreta, apenas o contato
entre a lngua e a realidade que se d no enunciado provoca o
lampejo da expressividade. Esta no est no sistema da lngua e
tampouco na realidade objetiva que existiria fora de ns (21,
311).
120
.~..J. .J~. ....
De acordo com o terico russo, o sistema da lngua possui
as formas necessrias (isto , os recursos lingsticos) para ma-
nifestar a expressividade, mas na prpria lngua as unidades
significantes (palavras e oraes) carecem, por sua natureza, de
expressividade, so neutras. isso que possibilita que elas sir-
vam de modo igualmente satisfatrio a todos os valores, os mais
variados e opostos e a todas as instncias do juzo do valor
59
(21,
315).
A expressividade deve ser relacionada, ento, com o acon-
tecimento nico de um enunciado concreto, ou seja, com toda a
reflexo em torno da realidade concreta da linguagem desenca-
deada pelo Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev. em torno
dessa reflexo sobre o particular, e no das reflexes do objetivismo
abstrato e do subjetivismo idealista, que podemos compreender
de maneira ativa a anlise do acabamento especfico que um enun-
ciado concreto, realizado, adquire na comunicao verbal.
no interior da noo de acabamento especfico do enun-
ciado concreto que vamos tentar perceber a natureza da relao
existente entre os trs fatores desse acabamento, os quais esto
em interao orgnica o tema, o gnero do discurso e a expres-
sividade, bem como a relao da expressividade com o enun-
ciado de outrem.
Para Bakhtin, a expressividade , num primeiro momento,
a relao valorativa do locutor para com o tema o objeto do
discurso, ou seja, ela corresponde ao intuito, ao querer-dizer do
locutor no ato de criao do enunciado concreto. Como j vimos
anteriormente, a unidade temtica de um enunciado concreto se
59
Essa relao de neutralidade da palavra j foi desenvolvida anterior-
mente por Bakhtin/Volochinov em Marxismo e Filosofia da Lingua-
gem, quando da distino entre o signo ideolgico aquele que tem
expressividade e a palavra. Para os tericos russos, o signo cria-
do por uma funo ideolgica precisa e permanece inseparvel dela.
A palavra, ao contrrio, neutra em relao a qualquer funo ideo-
lgica especfica. Pode preencher qualquer espcie de funo ideol-
gica: esttica, cientfica, moral, religiosa (10, 37).
121
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
desenvolve organicamente na unidade do gnero. Nesse sentido,
segundo o terico russo, o gnero do discurso no uma forma
da lngua, mas uma forma do enunciado que, como tal, recebe do
gnero uma expressividade determinada, tpica, prpria do gne-
ro dado (21, 312).
No interior da comunicao verbal, o gnero algo que
dado. Portanto, os gneros do discurso correspondem a circuns-
tncias e temas tpicos da comunicao verbal e, por conseguin-
te, a certos pontos de contato tpicos entre as significaes da
palavra e a realidade concreta [] Essa expressividade tpica do
gnero, claro, no pertence palavra como unidade da lngua e
no entra na composio de sua significao, mas apenas reflete
a relao que a palavra e sua significao mantm com o gnero,
isto , com os enunciados tpicos (21, 312).
Assim sendo, podemos compreender porque na engrena-
gem dinmica do enunciado concreto os trs fatores do seu aca-
bamento especfico a expressividade, o tema e o gnero do dis-
curso esto indissoluvelmente ligados.
Mas, segundo Bakhtin, a expressividade de um enuncia-
do nunca pode ser compreendida e explicada at o fim se se levar
em conta somente o teor do objeto do sentido (21, 317), isto , se
permanecermos apenas no interior da inteno do locutor em re-
lao ao tema dois dos fatores de acabamento, ou mesmo na
interao orgnica existente entre o tema, o gnero do discurso e
esse intuito discursivo do locutor.
preciso mais, necessrio, dentro da engrenagem din-
mica que move o enunciado concreto, consider-la como uma
resposta: a expressividade de um enunciado sempre, em me-
nor ou maior grau, uma resposta, em outras palavras: manifesta
no s sua prpria relao com o objeto do enunciado, mas tam-
bm a relao do locutor com os enunciados do outro (21, 317).
Esse aspecto da expressividade corresponde a sua relao com a
terceira particularidade constitutiva do enunciado concreto: a re-
lao desse enunciado com o seu autor e com aqueles a que ele
responde, os destinatrios.
122
.~..J. .J~. ....
Para o terico russo, a experincia verbal individual do
homem toma forma e evolui sob o efeito da interao contnua e
permanente com os enunciados individuais do outro (21, 314).
Nesse sentido, as palavras dos outros introduzem sua prpria
expressividade, seu tom valorativo, que assimilamos, reestru-
turamos, modificamos (21, 314).
No interior da comunicao verbal no estamos mais no
interior dos recursos lingsticos sozinhos, e sim, na cadeia de
enunciados concretos que a compem em evoluo permanente.
por isso que o enunciado de outrem tem tanta importncia nas
reflexes do Crculo, e tambm que um enunciado concreto
uma sntese dialtica entre as minhas palavras e as palavras dos
outros.
Segundo Bakhtin, a expressividade da palavra isolada no
pois propriedade da prpria palavra, enquanto unidade da
lngua, e no decorre diretamente de sua significao. Ela se pren-
de quer expressividade padro de um gnero, quer expressivi-
dade individual do outro que converte a palavra numa espcie de
representante do enunciado do outro em seu todo um todo por
ser instncia determinada de um juzo de valor (21, 314).
Se considerarmos que todo enunciado concreto, enquanto
uma expresso tpica, um gnero do discurso determinado, se
constri no interior dos enunciados dos outros
60
e responde a
esses enunciados
61
, estaremos mais prximos de uma compreen-
so ativa das formulaes desenvolvidas por Bakhtin, Volochinov
e Medvedev em torno da cadeia da comunicao verbal, e dos
enunciados concretos que so as unidades dessa comunicao
verbal.
60
A experincia verbal do homem pode ser definida, segundo Bakhtin,
como um processo de assimilao, mais ou menos criativo, das
palavras do outro (e no das palavras da lngua) (21, 314).
61
Para Bakhtin, a resposta transparecer nas tonalidades do sentido,
da expressividade, do estilo, nos mais nfimos matizes da composio
(21, 317).
123
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Resta-nos ainda tratar da relao da expressividade com o
estilo e a entonao, o que realizaremos a seguir nas duas lti-
mas partes deste captulo. Por ora, deixamos mais uma obser-
vao de Bakhtin acerca da interao orgnica entre as particu-
laridades constitutivas do enunciado concreto:
o enunciado, seu estilo e sua composio so determinados pelo
objeto do sentido e pela expressividade, ou seja, pela relao
valorativa que o locutor estabelece com o enunciado (21, 315).
4. Isiios
O que nos interessa discutir neste tpico so as carac-
tersticas que o conceito estilo adquire no todo da obra do Crcu-
lo, no interior de uma Teoria do Enunciado Concreto, e sua rela-
o com os outros conceitos que articulam essa teoria como g-
nero do discurso, tema, expressividade e entonao, bem como a
relao do estilo com o fenmeno do discurso de outrem.
Com esse intuito, vamos buscar no todo da obra do Circulo
uma definio de estilo. Em 1926, no ensaio Le discours dans la
vie et dans la posie, Volochinov nos d a seguinte definio de
estilo: O estilo o homem; mas podemos dizer que o estilo ,
pelo menos, dois homens, ou mais exatamente, um homem e um
grupo social representado pelo ouvinte que participa permanen-
temente no discurso interior e exterior do homem e encarna a
autoridade que o grupo social exerce sobre ele (5, 212), ou seja,
o estilo, como todos os outros conceitos do Crculo se define pela
interao dialgica entre duas ou mais pessoas. O estilo , da
mesma maneira que o enunciado concreto, uma construo dia-
lgica, sociolgica e ideolgica, ou seja, sempre que nos referimos
ao enunciado concreto e seus elementos estamos no domnio do
criado.
No interior de um gnero do discurso secundrio a obra
literria , Volochinov define dois aspectos da relao entre o
autor e o heri que definem o estilo:
124
.~..J. .J~. ....
a) o valor hierrquico do heri;
b) seu grau de proximidade em relao ao autor. (5, 208)
Transportando esses aspectos para o gnero primrio, dir-
amos que o estilo determinado pelo valor hierrquico do interlo-
cutor, e o grau de proximidade que existe entre o autor do enun-
ciado e esse interlocutor no que se refere a um tema determina-
do
62
. Nesse sentido, podemos aproveitar a mesma explicao que
Bakhtin d para o grau de proximidade entre o autor e o heri:
esse aspecto tem, em todas as lnguas, uma expresso gramati-
cal imediata: o emprego da primeira, da segunda ou da terceira
pessoa, e a modificao da estrutura da frase em funo de seu
sujeito (eu, tu ou ele) (5, 207). Para o terico russo, a estru-
tura da linguagem reflete aqui a relao recproca dos locutores
(5, 207).
Para Bakhtin/Volochinov, a individualizao estilstica da
enunciao [enunciado] [] constitui justamente este reflexo da
inter-relao social, em cujo contexto se constri uma determi-
nada enunciao [enunciado] (10, 113). a situao e os parti-
cipantes mais imediatos que determinam a forma e o estilo ocasi-
onais da enunciao [enunciado] (10, 114). Os tericos russos
consideram que a elaborao estilstica da enunciao [enun-
ciado] de natureza sociolgica e a prpria cadeia verbal, qual
se reduz em ltima anlise a realidade da lngua, social (10,
122).
Essa abordagem sociolgica do estilo permeia a tipologia
do enunciado citado, desenvolvida pelo Crculo na obra Marxis-
mo e Filosofia da Linguagem. Essa tipologia do estilo desenvol-
vida no interior de um gnero secundrio: o romance. Pela orien-
tao dinmica da inter-relao verbal entre o enunciado do au-
tor e o enunciado citado, ou o discurso de outrem, Bakhtin/Volo-
chinov classifica os estilos em: linear, pictrico e monumental.
62
Essas caractersticas vo ser utilizadas posteriormente para a distino
entre estilo familiar, estilo ntimo e estilo objetivo.
125
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
No estilo linear, as fronteiras entre o discurso do autor e o
discurso citado so ntidas e inviolveis: a tendncia principal
do estilo linear criar contornos exteriores ntidos volta do dis-
curso citado, correspondendo a uma fraqueza do fator individual
interno (10, 150). J no estilo pictrico acontece o oposto. Nesse
tipo, as particularidades lingsticas so apreendidas e ocorre
uma colorao do enunciado: a tendncia do estilo pictrico
atenuar os contornos exteriores ntidos da palavra de outrem
(10, 150). E no ltimo, o estilo monumental, que compreende o
discurso direto, ocorre a transposio primitiva e inerte do enun-
ciado de outrem.
O fenmeno do enunciado de outrem amplamente inves-
tigado pelo Crculo porque, como vimos, no interior da comuni-
cao verbal ocorre uma interao tensa entre o enunciado do
autor o meu enunciado e o enunciado dos outros, aqueles
enunciados que formaram e formam a minha conscincia. O
material que constitui o enunciado concreto meu ou dos outros
a palavra viva: a palavra no um objeto, mas um meio
constantemente ativo, constantemente mutvel de comunicao
dialgica. Ela nunca basta a uma conscincia, a uma voz. Sua
vida est na passagem de boca em boca, de um contexto para
outro, de um grupo social para outro, de uma gerao para ou-
tra. Nesse processo ela no perde o seu caminho nem pode liber-
tar-se at o fim do poder daqueles contextos concretos que inte-
grou (13, 176)
63
.
essa palavra viva que permite ao Crculo desenvolver a
Metalingstica e encarar o estilo dentro desse ponto de vista. De
acordo com Bakhtin, a estilstica deve basear-se no apenas e
nem tanto na lingstica quanto na metalingstica, que estuda a
palavra no no sistema da lngua e nem num texto tirado da
comunicao dialgica, mas precisamente no campo propriamente
dito da comunicao dialgica, ou seja, no campo da vida autn-
63
Bakhtin considera que o exame do discurso do ponto de vista da sua
relao com o discurso do outro de excepcional importncia para a
compreenso da prosa artstica (13, 173).
126
.~..J. .J~. ....
tica da palavra (13, 176), isto , na cadeia da comunicao ver-
bal e no interior de sua unidade: o enunciado concreto.
No ensaio Os gneros do discurso, Bakhtin fornece uma
viso completa e objetiva de todas as inter-relaes do estilo com
os elementos do enunciado concreto, assim como uma reflexo
em torno desse conceito enquanto um fato gramatical fenme-
no da lngua e um fato estilstico fenmeno do enunciado
concreto.
Em primeiro lugar, vamos verificar a relao entre o estilo e
o gnero do discurso. Segundo Bakhtin, o estilo est
indissoluvelmente ligado ao enunciado e a formas tpicas de enun-
ciado, isto , aos gneros do discurso (21, 283). Para o terico
russo, a definio de um estilo em geral e de um estilo individual
em particular requer um estudo aprofundado da natureza do
enunciado e da diversidade dos gneros do discurso (21, 283),
pois cada esfera da atividade e da comunicao humana conhece
seus gneros, apropriados sua especificidade, aos quais corres-
pondem determinados estilos (21, 284).
Nesse sentido, vamos apontar algumas caractersticas da
relao entre o estilo e as particularidades constitutivas do enun-
ciado concreto:
a) o estilo indissociavelmente vinculado a unidades te-
mticas determinadas e, o que particularmente im-
portante, a unidades composicionais: tipo de estrutura-
o e de concluso de um todo, tipo de relao entre o
locutor e os outros parceiros da comunicao verbal (21,
284);
b) o estilo entra como elemento na unidade de gnero de
um enunciado (21, 284);
c) o enunciado, seu estilo e sua composio so determi-
nados pelo objeto do sentido e pela expressividade, ou
seja, pela relao valorativa que o locutor estabelece com
o enunciado (21, 315).
127
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
d) uma anlise estilstica que queira englobar todos os as-
pectos do estilo deve obrigatoriamente analisar o todo
do enunciado e, obrigatoriamente, analis-la dentro da
cadeia da comunicao verbal de que o enunciado
apenas um elo inalienvel (21, 326).
Depois de inserir o estilo na engrenagem dinmica do enun-
ciado concreto, resta-nos complement-lo com a tipologia do es-
tilo engendrada por Bakhtin, a qual distingue entre estilo famili-
ar, estilo ntimo e estilo objetivo-neutro. Como, para o terico
russo, a anlise estilstica deve ser feita no interior da comunica-
o verbal, necessrio perceber, ento, como as relaes de
comunicao social vo se integrar a esse processo.
Segundo Bakhtin, a estrutura da sociedade em classes
introduz nos gneros do discurso e nos estilos uma extraordin-
ria diferenciao que se opera de acordo com o ttulo, a posio, a
categoria, a importncia conferida pelo fortuna privada ou pela
notoriedade pblica, pela idade do destinatrio e, de modo
correlato, de acordo com a situao do prprio locutor (ou escri-
tor) (21, 322). A partir da interao orgnica entre o gnero do
discurso e o estilo, e do grau de proximidade entre o destinatrio
e o locutor, podemos compreender a tipologia de estilos ntimo,
familiar, objetivo definida na esfera da vida cotidiana ou da vida
oficial.
Os dois primeiros estilos ntimo e familiar em interao
orgnica com seus respectivos gneros se caracterizam pelo
carter pessoal, isto , por se realizarem fora dos mbitos da
hierarquia e das convenes sociais (em maior ou menor grau),
sem a graduao, poderamos dizer (21, 323). No primeiro h
uma tendncia para a fuso entre o locutor e o destinatrio, ou
seja, os gneros e os estilos ntimos repousam numa mxima
proximidade interior entre o locutor e o destinatrio da fala
64
64
Segundo Bakhtin, o discurso ntimo empregnado de uma confiana
profunda no destinatrio, na sua simpatia, na sensibilidade e na boa
128
.~..J. .J~. ....
(21, 323). J no segundo existe uma tendncia para a expresso
de uma atitude pessoal, informal, para com a realidade, isto ,
ele usado para destronar os estilos e as vises de mundo que
gozam de um estatuto tradicional e oficial, que se necrozam e
ficam convencionais (21, 323).
O terceiro tipo de estilo objetivo ou neutro representa o
estilo que compreendido pela estilstica tradicional. A compreen-
so do estilo, nesse perspectiva, caracteriza-se por subestimar a
relao do locutor com o destinatrio, baseando suas anlises
apenas no tema do enunciado e na relao do locutor para com
esse tema, ou seja, rompendo a interao orgnica entre o autor
e o destinatrio. Para Bakhtin, quando se subestima a relao
do locutor com o outro e com seus enunciados (existentes ou
presumidos), no se pode compreender nem o gnero nem o esti-
lo de um discurso (21, 324). De qualquer forma, esse estilo no
deixa de levar em conta uma certa idia de destinatrio. A dife-
rena que, ao contrrio do estilo ntimo, a expressividade no
estilo objetivo reduzida ao extremo, ou seja o estilo objetivo-
neutro pressupe uma espcie de identificao entre o destinat-
rio e o locutor, uma comunho de pontos de vista, o que ocorre
custa de uma recusa de expressividade
65
(21, 324).
A complementaridade entre o verbal e o no-verbal, as for-
mas da lngua e as formas do enunciado concreto uma das
caractersticas principais das formulaes tericas do Crculo.
Nesse sentido vamos concluir a nossa abordagem do conceito
estilo com uma citao de Bakhtin que reafirma esse carter com-
plementar:
Pode-se dizer que a gramtica e a estilstica se juntam e se sepa-
ram em qualquer fato lingstico concreto que, encarado do pon-
to de vista da lngua, um fato gramatical, encarado do ponto de
vontade de sua compreenso responsiva. Nesse clima de profunda
confiana, o locutor desvela suas profundezas interiores (21, 323).
65
O discurso cientfico tem a pretenso de ser uma expresso desse
estilo objetivo-neutro.
129
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
vista do enunciado individual, um fato estilstico. Mesmo a se-
leo que o locutor efetua de uma forma gramatical j um ato
estilstico. Esses dois pontos de vista sobre um nico e mesmo
fenmeno concreto da lngua no devem porm excluir-se mutu-
amente, substituir-se mecanicamente um ao outro, devem com-
binar-se organicamente (com a manuteno metodolgica de sua
diferena) sobre a base da unidade real do fato lingstico. Ape-
nas uma compreenso profunda da natureza do enunciado e das
particularidades dos gneros do discurso pode permitir a solu-
o desse complexo problema de metodologia (21, 287).
5. Inionaoes
Onde h gnero h estilo, onde h estilo, h entonao,
onde h entonao h gnero. esse o motivo que leva o pensa-
mento do Crculo a propor uma Sociologia do Gnero, uma
Estilstica Sociolgica, e tambm a perceber a entonao na sua
interao orgnica com os outros dois gnero e estilo em sua
orientao social: a entonao social par excellence (5, 194).
No todo da obra do Crculo, esse conceito aparece com as
seguintes acepes: entonao, entoao, tom, acento, tonalida-
de, sempre em correlao com o conceito de valor horizonte
social, apreciao social, expressividade , que anima a Arquite-
tnica apreciativa da teoria. A entonao a forma sonora da
expresso axiolgica, ou seja, a forma de representao do ele-
mento tico no enunciado concreto.
Num primeiro momento, no ensaio Sobre a Filosofia do
Ato (1919-1921), a definio de entonao est relacionada com
a palavra viva expressa num acontecimento nico da existncia,
portanto, numa perspectiva fenomenolgica: o tom emotivo-volitivo
circunfundi o todo de contedo/ sentido de um pensamento no ato
realmente realizado e o relaciona ocorrncia nica do ser como
acontecimento (2, 34) . Portanto, a entonao ocupa, no todo da
palavra, o aspecto emotivo-volitivo, em interao orgnica com o
aspecto de contedo/sentido (a palavra como conceito) e o aspec-
to palpvel-expressivo (a palavra como imagem).
130
.~..J. .J~. ....
A entonao um elemento constituinte da palavra e ex-
pressa a atitude de valor do indivduo em direo ao objeto
66
, o
que desejvel ou indesejvel nele: por aspecto entonacional da
palavra compreendemos a sua capacidade de exprimir toda a
multiplicidade das relaes axiolgicas do indivduo falante como
contedo do enunciado (no plano psicolgico a multiplicidade
das aes emocionais e volitivas do falante), alm disso, mesmo
que este aspecto fosse expresso numa entonao real durante a
execuo, ou fosse experimentado simplesmente como uma pos-
sibilidade, ele teria igualmente uma dimenso esttica (4, 64).
Volochinov acrescenta a essa perspectiva esttica, uma
perspectiva sociolgica, discutindo a essncia social da entona-
o, a qual se situa na fronteira entre o verbal e o no-verbal,
conduzindo o discurso para fora dos limites verbais. Como um
dos elementos do enunciado concreto, a entonao tm as mes-
mas caractersticas que orientam o todo desse enunciado:
a) a natureza social;
b) a orientao ao ouvinte (o segundo participante);
c) a orientao ao objeto do enunciado (o tema).
Para Volochinov, a entonao se encontra na fronteira da
vida e da parte verbal do enunciado, ela transmite a energia da
situao vivida no discurso, ela confere a tudo o que lingisti-
camente estvel um movimento histrico vivo e um carter de
singularidade (5, 199). Nesse sentido, a entonao apresenta
caractersticas histrico-fenomenolgica e sociolgica.
Bakhtin/Medvedev considera a entonao condicionada
pelo sentido nico (tema) e no-repetvel do enunciado como
entonao expressiva, a qual ele distingue da entonao sinttica
ou entonao em geral: A entonao expressiva, distinta da en-
tonao sinttica que mais estvel, colori todas as palavras do
enunciado e reflete sua singularidade histrica [] claro que a
66
Como j falamos essa uma das particularidades constitutivas do
enunciado concreto.
131
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
entonao expressiva no obrigatria, mas, quando ela ocorre,
a mais distinta expresso da apreciao social (7, 122). Essa
tipologia da entonao ir refletir na tipologia estilstica estilo
linear, estilo pictrico, estilo monumental apresentada pelo Cr-
culo.
No livro Marxismo e Filosofia da Linguagem (1929), Bakhtin/
Volochinov explica a relao entre a entonao expressiva e a
apreciao social expressividade da seguinte maneira: o nvel
mais bvio, que ao mesmo tempo o mais superficial da apreci-
ao social contida na palavra, transmitido atravs da entoao
expressiva (10, 132). Para justificar essa afirmao, ele nos d
um exemplo retirado do Dirio de um Escritor, de Dostoivski:
Certa vez, num domingo, j perto da noite, eu tive ocasio de
caminhar ao lado de um grupo de seis operrios embriagados, e
subitamente me dei conta de que possvel exprimir qualquer
pensamento, qualquer sensao, e mesmo raciocnios profun-
dos, atravs de um s e nico substantivo, por mais simples que
seja [Dostoivski est pensando aqui numa palavrinha censura-
da de largo uso]. Eis o que aconteceu. Primeiro, um desses ho-
mens pronuncia com clareza e energia esse substantivo para ex-
primir, a respeito de alguma coisa que tinha sido dita antes, a
sua contestao mais desdenhosa. Um outro lhe responde repe-
tindo o mesmo substantivo, mas com um tom e uma significao
completamente diferentes, para contrariar a negao do primei-
ro. O terceiro comea bruscamente a irritar-se com o primeiro,
intervm brutalmente e com paixo na conversa e lana-lhe o
mesmo substantivo, que toma agora o sentido de uma injria.
Nesse momento, o segundo intervm novamente para injuriar o
terceiro que o ofendera. O que h, cara? quem t pensando que
? a gente t conversando tranqilo e a vem voc e comea a
bronquear! S que esse pensamento, ele o exprime pela mesma
palavrinha mgica de antes, que designa de maneira to simples
um certo objeto; ao mesmo tempo, ele levanta o brao e bate no
ombro do companheiro. Mas eis que o quarto, o mais jovem do
grupo, que se calara at ento e que aparentemente acabara de
encontrar a soluo do problema que estava na origem da dispu-
ta, exclama com um tom entusiasmado, levantando a mo:
132
.~..J. .J~. ....
Eureka! Achei, achei!. Ele simplesmente repete o mesmo subs-
tantivo banido do dicionrio, uma nica palavra, mas com um
tom de exclamao arrebatada, com xtase, aparentemente ex-
cessivo, pois o sexto homem, o mais carrancudo e mais velho dos
seis, olha-o de lado e arrasa num instante o entusiasmo do jo-
vem, repetindo com uma imponente voz de baixo e num tom ra-
bugento sempre a mesma palavra, interdita na presena de
damas para significar claramente: No vale a pena arrebentar a
garganta, j compreendemos! Assim, sem pronunciar uma ni-
ca outra palavra, eles repetiram seis vezes seguidas sua palavra
preferida, um depois do outro, e se fizeram compreender perfei-
tamente (10, 133).
Bakhtin/Volochinov observa que em todos esses casos, o
tema, que uma propriedade de cada enunciao [enunciado]
(cada uma das enunciaes [enunciados] dos seis operrios ti-
nha um tema prprio), realiza-se completa e exclusivamente atra-
vs da entoao expressiva, sem ajuda da significao das pala-
vras ou da articulao gramatical (10, 134), o que vem de encon-
tro ao aspecto emocional do intuito discursivo do locutor, um dos
fatores de acabamento especfico do enunciado concreto.
Podemos estabelecer uma relao dialgica entre esse exem-
plo e a seguinte observao que aparece no ensaio Observaes
sobre a epistemologia das cincias humanas (1974): h que
observar que a expresso emocional dos valores pode no ter um
carter explicitamente verbal e pode estar implcita, manifestar-
se pela entonao. As entonaes mais substanciais e mais est-
veis constituem um fundo entonacional determinado por um grupo
social (uma nao, uma classe social, uma classe profissional,
um meio, etc.). Em certa medida, pode-se falar apenas por
entonaes, tornando quase indiferente, relativa e intercambivel,
a parte do discurso verbalmente expressa. freqente o emprego
de palavras inteis em sua significao verbal, ou ento a repeti-
o de uma nica e mesma palavra, de uma nica e mesma fra-
se, que ento servem somente de suporte material para a entona-
o desejada (26, 409-410).
133
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
A engrenagem dinmica que orienta um enunciado con-
creto faz com que o Crculo no descuide de nenhum de seus
elementos um momento sequer. Segundo Volochinov, a situa-
o e o auditrio que lhe corresponde determinam antes de tudo
a entonao, e atravs desta que so escolhidas e dispostas as
palavras
67
(16, 305). A modificao de um desses elementos
situao e auditrio provoca uma modificao imediata da ento-
nao.
A natureza da interao orgnica entre a entonao tom,
o tema sentido, e o dilogo explicitada no ensaio O discurso
no romance (1934-1935): a rplica de qualquer dilogo real en-
cerra esta dupla existncia: ela construda e compreendida no
contexto de todo o dilogo, o qual se constitui a partir das suas
enunciaes [enunciados] (do ponto de vista do falante) e das
enunciaes [enunciados] de outrem (do partner). No possvel
retirar uma nica rplica deste contexto misto de discursos pr-
prios e alheios sem que se perca seu sentido e seu tom, ela uma
parte orgnica de um todo plurvoco
68
(16, 93).
Toda essa interao orgnica entre as particularidades cons-
titutivas do enunciado concreto obrigam a distino entre as for-
mas do enunciado concreto e as formas da lngua. Sempre que o
conceito a ser definido concorre com uma outra definio lin-
gstica, por exemplo prprio ao pensamento concreto do gru-
po dar uma definio complementar a esses conceitos.
67
Volochinov d a seguinte ordem para a organizao da forma do
enunciado: os elementos fundamentais que organizam a forma do
enunciado so em primeiro lugar a entonao (o timbre expressivo de
uma palavra), depois a escolha das palavras, enfim, sua disposio
no interior de um enunciado completo (16, 304).
68
Em francs: Cette vie double est galement celle de la rplique de tout
dialogue rel: elle se construit et se conoit dans le contexte dun dialogue
entier, compos dlments << soi >>(du point de vue du locuteur), et
<< lautre>>(du point de vue de son partenaire). De ce contexte
mixte des discours <<siens>>et <<trangers>>, on ne peut ter une
seule rplique sans perdre son sens et son ton. Elle est partie organique
dun tout plurivoque (18, 106).
134
.~..J. .J~. ....
Nesse sentido, Bakhtin, no ensaio Os gneros do Discur-
so (1952-1953), desenvolve a seguinte tipologia da entonao:
1) entonao gramatical (da lngua): marca a concluso,
a explicao, a demarcao, a enumerao, etc.
2) entonao narrativa, exclamativa, exortativa: cruza-
mento da entonao gramatical com a entonao do
gnero;
3) entonao expressiva: a entonao do gnero no todo
do enunciado. (21, 315)
Essa ltima se caracteriza como pertencente no forma
da lngua mas forma do enunciado concreto. Nesse sentido,
vamos apresentar algumas caractersticas da entonao expres-
siva:
a) ela um dos recursos para expressar a relao emotivo-
valorativa com o objeto do discurso (tema);
b) no existe fora do enunciado concreto;
c) uma palavra com entonao expressiva j um enun-
ciado completo. Ex. timo!, nimo!, etc. (21, 309-
310).
d) ela se relaciona com o todo do enunciado concreto, com
a expressividade da palavra, com a expressividade do
gnero na palavra, ou seja, a expressividade e as
entonaes tpicas que lhe correspondem no possuem
a fora normativa prpria das formas da lngua (21,
312).
Vamos terminar nossas observaes sobre a entonao com
um citao de Bakhtin, na qual esse conceito adquire o princpio
dialgico que orienta a engrenagem dinmica do enunciado con-
creto. Aqui, a entonao tonalidades dialgicas vai interagir
com os enunciados de outrem, que como j sabemos, indispen-
svel para qualquer reflexo em torno da comunicao verbal,
135
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
que leve em conta as formulaes tericas de Bakhtin, Volochinov
e Medvedev:
As tonalidades dialgicas preenchem um enunciado e devemos
lev-las em conta se quisermos compreender at o fim o estilo
do enunciado. Pois nosso prprio pensamento nos mbitos da
filosofia, das cincias, das artes nasce e forma-se em intera-
o e em luta com o pensamento alheio, o que no pode deixar
de refletir nas formas de expresso verbal de nosso pensamen-
to (21, 317).
:....J~...~. 1.....
chegada a hora de dar um acabamento relativo a esta
dissertao, procurando pontuar alguns aspectos que conside-
ramos importante repetir, ou complementar, de um lugar dife-
rente. Ao tecer nossas consideraes finais, temos a inteno de
retomar as abordagens que pretendamos imprimisse o carter
deste trabalho: a polmica em torno da autoria da obras; os pon-
tos de vista utilizados pelo Crculo para investigar o enunciado
concreto; e a engrenagem conceitual que orienta essa investiga-
o. Gostaramos, tambm, de ressaltar a coerncia do percurso
terico do Crculo e a responsabilidade crtica com a qual esses
trs tericos russos discutiram os discursos cientficos com os
quais dialogavam para construir o ponto de vista da Metalings-
tica, cuja base material o enunciado concreto.
Para a construo desta dissertao-enunciado, cujo tema
pretendeu dar uma introduo Teoria do Enunciado Concreto
do Crculo Bakhtin/Volochinov/Medvedev, partimos de uma in-
vestigao do todo orgnico da obra do Crculo, tendo como base
sua concepo de linguagem articulada sobre a base do enun-
ciado concreto. Por um lado pudemos perceber a heterogeneida-
de de discursos cientficos que se debruam sobre a linguagem
com intuito de revelar um ou outro aspecto de sua existncia, e
por outro, observar o carter de complementariedade que carac-
teriza as investigaes do Crculo.
Com relao aos pontos de vista que articulam as investi-
gaes de Bakhtin, Volochinov e Medvedev, importante salien-
tar quatro princpios. O primeiro a ser ressaltado o princpio
tico que rege as formulaes tericas do Crculo, tanto na crtica
aos outros gneros do discurso cientficos como na articulao
138
.~..J. .J~. ....
de sua Teoria do Enunciado Concreto. Aliados a esse princpio
tico, outros trs princpios orientam a engrenagem dinmica da
teoria desenvolvida por eles: um princpio scio-ideolgico a
sociologia da conscincia, do discurso, do som significativo, a
estilstica sociolgica e a potica sociolgica ; um princpio
dialgico as relaes dialgicas do micro ao grande-dilogo; e
um princpio temporal histrico-fenomenolgico o acontecimento
nico da pequena grande temporalidade. No podemos esque-
cer que nessa engrenagem dinmica os quatro princpios esto
em interao orgnica.
Esses princpios, predominantes no pensamento do Crcu-
lo, se apresentaram j nas definies dos conceitos, ou seja, eles
construram a estrutura viva na qual os conceitos foram articula-
dos no interior desse pensamento: seu contedo, sua imagem e
seu tom. A arquitetura dessa viso terica nos conduziu a uma
reflexo intrinsecamente, imanentemente, estruturada na base
do enunciado concreto, e de sua construo. Para qualquer lado
que olhvamos o enunciado concreto, no interior do todo da obra
do Crculo, pretendamos enxergar o real, a vida, o homem e seus
valores, seja no discurso literrio, cientfico, cotidiano ou de qual-
quer outro gnero primrio ou secundrio.
O que Bakhtin inicia, e os seus discpulos Volochinov e
Medvedev co-participam, a tentativa de promover uma descri-
o da arquitetnica apreciativa concreta e real do mundo, a qual
vai ganhando, no percurso das obras-enunciados do Crculo, os
seus membros constituintes, a sua engrenagem conceitual, ou
seja, os seus objetos reais locutor, ouvinte, palavra, tema, gne-
ro do discurso, estilo, entonao, expressividade , todos eles em
interao orgnica para propiciar uma compreenso ativa do even-
to nico da existncia, representado pelo enunciado concreto
enquanto um elo da cadeia de comunicao verbal, ou seja, en-
quanto um objeto vivo de algum domnio cultural, seja ele a vida
cotidiana, a arte ou a cincia, que responde a enunciados ante-
riores do mesmo gnero do discurso.
Nos Apontamentos 1970-1971, Bakhtin nos d um enig-
ma para tentar compreender de maneira ativa o todo da obra:
139
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
meu fraco pela variao e pela variedade terminolgica que abran-
ge um nico e mesmo fenmeno. As variedades das snteses.
Aproximaes remotas sem indicaes dos elos intermedirios
(25, 397). Por que tantos conceitos para a investigao de um
mesmo fenmeno?
Ora, o que mais atrai no estudo da obra do Crculo , real-
mente, a busca desses elos intermedirios, nos quais muitas ve-
zes nos perdemos, para mais tarde nos encontrarmos e nos per-
dermos novamente
69
. A aventura dessa busca pelas fronteiras,
nos umbrais, se revela, de qualquer maneira, extremamente en-
riquecedora, deixando rastros, por um lado, das concepes do
pensamento abstrato e do pensamento idealista desenvolvidas
pela lingstica, pela filologia, pela estilstica, psicologia, etc., e,
por outro lado, nos educando para uma investigao do enunci-
ado concreto, instigando nossos sentidos para a observao do
mnimo ato concreto de linguagem o enunciado concreto nico
e no-reitervel como uma experincia aberta de nossa vida,
uma experincia que s terminaria se tivssemos conhecimento
do fim do mundo, ou pelo menos, do fim de nosso prprio mundo
individual.
Um outro problema que dificultava a nossa compreenso
do todo da obra do Crculo era, como observamos, o problema da
traduo. Nesse sentido, tomamos uma observao de Irene Ma-
chado, como no Brasil tradutores de Bakhtin nem sempre so
os estudiosos de sua obra, lemos Bakhtin atravs das mais vari-
adas verses que foram chegando s nossas mos pelas mais
variadas vias. Praticamos a mais autntica leitura hipertextual:
69
Como diz o prof. Boris Schnaiderman em seus estudos literrios
referindo-se obra de Bakhtin sobre Dostoivski: Em minha tese,
pus em discusso diversas afirmaes suas [de Bakhtin] no livro sobre
Dostoievski, mas preciso discutir mais ainda, pr tudo em dvida,
balanar de uma vez o coreto. De outro modo, a literatura se estanca
nas certezas acadmicas e didticas. Mobilidade, contradio dialtica,
construo/desconstruo, eis os elementos com que temos de
trabalhar. O resto acomodao e rotina (33, 88).
140
.~..J. .J~. ....
quando lemos um texto de Bakhtin em portugus navegamos por
uma verso que uma camada de signos organizada a partir de
outros discursos-lnguas que se constituram a partir dos ma-
nuscritos e dos arquivos de Bakhtin (48, 267).
Ao nos debruarmos sobre essas dificuldades de traduo,
iniciamos um processo de discusso em torno dos conceitos enun-
ciado/enunciao e gneros do discurso, os quais julgamos fun-
damentais no todo da engrenagem conceitual do Crculo. Para
ns, a compreenso ativa do todo da obra do Crculo implica em
tomar os conceitos enunciado e enunciao tradues do nico
conceito russo vyskazyvanie como sinnimos, visto que desse
ponto de vista que os trs tericos russos articulam no s a sua
Teoria do Enunciado Concreto no interior da Metalingstica, como
tambm dialogam com outros gneros de discurso cientificos como
a lingstica a fala-enunciado, a estilstica o ato de fala-enun-
ciado ou a expresso-enunciado, e tambm as cincias humanas
em geral o texto-enunciado.
o enunciado ou enunciao concreto, real, completo,
vivo que o elo da comunicao verbal, que responde aos enun-
ciados anteriores e aponta para os enunciados concretos futu-
ros. , tambm, o enunciado concreto, particular, nico na exis-
tncia e no-reitervel, que se constri, a partir de um tema espe-
cfico, no interior de um gnero do discurso determinado e pela
alternncia dos sujeitos falantes que compem a situao na qual
ele engendrado. Esse enunciado a manifestao do intuito
discursivo desses sujeitos nessa construo comunicativa, atra-
vs de um estilo e uma entonao particulares, seja do ponto de
vista do micro-dilogo ao grande-dialgo, da pequena temporali-
dade grande temporalidade, movimentando o todo do enun-
ciado concreto com seus princpios tico, scio-ideolgico, dialgico
e temporal (histrico-fenomenolgico).
Finalmente, gostaramos de ressaltar que a mais impor-
tante lio de nossa imerso na obra do Crculo no considerar
um de seus membros Mikhail Bakhtin como um Ado mtico,
o primeiro a falar das idias aqui expostas, mas sim, como um
141
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
ser inserido profundamente nos dilogos de seu tempo e na his-
tria dos vrios discursos cientficos com que dialogava, os quais
propiciaram a criao desse ponto de vista novo metalingsti-
co com base nos enunciados anteriores, no interior da evoluo
da cincia, e nas prprias relaes dialgicas entre as suas obras
e a de seus discpulos: Valentin Volochinov e Pavel Medvedev.
assim que podemos compreender algumas linhas de uma carta
de 1961, de Bakhtin a V. Kozhinov, na qual ele faz a seguinte
observao sobre sua relao com os outros elementos do Crcu-
lo aqui citados, preservando os princpios tico, scio-ideolgico,
dialgico e histrico-fenomenolgico que orientam sua viso de
mundo:
those books [i., os livros assinados por Volochinov e Medvedev]
as well as my study of Dostoevski are based on a common
conception of language and of the verbal work I should note that
this common conception and our contact during our work do not
diminish the independence and originality of each of the three
books To this day I hold to the conception of language and speech
that was first set forth, incompletely and not always intelligibly, in
those books, although the concept has of course evolved in the
past thirty years (47, 119).
Neste sentido, a concepo comum de linguagem e da obra
verbal do enunciado concreto formaram a base sobre a qual
tentamos discutir as obras-enunciados do Crculo neste trabalho.
na evoluo do todo da obra do Crculo que pudemos compre-
ender o seu conceito de linguagem. Como observa Beth Brait, o
conceito de linguagem que emana dos trabalhos desse pensador
russo est comprometido no com uma tendncia lingstica ou
uma teoria literria, mas com uma viso de mundo que, justa-
mente na busca das formas de construo e instaurao do sen-
tido, resvala pela abordagem lingstica/discursiva, pela teoria
da literatura, pela filosofia, pela teologia, por uma semitica da
cultura, por um conjunto de dimenses entretecidas e ainda no
inteiramente decifradas (46, 71). Acreditamos que essa obser-
142
.~..J. .J~. ....
vao estabelece uma relao dialgica de concordncia para com
os outros componentes do Crculo Volochinov e Medvedev , e
que, tambm, ela retoma o carter de inacabamento com o qual
todas as cincias humanas em geral e as obras do Crculo em
particular devem ser tecidas, na tentativa de escapar da coisifica-
o dos objetos humanos, ou de uma abordagem psquica do
criador ou do receptor desses objetos.
Assim sendo, esta dissertao ganha como eplogo uma
citao de Problemas da Potica de Dostoisvki que orienta, para
ns, todo o desenvolvimento das concepes tericas do Crculo
Bakhtin/Volochinov/Medvedev, bem como, o movimento que
ousamos dar ao prprio desenvolvimento deste trabalho, cujo
acabamento relativo mais um elo na cadeia das idias do Crcu-
lo, e condiciona uma atitude responsiva para com os outros par-
ceiros da comunicao dialgica engedrada por esse tema:
Somente quando contrai relaes dialgicas essenciais com as
idias dos outros que a idia comea a ter vida, isto , a for-
mar-se, desenvolver-se, a encontrar e renovar sua expresso
verbal, a gerar novas idias. O pensamento humano s se torna
pensamento autntico, isto , idia, sob as condies de um
contato vivo com o pensamento dos outros, materializado na
voz dos outros, ou seja, na conscincia dos outros expressa na
palavra. no ponto desse contato entre vozes-conscincias que
nasce e vive a idia [] a idia interindividual e intersubjetiva,
a esfera de sua existncia no a conscincia individual mas a
comunicao dialogada entre as conscincias. A idia um acon-
tecimento vivo, que irrompe no ponto de contato dialogado entre
duas ou vrias conscincias (13, 73).
143
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
ibiograIia do Crcno ahiin/
Voochinov/Medvedev
70
(1) Bakhtin, M. (1919) Art and Answerability In: Art and
Answerability. Early Philosophical Essays by M. M. Bakhtin. trad.
Vadim Liapunov. Austin, University of Texas Press,1990. p. 1-3
(2) Bakhtin, M. (1919-1921) Toward a Philosophy of the Act. trad.
Vadim Liapunov. Austin, University of Texas Press
, 1993.
(3) Bakhtin, M. (1922-1924) O autor e o heri In:0 Bakhtin, M.
Esttica da Criao Verbal. trad. do francs de Maria Ermantina
G. Gomes. So Paulo, Martins Fontes, 1992. p. 23-220.
(4) Bakhtin, M. (1924) O Problema do Contedo, do Material e da
Forma na Criao Literria In: Bakhtin, M. Questes de Litera-
tura e de Esttica. A teoria do romance. trad. do russo de Aurora
Fornoni Bernardini e outros. So Paulo, UNESP, 1993, 3a. edi-
o. p. 13-70.
(5) Voloshinov, V. N. (1926) Le discours dans la vie et le discours
dans la posie In: Todorov, Tzvetan Mikhal Bakhtine. Le principe
dialogique. suivi de crits du cercle de Bakhtine. Paris, ditions
du Seuil, 1981. p. 181-215.
(6) Volosinov, V. N. (1927) Freudianism. A Critical Sketch. trad. I. R.
Titunik. Indiana, Indiana University Press, 1987.
(7) Bakhtin, M. / Medvedev (1928) The Formal Method in Literary
Scholarship. A Critical Introduction to Sociological Poetics. trad.
Albert J. Wehrle. Baltimore e London, The Johns Hopkins Press,
1991.
(8) Volosinov, V. N. (1929) Marxism and the philosophy of language
70
Para uma bibliografia completa das obras do Crculo ver Todorov, T.
Mikhal Bakhtine. Le principe dialogique (31, 173-176) e Faraco, C. A.;
Tezza, C. e Castro, G. de (orgs) Dilogos com Bakhtin. (49, 15-20).
144
.~..J. .J~. ....
(edio do original russo). Paris, Mouton, 1972.
(9) Bakhtine, M. (V.N. Volochinov) (1929) Le marxisme et la
philosophie du langage. trad. Marina Yaguello. Paris, Les ditions
de Minuit, 1978.
(10) Bakhtin, M. (Volochinov) (1929) Marxismo e Filosofia da Lingua-
gem. trad. do francs de Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira.
So Paulo, Hucitec, 1986, 3a. edio.
(11) Volosinov, V. N. (1929) Marxism and the Philosophy of Language.
trad. Ladislav Matejka e I. R. Titunik. Cambridge, Massachusetts;
London, England, Harvard University Press, 1986.
(12) Bakhtin, M. (1929) Del libro Problemas de la obra de Dostoievski
In: In: Esttica de la creacin verbal. Cidade do Mxico, Siglo
Veintiuno Editores, 1982. p. 191-199.
(13) Bakhtin, M. (1929;1961-1962) Problemas da Potica de
Dostoivski. Trad. Paulo Bezerra. Rio de Janeiro, Ed. Forense-
Universitria, 1981.
(14) Bakhtine, M. (1929; 1961-1962) La potique de Dostoevski. Trad.
Isabelle Kolitcheff. Paris, ditions du Seuil, 1970.
(15) Voloshinov, V. N. (1930) Les frontires entre potique et
linguistique In: Todorov, Tzvetan Mikhal Bakhtine. Le principe
dialogique. suivi de crits du cercle de Bakhtine. Paris, ditions
du Seuil, 1981. p. 243-285
(16) Voloshinov, V.N. (1930) Stilystique du discours artistique. 2. La
structure de lnonc In: Todorov, Tzvetan Mikhal Bakhtine. Le
principe dialogique. suivi de crits du cercle de Bakhtine. Paris,
ditions du Seuil, 1981. p. 287-316.
(17) Bakhtin, M. (1934-1935) O discurso no romance In: Bakhtin,
M. Questes de Literatura e de Esttica. A teoria do romance. trad.
do russo de Aurora Fornoni Bernardini e outros. So Paulo,
UNESP, 1993, 3a. edio. p. 71-210.
(18) Bakhtine, M. Esthtique et Thorie du Roman. trad. Daria Olivier.
Paris, Gallimard, 1978.
(19) Bakhtin, M. (1937-1938) Formas de Tempo e de Cronotopo no
Romance (Ensaios de potica histrica) In: Questes de Litera-
tura e de Esttica. A teoria do romance. trad. do russo de Aurora
Fornoni Bernardini e outros. So Paulo, UNESP, 1993, 3a. edi-
145
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
o. p. 211-362.
(20) Bakhtin, M. (1940; 1965) A cultura popular na Idade Mdia e no
Renascimento: o contexto de Franois Rabelais. trad. do francs
de Yara Frateschi Vieira. So Paulo, HUCITEC; Braslia, Editora
da Universidade de Braslia, 1993.
(21) Bakhtin, M. (1952-1953) Os gneros do discurso In: Bakhtin,
M. Esttica da Criao Verbal. trad. do francs de Maria
Ermantina G. Gomes. So Paulo, Martins Fontes, 1992. p. 277-
326.
(22) Bakhtine, M. (1952-1953) Les genres du discours In: Bakhti-
ne, M. Esthtique de la Cretion Verbale. Trad. A. Aucouturier.
Paris, 1979.
(23) Bakhtin, M. (1959-1961) O problema do texto In: Bakhtin, M.
Esttica da Criao Verbal. trad. do francs de Maria Ermantina
G. Gomes. So Paulo, Martins Fontes, 1992. p. 327-358.
(24) Bakhtin, M. (1961) Para una reelaboracin del livro sobre
Dostoievski In: Esttica de la creacin verbal. Cidade do Mxico,
Siglo Veintiuno Editores, 1982. p. 324-345.
(25) Bakhtin, M. (1970-1971) Apontamentos 1970-1971 In: Bakhtin,
M. Esttica da Criao Verbal. trad. do francs de Maria
Ermantina G. Gomes. So Paulo, Martins Fontes, 1992. p. 369-
397.
(26) Bakhtin, M. (1974) Observaes sobre a epistemologia das cin-
cias humanas In: Bakhtin, M. Esttica da Criao Verbal. trad.
do francs de Maria Ermantina G. Gomes. So Paulo, Martins
Fontes, 1992. p. 399-414.
ibiograIia Gera
(27) Kothe, Flvio R. (1977) A no-circularidade do Crculo de Bakh-
tine. revista Tempo Brasileiro 51, Rio de Janeiro, Edies Tempo
Brasileiro Ltda.
(28) Jakobson, Roman (1978) Prefcio In: Bakhtin, M. (Volochinov)
(1929) Marxismo e Filosofia da Linguagem. trad. do francs de
Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. So Paulo, Hucitec, 1986,
3a. edio. p. 9-10.
(29) Yaguello, M. (1978) Introduo In: Bakhtin, M. (Volochinov)
(1929) Marxismo e Filosofia da Linguagem. trad. do francs de
Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. So Paulo, Hucitec, 1986,
3a. edio. p. 11-19.
(30) Todorov, Tzvetan. (1981) Thorie de lnonc In: Todorov, Tzvetan
Mikhal Bakhtine. Le principe dialogique. suivi de crits du cercle
de Bakhtine. Paris, ditions du Seuil, 1981. p. 67-93.
(31) Todorov, Tzvetan (1981) Mikhal Bakhtine. Le principe dialogique.
suivi de crits du cercle de Bakhtine. Paris, ditions du Seuil.
(32) Schnaiderman, Boris (1982) Dostoivski. Prosa. Poesia. O se-
nhor Prokhartchin. So Paulo, Perspectiva.
(33) Schnaiderman, Boris (1983) Turbilho e Semente. Ensaios sobre
Dostoivski e Bakhtin. So Paulo, Duas Cidades.
(34) Clark, Katerina e Holquist, Michael (1984) Mikhail Bakhtin.
Cambridge, Massachusetts; London, England, Harvard University
Press.
(35) Faraco, Carlos Alberto e outros (1988) Uma introduo a Bakhtin.
Curitiba, Hatier.
(36) Benveniste, E. (1989). Problemas de Lingstica Geral II. Campi-
nas, Pontes.
(37) Holquist, Michael (1990) Dialogism. Bakhtin and his world. Lon-
148
.~..J. .J~. ....
dres, Nova York, Rotledge.
(38) Morson, Gary Saul e Emerson, Caryl (1990) Mikhail Bakhtin:
creation of a prosaics. Stanford, Stanford University Press.
(39) Todorov, T. (1992) Prefcio In: Bakhtin, M. Esttica da Criao
Verbal. trad. do francs de Maria Ermantina G. Gomes. So
Paulo, Martins Fontes, 1992. p. 1-21.
(40) Barros, Diana Luz Pessoa de. e Fiorin, Jos Luiz. (orgs.) (1994)
Dialogismo, Polifonia, Intertextualidade. So Paulo, EDUSP.
(41) Brait, Beth As vozes bakhtinianas e o dilogo inconcluso In:
Barros, Diana L. P. e Fiorin, Jos Luiz (orgs.) (1994) Dialogismo,
Polifonia, Intertextualidade. So Paulo, EDUSP.
(42) Dosse, Franois (1994) Histria do estruturalismo, v.2: o canto do
cisne de 1967 aos nossos dias. trad. lvaro Cabral. So Paulo,
Ensaio; Campinas, Editora da UNICAMP.
(43) Machado, Irene A. (1995) O romance e a voz: a prosaica dialgica
de M. Bakhtin. Rio de Janeiro, Imago; So Paulo, FAPESP.
(44) Saussure, Ferdinand (1995) Curso de Lingstica Geral. trad. An-
tnio Chelini e outros. So Paulo, Cultrix.
(45) Emerson, Caryl (1995) Bakhtin at 100: Looking Back at te Very
Early Years In: The Russian Review, vol. 54, Janeiro/1995, The
Ohio State University Press. p. 107-114.
(46) Brait, Beth. A natureza dialgica da linguagem: formas e graus
de representao dessa dimenso constitutiva In: Faraco, C. A.;
Tezza, C.; e Castro, G. de (orgs.) (1996) Dilogos com Bakhtin.
Curitiba, Ed. da UFPR. p. 69-92.
(47) Faraco, Carlos Alberto. O dialogismo como chave de uma antro-
pologia filosfica In: Faraco, C. A.; Tezza, C.; e Castro, G. de
(orgs.) (1996) Dilogos com Bakhtin. Curitiba, Ed. da UFPR. p.
113-126.
(48) Machado, Irene. Os gneros e a cincia dialgica do texto In:
Faraco, C. A.; Tezza, C.; e Castro, G. de (orgs.) (1996) Dilogos
com Bakhtin. Curitiba, Ed. da UFPR. p. 225-272.
(49) Faraco, C. A.; Tezza, C.; e Castro, G. de (orgs.) (1996) Dilogos
com Bakhtin. Curitiba, Ed. da UFPR.
149
1.I..J... . I~.... J. 1......J. :....~I. J. :..... 1.I..1.......~J.~J~.
Divulgao LIVRARIA HUMANITAS-DISCURSO
Ilustraes da capa Composio de ilustraes do livro
Museum Jean Tinguely Basel
Mancha 10,5 x 18,5 cm
Formato 14 x 21 cm
Montagem Charles de Oliveira e Marcelo Domingues
Tipologia Bernard Mod e Bookman Old Styler
Papel miolo: off-set 75 g/m
2
capa: carto branco 180 g/m
2
Impresso da capa Vermelho, preto e cinza
Impresso e acabamento Seo Grfica FFLCH/USP
Nmero de pginas 152
Tiragem 1.000 exemplares
Ficha tcnica
Você também pode gostar
- Plano Aulas de BabyclassDocumento33 páginasPlano Aulas de BabyclassAline Souza100% (3)
- Introdução à linguística: fundamentos epistemológicosNo EverandIntrodução à linguística: fundamentos epistemológicosAinda não há avaliações
- Editor Conselho Editorial: TraduçãoDocumento12 páginasEditor Conselho Editorial: TraduçãoWendell SenaAinda não há avaliações
- Ifá Divination William Bascom TraduzidoDocumento82 páginasIfá Divination William Bascom TraduzidoMarcio Auler100% (6)
- Pensadores da análise do discurso: Uma introduçãoNo EverandPensadores da análise do discurso: Uma introduçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Análise de Discurso Aula 1Documento16 páginasAnálise de Discurso Aula 1Renata Fonseca SiqueiraAinda não há avaliações
- Linguagem Diálogo As Ideias Linguisticas Do Círculo de Bakhtin by Carlos Alberto FaracoDocumento162 páginasLinguagem Diálogo As Ideias Linguisticas Do Círculo de Bakhtin by Carlos Alberto FaracoMaria Paula100% (2)
- Bakhtin - para Uma Filosofia Do Ato ResponsávelDocumento157 páginasBakhtin - para Uma Filosofia Do Ato ResponsávelClecio100% (1)
- Pesquisar Na Diferença: Um AbecedárioDocumento264 páginasPesquisar Na Diferença: Um Abecedáriochristrombjerg100% (1)
- Ernesto Faria - Gramática Superior Da Língua LatinaDocumento530 páginasErnesto Faria - Gramática Superior Da Língua LatinaClarice Virgilio100% (1)
- PRETI, Dino - Fala e Escrita em QuestãoDocumento252 páginasPRETI, Dino - Fala e Escrita em QuestãoIvonete NinkAinda não há avaliações
- A Semiótica e o Círculo de Bakhtin: A Polifonia em DostoiévskiNo EverandA Semiótica e o Círculo de Bakhtin: A Polifonia em DostoiévskiAinda não há avaliações
- O althusserianismo em Linguística: A teoria do discurso de Michel PêcheuxNo EverandO althusserianismo em Linguística: A teoria do discurso de Michel PêcheuxAinda não há avaliações
- A Relevancia Da Pragmatica Na Pragmatica Da RelevanciaDocumento136 páginasA Relevancia Da Pragmatica Na Pragmatica Da RelevanciaSarau Literarua100% (1)
- Livree em PDF Adail Sobral - Do Dialogismo Ao Gênero - As Bases Do Pensamento Do Círculo de BakhtinDocumento99 páginasLivree em PDF Adail Sobral - Do Dialogismo Ao Gênero - As Bases Do Pensamento Do Círculo de BakhtinSimone Padilha100% (2)
- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações
- O Conceito de Linguagem em BakhtinDocumento20 páginasO Conceito de Linguagem em BakhtinRAFAELAinda não há avaliações
- Entrevista - Paul HenryDocumento1 páginaEntrevista - Paul HenryLuiz Francisco DiasAinda não há avaliações
- Gêneros Textuais, Tipificação e InteraçãoDocumento3 páginasGêneros Textuais, Tipificação e InteraçãoMonahyr CamposAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso Na Contemporaneidade Cartografias Discursivas PDFDocumento310 páginasAnálise Do Discurso Na Contemporaneidade Cartografias Discursivas PDFJulio Cezar100% (5)
- Discurso e Análise Do DiscursoDocumento192 páginasDiscurso e Análise Do DiscursoRômulo ReinaldoAinda não há avaliações
- Representações do outro: Discurso, (des)igualdade e exclusãoNo EverandRepresentações do outro: Discurso, (des)igualdade e exclusãoAinda não há avaliações
- Gregolin HeterotopiaDocumento14 páginasGregolin HeterotopiaDCavalcante FernandesAinda não há avaliações
- MAINGUENEAU - Argumentação e Análise Do Discurso PDFDocumento28 páginasMAINGUENEAU - Argumentação e Análise Do Discurso PDFGabriel100% (1)
- Respostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoDocumento57 páginasRespostas A Bakhtin - Luis Alberto BrandãoCleber Araújo CabralAinda não há avaliações
- Circulo de Bakhtin - Alteridade, Dialogo e DialeticaDocumento400 páginasCirculo de Bakhtin - Alteridade, Dialogo e DialeticaGraziella Steigleder GomesAinda não há avaliações
- Conceitos Fundadores, Procedimentos Metodológicos e Interdisciplinares Nas Pesquisas em Análise Do DiscursoDocumento45 páginasConceitos Fundadores, Procedimentos Metodológicos e Interdisciplinares Nas Pesquisas em Análise Do Discursomirelebrant100% (1)
- Livro SemanticaDocumento182 páginasLivro SemanticaMariaLuiza23100% (3)
- Referenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemNo EverandReferenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemAinda não há avaliações
- Discurso e Ensino PDFDocumento253 páginasDiscurso e Ensino PDFeu_riqueAinda não há avaliações
- As Teorias Enunciativas e A Linguística No Brasil. O Lugar de BenvenisteDocumento13 páginasAs Teorias Enunciativas e A Linguística No Brasil. O Lugar de BenvenisteFelipe ChevarriaAinda não há avaliações
- Glossário Termos de BakhtinDocumento20 páginasGlossário Termos de BakhtinVanvanmvssAinda não há avaliações
- Sociolinguistica EducacionalDocumento10 páginasSociolinguistica EducacionalChristopher MarcelAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilDocumento18 páginasORLANDI Eni, A Análise de Discurso em Suas Diferentes Tradições Intelectuais - o BrasilEDisPALAinda não há avaliações
- 04 A A Variacao Linguistica Nos Livros DidaticosDocumento7 páginas04 A A Variacao Linguistica Nos Livros DidaticosadrianasierAinda não há avaliações
- Análises em (Dis) Curso - Perspectivas, Leituras, Diã¡logos PDFDocumento444 páginasAnálises em (Dis) Curso - Perspectivas, Leituras, Diã¡logos PDFLane Lima100% (1)
- Estudos de Linguagem: Léxico e DiscursoNo EverandEstudos de Linguagem: Léxico e DiscursoAinda não há avaliações
- Discursos Constituintes (Jarbas Nascimento Et Al)Documento185 páginasDiscursos Constituintes (Jarbas Nascimento Et Al)Victor Vasconcellos100% (2)
- Entre A Mémória e o DiscursoDocumento132 páginasEntre A Mémória e o DiscursoEverton Demetrio100% (2)
- As Condições de Produção Do DiscursoDocumento2 páginasAs Condições de Produção Do DiscursoJuliana SilveiraAinda não há avaliações
- Concepções de Linguagem e Ensino de Portugues TravagliaDocumento2 páginasConcepções de Linguagem e Ensino de Portugues TravagliaElisa BeniciaAinda não há avaliações
- Síntese Das Aulas e Do Livro Estudos Do Discurco Perspectivas TeóricasDocumento9 páginasSíntese Das Aulas e Do Livro Estudos Do Discurco Perspectivas TeóricasDomingos Bezerra Lima FilhoAinda não há avaliações
- Van Dijk - Análise Crítica Do DiscursoDocumento10 páginasVan Dijk - Análise Crítica Do DiscursoHélvio Tolentino100% (1)
- Análise Do Discurso 1Documento480 páginasAnálise Do Discurso 1Anonymous 7lzlsp100% (2)
- Texto 03 - Linguística-De Texto o Que É Como Se FazDocumento100 páginasTexto 03 - Linguística-De Texto o Que É Como Se FazSean MardemAinda não há avaliações
- AMOSSY Ruth. Argumentacao e Analise Do D PDFDocumento18 páginasAMOSSY Ruth. Argumentacao e Analise Do D PDFfortunato_Ainda não há avaliações
- Pilati, E. (2017) Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa-CompressedDocumento68 páginasPilati, E. (2017) Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa-Compressedvsellito100% (1)
- Moita Lopes 2003 PDFDocumento16 páginasMoita Lopes 2003 PDFJakelliny AlmeidaAinda não há avaliações
- Estereótipos e Imaginários Sociodiscursivos - CHARAUDEAUDocumento21 páginasEstereótipos e Imaginários Sociodiscursivos - CHARAUDEAUDan MaViAlAinda não há avaliações
- STREET, B. Letramentos Sociais - ResenhaDocumento10 páginasSTREET, B. Letramentos Sociais - ResenhaDenilson Lopes100% (2)
- Leitura e Producao de Textos II PDFDocumento44 páginasLeitura e Producao de Textos II PDFKeity DiasAinda não há avaliações
- FARACODocumento8 páginasFARACOFelipp Santana100% (1)
- Kenedy Linguística GerativismoDocumento268 páginasKenedy Linguística GerativismoTayse MarquesAinda não há avaliações
- Ebook - Procad. - Foucault, Maingueneau, PêcheuxDocumento353 páginasEbook - Procad. - Foucault, Maingueneau, PêcheuxRodrigo Seixas100% (2)
- Semantica e AprendizagemDocumento60 páginasSemantica e Aprendizagemsilvinholira100% (3)
- Analise Do DiscursoDocumento7 páginasAnalise Do DiscursoAlice MartinsAinda não há avaliações
- Multiplos Olhares para A Educacao Basica PDFDocumento300 páginasMultiplos Olhares para A Educacao Basica PDFJeimes De Oliveira Paiva100% (1)
- A Questão Do Assujeitamento Eni OrlandiDocumento3 páginasA Questão Do Assujeitamento Eni OrlandiMirele UrtigaAinda não há avaliações
- E-Book - Multimodalidade Nos Discursos Contemporâneos - GP MultiSemioTicsDocumento750 páginasE-Book - Multimodalidade Nos Discursos Contemporâneos - GP MultiSemioTicsJOSE IDESIO RIBEIRO COUTOAinda não há avaliações
- 1600173156gramatica SiteDocumento10 páginas1600173156gramatica Sitejeremy_enigmaAinda não há avaliações
- (Diretrizes Pedagogicas) Educacao Infantil 2023 - FINAL - 24janDocumento30 páginas(Diretrizes Pedagogicas) Educacao Infantil 2023 - FINAL - 24janÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Atv. o Medo e A CoragemDocumento2 páginasAtv. o Medo e A CoragemÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Calendario Julho 2023 Cherry - 4997Documento1 páginaCalendario Julho 2023 Cherry - 4997Áquila RibeiroAinda não há avaliações
- Medico ObstetraDocumento8 páginasMedico ObstetraÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- EDITAL 71 2023 Prof SUBSTITUTO PEDAGOGIA 2023 FinalDocumento48 páginasEDITAL 71 2023 Prof SUBSTITUTO PEDAGOGIA 2023 FinalÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- PNAICDocumento2 páginasPNAICÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- PNAICDocumento2 páginasPNAICÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Tese Vigotski e ArteDocumento294 páginasTese Vigotski e ArteÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Árvore Do Saber - Cultura e EducaçãoDocumento11 páginasÁrvore Do Saber - Cultura e EducaçãoerminiAinda não há avaliações
- COSTA, Marisa Vorraber e Outros. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia PDFDocumento26 páginasCOSTA, Marisa Vorraber e Outros. Estudos Culturais, Educação e Pedagogia PDFÁquila RibeiroAinda não há avaliações
- Etnografia - SeminárioDocumento54 páginasEtnografia - SeminárioCaio Henrique SantosAinda não há avaliações
- Teste Dos MaiasDocumento3 páginasTeste Dos MaiasRituchaa100% (1)
- Redação 8 Ano-2 Bim-2020Documento2 páginasRedação 8 Ano-2 Bim-2020andrealbuqueAinda não há avaliações
- Raciocínio Lógico - QUESTOES - DE - RACIOCINIO - LOGICODocumento12 páginasRaciocínio Lógico - QUESTOES - DE - RACIOCINIO - LOGICOGirlene MedeirosAinda não há avaliações
- Fichamento Capítulo 1: Lévi-Strauss, 2008 - Antropologia EstruturalDocumento8 páginasFichamento Capítulo 1: Lévi-Strauss, 2008 - Antropologia EstruturalGabriel Cabral BernardoAinda não há avaliações
- Concurso CEL 5º Ano - Ficha 4Documento2 páginasConcurso CEL 5º Ano - Ficha 4Fernanda BarrosAinda não há avaliações
- Polícia Civil - MG - 2008 - Resolução ComentadaDocumento15 páginasPolícia Civil - MG - 2008 - Resolução ComentadaRobson Timoteo DamascenoAinda não há avaliações
- Redação Oficial - Teoria Básica - Parte I - ProvisorioDocumento26 páginasRedação Oficial - Teoria Básica - Parte I - ProvisorioJairo MarianoAinda não há avaliações
- Fichamento Ensino PragmáticoDocumento17 páginasFichamento Ensino Pragmático202110407Ainda não há avaliações
- 7419 o Caminho Da Deusa by Esmeralda Grunglasse1Documento159 páginas7419 o Caminho Da Deusa by Esmeralda Grunglasse1Danusa Pereira NascimentoAinda não há avaliações
- Roteiro de Praticas Lab de Eletricidade 2018 PDFDocumento104 páginasRoteiro de Praticas Lab de Eletricidade 2018 PDFDaniel RodriguesAinda não há avaliações
- Aids e Religioes Tania Mara SampaioDocumento20 páginasAids e Religioes Tania Mara SampaioDyego CarlosAinda não há avaliações
- Enem Prova1 23 05 2021 ResoluçãoDocumento60 páginasEnem Prova1 23 05 2021 ResoluçãoJoao OliveiraAinda não há avaliações
- Complementos Do Nome e AdjetivoDocumento9 páginasComplementos Do Nome e AdjetivoMatilde HenriqueAinda não há avaliações
- Catálogo - Cinemateca Portuguesa Cineastas Do Nosso TempoDocumento16 páginasCatálogo - Cinemateca Portuguesa Cineastas Do Nosso TempolaecioricardoAinda não há avaliações
- FATTORI, Anita. Atuação de Mulheres Assírias Nas Redes de Comércio Interregional Do II Milênio AECDocumento26 páginasFATTORI, Anita. Atuação de Mulheres Assírias Nas Redes de Comércio Interregional Do II Milênio AECG. MateusAinda não há avaliações
- Ficha Exercícios Nº01 NúmerosComplexos ALGA 2023Documento2 páginasFicha Exercícios Nº01 NúmerosComplexos ALGA 2023Augusto Joaquim JorgeAinda não há avaliações
- ANEXO-3-Modelo-do-Plano-de-Aula RedDocumento3 páginasANEXO-3-Modelo-do-Plano-de-Aula RedKaline OliveiraAinda não há avaliações
- Frases Complexas (Revisão Geral)Documento9 páginasFrases Complexas (Revisão Geral)Glauco SouzaAinda não há avaliações
- Apostila Interface Com Banco de Dados PDFDocumento97 páginasApostila Interface Com Banco de Dados PDFSandro CardosoAinda não há avaliações
- Gabarito CFS 1 e 2-2012Documento23 páginasGabarito CFS 1 e 2-2012Fernando FernandesAinda não há avaliações
- Obras de Rui BarbosaDocumento136 páginasObras de Rui BarbosaRaimundo FilhoAinda não há avaliações
- 8 Ano 0802Documento3 páginas8 Ano 0802Thais SantosAinda não há avaliações
- Cronograma - Língua Brasileira de SinaisDocumento2 páginasCronograma - Língua Brasileira de SinaisMichael CristianAinda não há avaliações
- Apostila Conjuntos 1Documento13 páginasApostila Conjuntos 1Fabio BarrosAinda não há avaliações
- BNCC Anos FinaisDocumento7 páginasBNCC Anos FinaisMegAinda não há avaliações
- Textos de ImprensaDocumento8 páginasTextos de Imprensaelsagiraldo100% (14)