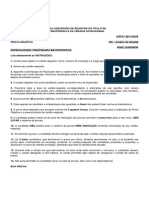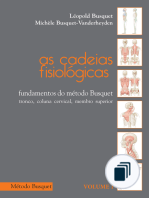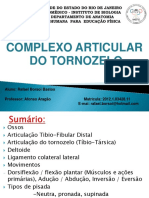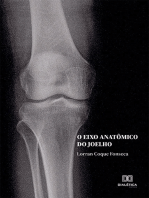Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Metodo Mckenzie para Reducao Do Quadro Algico e Ganho de Amplitude de Movimento em Hernia de Disco Lombar Estudo de Caso
Metodo Mckenzie para Reducao Do Quadro Algico e Ganho de Amplitude de Movimento em Hernia de Disco Lombar Estudo de Caso
Enviado por
Marcelo FreitasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Metodo Mckenzie para Reducao Do Quadro Algico e Ganho de Amplitude de Movimento em Hernia de Disco Lombar Estudo de Caso
Metodo Mckenzie para Reducao Do Quadro Algico e Ganho de Amplitude de Movimento em Hernia de Disco Lombar Estudo de Caso
Enviado por
Marcelo FreitasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
16
FACULDADE ASSIS GURGACZ
GISLAINE DVILA
MTODO MCKENZIE PARA REDUO DO QUADRO LGICO E GANHO
DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM HRNIA DE DISCO LOMBAR :
Estudo de caso
CASCAVEL
2006
17
GISLAINE D`VILA
MTODO MCKENZIE PARA REDUO DO QUADRO LGICO E GANHO
DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM HRNIA DE DISCO LOMBAR :
Estudo de caso
Trabalho de Concluso de Curso apresentado ao Curso de
Fisioterapia da Faculdade Assis Gurgacz; elaborado como
requisito parcial para obteno do titulo de Bacharel em
Fisioterapia.
Orientador(a): Ms. Rodrigo Daniel Censke
18
CASCAVEL
2006
FACULDADE ASSIS GURGACZ
GISLAINE D`VILA
MTODO MCKENZIE PARA REDUO DO QUADRO LGICO E GANHO
DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO EM HRNIA DE DISCO LOMBAR :
Estudo de caso
Trabalho apresentado no Curso de Fisioterapia, da Faculdade Assis Gurgacz - FAG,
como requisito parcial para obteno do titulo de Bacharel em Fisioterapia, sob a
orientao do ProIessor Ms. Rodrigo Daniel Genske.
BANCA EXAMINADORA
__________________________
ProI. Orientador: Rodrigo Daniel Genske
Faculdade Assis Gurgacz
Mestre
ProI. Avaliador: Cristina Romero
Faculdade Assis Gurgacz
Especialista
ProI. Avaliador: Janaina C. Melo
Faculdade Assis Gurgacz
19
Especialista
Cascavel, 16 de outubro de 2006
DEDICATRIA
Aos meus pais, e a algumas outras pessoas que so muito especiais em minha vida.
Que das lutas, vitorias e derrotas, tirei meu exemplo. Das lagrimas e sorriso, o meu estimulo.
Do amor, que nada me pede em troca, me Iiz mais humana para gloriIicar a vida.
A vocs que sabem do vai e vem dos dias, que se doaram inteiros e renunciaram aos seus
sonhos tantas vezes, para que pudessem realizar os meus. Que na renuncia sempre teceram
gestos de ternura e amor. Que estiveram presentes em meus pensamentos incessantemente,
sempre me orientando e me ajudando a ser uma pessoa melhor. Aos quais amo sem
restrio.
20
AGRADECIMENTOS
Agradeo a Deus, por estar presente em todos os momentos da minha vida, por me
conceder a serenidade necessaria para aceitar as coisas que no posso mudar, coragem para
mudar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras.
Aos meus pais, Cleu e Maria pelo amor; apoio transmitido; por me guiarem; me
darem Ioras para superar todos os obstaculos que surgiram no meu caminho; e por
presentear-me com uma vida repleta de realizaes.
A minha irm, Giliane pela sua alegria, motivao, por me Iazer compreender que os
nossos limites so as nossas vitorias.
Meu agradecimento sincero ao meu orientador; Rodrigo Daniel Genske, pelo seu
apoio e colaborao para o desenvolvimento deste trabalho que me mostrou com sabedoria
que 'ser mestre no e apenas lecionar, ensinar. No e apenas transmitir o conteudo
programatico. Ser mestre e ser orientador e amigo, guia e companheiro, e caminhar com o
aluno passo a passo. E transmitir a este os segredos da caminhada.
Ao ProI. Luiz Orestes Bozza, pela ajuda na avaliao da paciente; e emprestimos de
materiais, o qual sempre demonstrou-se disposto a colaborar.
A ProI. Rosngela Botinha, pela colaborao e disposio em me ajudar na analise
estatistica.
21
Ao ProI. Rodrigo Juca, e Mario Rezende pela colaborao em algumas diIiculdades
encontradas durante a realizao deste.
A todos os proIessores que estiveram ao meu lado em todas as etapas importantes da
minha Iormao.
A minha querida paciente Lovani; que contribuiu de Iorma ativa, e assidua aos
atendimentos, sempre dedicada e empenhada na realizao das atividades propostas.
As minhas preciosas amigas por todos os momentos alegres e divertidos que
passamos juntas.
Ao meu grupo de estagio pela amizade, esIoro e dedicao.
A todos os meus amigos e colegas da Iaculdade, pela amizade e companheirismo.
Agradeo a Faculdade Assis Gurgacz por me proporcionar conhecimento e
maturidade.
Em memoria de minha vozinha, que devido um Iato sem escrupulos, e um ms de
luta passou desta; no podendo contemplar Iisicamente esta nova etapa da minha vida. Em
memoria de dois amigos muito especiais, que sempre me deram Ioras e andaram do meu
lado me alegrando e me motivando; respectivamente, Gabriel Grando; e Luciane Rosa.
A todos aqueles que, embora no mencionados aqui, contribuiram de maneira direta
ou indireta para a concretizao deste projeto.
Simplesmente, no bastaria um muitissimo obrigado.
22
EPIGRAFE
'A maior recompensa do nosso trabalho
no e o que nos pagam por ele, mas
aquilo em que ele nos transIorma.
(John Ruskin)
23
RESUMO
Quando um disco intervertebral se salienta atraves do anel Iibroso, tem-se uma hernia discal;
o que causa conseqentemente um quadro doloroso. Este estudo abordou o eIeito da aplicao
do Metodo Mckenzie em um quadro de hernia de disco lombar, atraves de uma tecnica de
tratamento especiIico, visto que, problemas discais possuem uma alta incidncia na populao
em geral. Teve como objetivo principal veriIicar se o tratamento conservador atraves do
metodo Mckenzie proporciona reduo do quadro algico e ganho da amplitude de movimento
(ADM). Uma paciente do sexo Ieminino, 53 anos de idade, com hernia de disco lombar, Ioi submetida ao
tratamento durante dez sesses, duas vezes por semana. O quadro algico Ioi graduado no inicio e no Iinal de cada sesso, atraves da
escala analogica de dor (VAS), sendo que a ADM Ioi veriIicada no primeiro, no quinto e no decimo atendimento, por meio de
inclinmetria; assim como o questionario Rolland-Morris reIerente as habilidades Iuncionais. A paciente Ioi avaliada, e o tratamento
proposto baseou-se em exercicios repetidos de extenso da coluna lombar. A analise dos resultados obtidos
constatou-se que o modelo de tratamento apresentado Ioi adequado, com resultados
signIicativos no que diz respeito a reduo da dor, e aumento da amplitude de movimento.
Entretanto, no ha signiIicncia estatistica pelo tamanho reduzido da amostra.
Palavras-chave: Hernia de disco. Metodo Mckenzie. Tratamento.
24
ABSTRACT
When a interspinal disc go out through the Iibrous ring there is a hernia oI the disc that results
in a painIul situation. This study deal with the eIIect oI the application oI the Mckenzie
Method in a situation that presents hernia oI the disc through a speciIic technique oI treatment
since the discal problems presents a great inIluence in the population.The main goal was
veriIy iI the conservative treatment using the Makenzie Method decreases the pain and
increases the moviment enlargement. A Iemale pacient that is 53 years old and suIIers Irom
hernia oI the disc was subdued to a treatment Ior ten sessions (twice a week). The hurting
situation was noticed in the beginning and the end oI each session, using an analogical scale
to measure the pain. The moviment enlargement was veriIied in the Iirst, in the IiIth and in the
tenth sessions through the inclinometry and the Rolland-Morris questionary about the
Iunctional abilities. The pacient was valued and aIter that subdued to a treatment that was
based in repeated exercises oI the backbone extension. Analysing the results oI this procedure
we realised that the treatment model was appropriated and gives a signiIicant results to the
pain decreases and enlargement moviment increases. In the meantime, there wasnt statistic
signiIicance due to the samples be in small amount.
Key-words: hernia oI the disc. Mckenzie Method. treatment.
25
LISTA DE ILUSTRAES, TABELAS E GRFICOS
Figura 1: Posio; deitada de bruos.........................................................................................44
Figura 2: Extenso de tronco deitado........................................................................................45
Figura 3: Extenso de tronco em pe..........................................................................................46
Figura 4: Apoio com cotovelos semi-Ilexionados....................................................................46
Figura 5: Posio; sentada sobre os calcanhares.......................................................................47
Figura 6: Posio; sentado sobre os calcanhares, com apoio dos MMSS atras da cabea.......48
Figura 7: Extenso de tronco com apoio da cunha...................................................................48
Figura 8: Apoio com cotovelos estendidos ..............................................................................49
Grfico 1: Questionrio Roland-Morris - 1, 5 e 10
atendimento..........................................53
Tabela 1 - Valores obtidos com relao ao quadro doloroso da paciente, tanto no incio e
no final dos dez atendimentos realizados
......................................................................................54
Grfico 2: Escala Analgica da
dor...........................................................................................54
Tabela 2 - Valores dos ngulos em Ilexo, extenso, ILD e ILE da coluna lombar (em
graus).........................................................................................................................................55
Grfico 3: ADM em flexo; extenso; inclinao lateral direita e equerda coluna da
lombar.......................................................................................................................................55
Grfico 4: Variao entre a primeira e a ltima mensurao dos movimentos de flexo;
extenso; ILD e ILE; da coluna lombar....................................................................................56
26
LISTA DE SIGLAS
ADM - Amplitude de movimento
AVD`s - Atividades de vida diaria
ILD - Iclinao lateral a direita
ILE - Inclinao lateral a esquerda
MMSS - Membros superiores
VAS - Escala analogica da dor
27
SUMRIO
INTRODUO.......................................................................................................................13
2 FUNDAMENTAO TEORICA......................................................................................16
2.1 ANATOMIA FUNCIONAL (COLUNA VERTEBRAL)..................................................16
2.1.1 Articulaes Iacetarias.....................................................................................................17
2.1.2 Disco
intervertebral..........................................................................................................18
2.1.3 Compresso dos discos
intervertebrais............................................................................19
2.1.4 Hidratao dos discos intervertebrais..............................................................................21
2.1.5 Caracteristicas regionais das vertebras............................................................................22
2.1.6 Curvaturas da coluna vertebral........................................................................................23
2.2 COLUNA VERTEBRAL LOMBAR.................................................................................24
28
2.2.1 Movimentos da coluna vertebral lombar.........................................................................25
2.2.2 Musculos da coluna vertebral lombar..............................................................................28
2.2.3 Ligamentos da coluna vertebral lombar...........................................................................29
2.3 BIOMECNICA ARTICULAR.........................................................................................31
2.3.1 Estabilidade articular........................................................................................................31
2.3.2 Formato das superfcies sseas
articuladas......................................................................32
2.3.3 Organizao dos ligamentos e musculos.........................................................................32
2.3.4 Outros tecidos conjuntivos ..............................................................................................33
2.3.5 Mobilidade articular
........................................................................................................33
2.4 HERNIA DE DISCO..........................................................................................................34
2.4.1 Causas da hernia de disco................................................................................................35
2.5 HERNIA DE DISCO LOMBAR........................................................................................36
2.6 TRATAMENTO.................................................................................................................37
2.6.1 Metodo Mckenzie............................................................................................................37
3 METODOLOGIA................................................................................................................40
3.1 FATORES DE INCLUSO...............................................................................................41
3.2 FATORES DE EXCLUSO..............................................................................................41
3.3 COLETA DE DADOS........................................................................................................42
3.4 PROCEDIMENTOS...........................................................................................................43
4 RESULTADOS.....................................................................................................................52
5 DISCUSSO.........................................................................................................................57
6 CONSIDERAES FINAIS..............................................................................................60
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS..................................................................................61
ANEXOS..................................................................................................................................63
29
ANEXO A - FICHA DE AVALIAO: (MTODO MCKENZIE).................................64
ANEXO B - QUESTIONRIO ROLLAND-MORRIS......................................................66
ANEXO C - ESCALA ANALGICA DA DOR..................................................................69
ANEXO D - PARECER 272/2006-CEP/FAG......................................................................70
APNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO............71
INTRODUO
Para Kapandji (2000), a articulao entre dois corpos vertebrais adjacentes e uma
anIiartrose. Ela esta constituida pelos dois plats das vertebras adjacentes unidas entre si pelo
disco intervertebral. A estrutura deste disco e muito caracteristica, sendo Iormada por uma
parte central, o nucleo pulposo, que se trata de uma gelatina transparente composta por 88
de agua, no encontrando vasos e nervos em seu interior, e a outra parte, a periIerica, que e o
anel Iibroso, contornado por uma sucesso de camadas Iibrosas concntricas.
Segundo Cecil (1992), a hernia discal e a herniao do nucleo pulposo atraves do
anel Iibroso, constituindo-se como uma das principais causas de dor lombar.
30
Dentre as hernias discais, a hernia de disco lombar e a mais Ireqente. E interessante
lembrar que 63 da populao entre 45 e 50 anos tem ou ja tiveram dor lombar e 37 tem ou
ja tiveram dor irradiada para o membro inIerior (HEBERT et. al., 1998).
De acordo com Ergun (2006), 'a maior incidncia de hernia discal se localiza entre
L4/L5 e L5/S1, pois esses so os pontos de maior estresse e mobilidade da coluna vertebral. A
hernia lombar surge devido ao excesso de carga suportado pela coluna.
Com o avano da idade, diminui a quantidade de agua do disco diminuindo assim sua
capacidade de reao a compresso (CAMPOS, 2002).
De acordo com Campos (2002), essas alteraes esto relacionadas com a idade, a
reduo do condicionamento Iisico, alteraes dos padres dos movimentos na realizao das
atividades da vida diaria, acarretam maior suscetibilidade a leses.
De acordo com Hall (2000), o disco propriamente dito no e inervado, e portanto
incapaz de gerar uma sensao de dor, existem porem, nervos sensoriais que inervam os
ligamentos longitudinais anterior e posterior, os corpos vertebrais e a cartilagem articular das
articulaes Iacetarias. Se a hernia exerce presso sobre uma dessas estruturas, sobre a medula
espinhal ou sobre um nervo raquidiano, pode resultar em dor ou dormncia.
De acordo com Kapandji (2000), sem nenhuma duvida, a hernia discal e produzida
em trs tempos. Todavia, a sua apario so e possivel se previamente o disco Ioi deteriorado
por microtraumatismos repetidos e se, por outra parte, as Iibras do anel Iibroso comearam a
se degenerar. Primeiro tempo, a Ilexo do tronco para Irente diminui a altura dos discos na
sua parte anterior e entreabre o espao intervertebral para tras. A substncia nuclear se projeta
para tras. No segundo tempo, no inicio do esIoro de levantamento, o aumento da presso
axial achata todo o disco intervertebral e desloca a substncia do nucleo violentamente para
tras. No terceiro tempo, a retiIicao do tronco esta praticamente Iinalizada, a trajetoria em
ziguezague pela qual o pediculo da hernia discal passou, se Iecha novamente sob a presso
dos plats vertebrais e a massa constituida pela hernia Iica bloqueada debaixo do ligamento
vertebral comum posterior.
Como a coluna lombar proporciona apoio para o peso da parte superior do tronco,
seja em situaes estaticas ou dinmicas. A sobrecarga compressiva nesta regio e alterada
por mudanas na curvatura lombar ou pelas alteraes na posio dos segmentos do corpo que
mudam o local do centro de gravidade e conseqentemente, mudam as Ioras atuantes na
coluna lombar (CAMPOS, 2002).
De acordo com Hebert et. al., (1998), como conseqncia poderemos ter a hernia de
disco que e uma combinao de Iatores biomecnicos, alteraes degenerativas do disco e
situaes que levam a um aumento de presso sobre o disco.
As principais Iormas de tratamento indicadas so repouso, bloqueio anestesico, uso
de antiinIlamatorios, uso de coletes, osteopatia, trao, exercicios teraputicos, estimulao
eletrica transcutnea, uso de calor, ultra-som, reeducao postural global, entre outros. Em
geral, estes tratamentos visam reduzir a dor, Iortalecer a musculatura, melhorar a amplitude de
movimento, promover alongamento e relaxamento e restabelecer as condies Iisicas e
Iisiologicas do paciente (NATALI, 2004).
O Metodo Mckenzie, que sera posteriormente aplicado no decorrer deste projeto de
pesquisa, visara um melhor desempenho nas atividades de vida diria do paciente com um quadro
clnico de hrnia de disco lombar; os exerccios a serem realizados sero baseados em extenso da
31
coluna lombar. Segundo Mckenzie (1981), a tcnica aborda o tratamento das dores da coluna
relacionadas aos distrbios do sistema articular da coluna vertebral. Esta tcnica de Mckenzie utiliza os
movimentos do prprio paciente no alvio da dor e na recuperao da funo. Ela uma tcnica de
avaliao e um mtodo teraputico baseado na avaliao da resposta sintomtica na avaliao da dor ou
reduo da deformidade tecidual.
A pesquisa justiIica-se pela alta incidncia desta patologia, sabe-se que uma
manuteno da mobilidade articular Iavorece a diminuio da presso intradiscal, Iacilitando
a absoro de agua e portanto a nutrio do disco. E que devido complexidade da dor
lombar e as implicaes impostas por esta, surgiu o interesse em verificar a efetividade do
Mtodo Mckenzie diante da dor lombar.
Desta Iorma, poderemos ao longo deste, veriIicar se existe ou no a eIicacia do
Metodo Mckenzie para a reduo dolorosa da hernia de disco lombar; e ganho da amplitude
de movimento, que resultara em um melhor desempenho nas atividades de vida diaria da
paciente.
ERRATA
FOLHA DE ERRATA
Folha Linha Onde se l Leia-se
16 3 medula medula
32
36 13 Unidos Portanto Unidos. Portanto
58 16 (SANTOS, 2003).
59 05 Van Tulder (2000), Van Tulder (2000, apud WELTER,
2004),
59 08 Periodo doloroso. Periodo agudo doloroso.
Referncias
Bibliogrficas
Adiciona-se
CECIN, H. A. Consenso Brasileiro sobre Lombalgias e
Lombociatalgias. Efdeportes. Uberaba, n. 60, 2000.
NATALI, H. L. Estudo comparativo do tratamento
fisioteraputico em hrnia discal lombar atravs de dois
protocolos de terapia manual. 2004. MonograIia (Bacharel
em Fisioterapia) Universidade Estadual do Oeste do Parana,
Cascavel.
33
2 FUNDAMENTAO TERICA
2.1 ANATOMIA FUNCIONAL (COLUNA VERTEBRAL)
Hall (2000, p.202), aIirma que 'a coluna vertebral e um segmento complexo e
Iuncionalmente signiIicativo do corpo humano. E ela que torna possivel o movimento nos
trs planos (Irontal, sagital e transversal), e Iunciona como um protetor osseo da medula
espinhal. As curvas Iisiologicas tm um papel Iuncional, permitindo que a coluna aumente a
sua Ilexibilidade e a capacidade de absorver os choques, enquanto mantem a tenso e a
estabilidade das articulaes intervertebrais. As curvas da cervical e da lombar so devidas a
espessura do disco intervertebral, que e mais alto na Irente do que atras.
Segundo HALL (1991), das vertebras cervicais, as lombares, ha um aumento das
mesmas para maior sustentao corporal e diminuio do estresse soIrido.
De acordo com Tribastone (2001), a coluna vertebral e composta por 33 ou 34
vertebras sobrepostas, divididas em quatro regies:
Cervical composta por sete vertebras cervicais.
Toracica composta por doze vertebras dorsais.
Lombar composta por cinco vertebras lombares.
Sacral composta por cinco vertebras sacrais e quatro ou cinco vertebras coccigeas.
Campos (2002), relata que uma vertebra tipica consiste de duas partes principais:
uma parte anterior, denominada corpo da vertebra e uma parte posterior, denominada arco da
vertebra. Ainda segundo Campos (2002), o corpo da vertebra e composto de osso esponjoso,
recoberto com uma camada de osso cortical, e e a poro da vertebra que recebe maior
34
sobrecarga. O arco da vertebra e composto por processos articulares e no articulares, sendo
os no articulares Iormados por um processo espinhoso e dois processos transversos. Os
articulares Iormam as Iacetas articulares ou articulaes Iacetarias.
A unidade Iuncional da coluna conhecida como segmento movel consiste de duas
vertebras adjacentes e tecidos moles associados. Cada segmento movel e Iormado por trs
articulaes: na parte anterior os corpos vertebrais separados pelo disco intervertebral e na
parte posterior duas articulaes Iacetarias (HALL, 2000).
2.1.1 Articulaes Iacetarias
De acordo com Campos (2002), so articulaes sinoviais que ocorrem entre os
processos articulares superiores direito e esquerdo de uma vertebra e os processos articulares
inIeriores direito e esquerdo de uma vertebra adjacente superior.
Hall (2000), relata que as articulaes Iacetarias so responsaveis pela canalizao
do movimento do segmento movel e ajudam na sustentao das cargas. Cerca de 40 da
capacidade da coluna resistir a toro rotacional e ao cisalhamento se deve as articulaes
Iacetarias. Elas sustentam ainda cerca de 30 das cargas compressivas sobre a coluna.
Estudos recentes mencionam que 15 a 40 da dor lombossacra crnica origina nas
articulaes Iacetarias.
35
2.1.2 Disco intervertebral
Existem 24 discos intervertebrais entre as vertebras, Iormando de 20 a 33 do
comprimento da coluna, sendo eles responsaveis pela alternncia entre a rigidez e elasticidade
da coluna (CAMPOS, 2002). O disco intervertebral e uma estrutura que une uma vertebra a
outra, permitindo movimento entre elas, suporta Ioras compressivas, tores e curvamento,
distribui as cargas sobre toda a coluna, e restringi alguns movimentos. E Iormado pelo nucleo
pulposo que e cercado por argolas de tecido Iibroso e Iibrocartilagem, o anel Iibroso
(HAMILL e KNUTZEN, 1999).
Campos (2002), relata que o disco intervertebral aumenta em tamanho da regio
cervical para a lombar. Na regio cervical sua espessura e de mais ou menos 3mm, enquanto
que na regio lombar e de mais ou menos 9mm. Ainda de acordo com Campos (2002), a
relao entre a espessura do disco e a altura do corpo vertebral e maior na regio lombar e
cervical e menor na toracica. E quanto maior a relao, maior a mobilidade. Isso explica
porque as regies lombar e cervical apresentam mobilidade maior que a regio toracica.
Segundo Tribastone (2001), o disco intervertebral e um orgo elastico, autnomo,
responsavel pela absoro de cargas e impactos, e graas ao deslocamento de liquido no seu
interior, permite o jogo articular.
O disco intervertebral e constituido por 2 estruturas: um anel externo espesso
composto por cartilagem Iibrosa denominado anel Iibroso e uma poro central composto por
material gelatinoso denominado nucleo pulposo (HALL, 2000).
Hall (2000), relata que o anel Iibroso e Iormado por camadas laminadas de Iibras
colagenas entrecruzadas verticalmente, o que o torna mais sensivel a presso rotacional que a
compresso, a tenso e ao cisalhamento. O nucleo de um disco jovem e saudavel e composto
36
por aproximadamente 90 de agua, sendo o restante Iormado por colageno e proteoglicanos,
que atraem agua quimicamente. Este conteudo hidrico do nucleo o torna resistente a
compresso (HALL, 2000).
O nucleo pulposo da regio lombar ocupa 30 a 50 da area total do disco e se
localiza mais posteriormente (CAMPOS, 2002).
Tribastone (2001), aIirma que o disco jovem e sadio e constituido essencialmente por
tecido Iibroelastico. Com o avano da idade as Iibras de colageno so substituidas por Iibras
maiores e menos elasticas, acarretando uma diminuio na elasticidade do envoltorio discal.
Ainda, segundo Tribastone (2001), o nucleo pulposo e constituido por um gel
mucopolissacarideo, que tem a propriedade de extrair os liquidos do exterior, segundo suas
necessidades hidricas.
A idade e o desgaste acarretam uma diminuio do componente mucopolissacarideo,
Iazendo com que o gel perca gradualmente a capacidade de absoro dos liquidos, resultando
numa progressiva desidratao e, conseqentemente uma diminuio da presso intradiscal
(TRIBASTONE, 2001).
2.1.3 Compresso dos discos intervertebrais
Segundo Campos (2002), os discos intervertebrais possuem uma grande capacidade
de absoro de sobrecargas de compresso axial. Quando ocorre uma sobrecarga, o disco
perde altura e tenta expandir-se para Iora em direo ao anel Iibroso e placas terminais. Os
Iluidos, tanto do nucleo pulposo, como do anel Iibroso diminuem, devido ao aumento da
presso. Cerca de 10 da agua de dentro do disco pode ser expelida. A quantidade exata de
37
perda de Iluido depende da magnitude de durao da Iora aplicada (CAMPOS, 2002).
Hall (2000), relata que quando um disco soIre compresso, ele tende a perder agua e
absorver simultaneamente sodio e potassio ate que sua concentrao eletrolitica interna seja
suIiciente para prevenir perda adicional de agua. Uma sobrecarga continua por varias horas
resulta em reduo adicional na hidratao do disco. Por essa razo e observada uma
diminuio na altura da coluna de quase 2 cm no transcorrer de um dia, sendo que um pouco
mais da metade dessa perda ocorre 30 minutos pela manh, apos levantar-se.
No jovem o conteudo de proteoglicanos (substncia que atrai agua) e de 65,
diminuindo para cerca de 30 na idade avanada. Acima dos 30 anos quando o conteudo de
proteoglicanos esta alto, o nucleo pulposo e gelatinoso e sua presso e uniIorme. Com o
avano da idade, diminui a quantidade de agua do disco diminuindo assim sua capacidade de
reao a compresso (CAMPOS, 2002).
Ainda de acordo com Campos (2002), estas alteraes relacionadas com a idade, a
reduo de condicionamento Iisico, alteraes dos padres dos movimentos na realizao das
atividades da vida diaria, acarretam maior suscetibilidade a leses.
Ao se aplicar uma carga constante em um disco vertebral, ocorre a diminuio de sua
espessura, sugerindo um processo de desidratao proporcional ao volume do nucleo. Ao se
retirar a carga, o disco recupera sua Iorma inicial, e essa recuperao da espessura inicial
exige um certo tempo. Quando ocorrem cargas e descargas num periodo curto de tempo, o
disco no tem tempo de recuperar-se. Tambem se as cargas e descargas se repetem de modo
muito prolongado, o disco no recupera sua espessura inicial, independente do tempo
esperado. Este Ienmeno e o do envelhecimento (KAPANDJI, 2000).
'As leses e o envelhecimento reduzem irreversivelmente a capacidade dos discos
absorverem agua, havendo uma diminuio concomitante na capacidade de absoro de
choques (HALL, 2000, p.207).
38
Hall (2000), relata que as alteraes degenerativas so mais comuns em L5 e S1, pois
o disco esta sujeito a um maior estresse mecnico devido a sua posio. O conteudo liquido de
todos os discos comea a diminuir por volta dos 20 anos de idade. Um disco geriatrico tem
seu conteudo reduzido em 35.
Campos (2002), aIirma que a posio do corpo aIeta a presso nos discos
intervertebrais. Para uma pessoa de 70Kg em pe a presso no disco L3 e de 100. Na posio
em decubito dorsal a presso diminui para 25. ConIorme a coluna lombar e Ilexionada a
presso aumenta. Na postura sentada a presso intradiscal e de 140.
2.1.4 Hidratao dos discos intervertebrais
Quando a presso exercida sobre os discos e eliminada, eles reabsorvem agua
rapidamente e seus volumes e alturas aumentam (HALL, 2000).
Tribastone (2001), aIirma que o disco e provido de vascularizao propria ate os 20
anos, depois torna-se avascular e nutre-se pela diIuso da linIa, isto e possivel a partir da
alternncia de compresses e relaxamentos, ou seja o anel Iibroso se comporta como uma
esponja.
De acordo com Hall (2000), as mudanas na postura e na posio corporal alteram a
presso discal interna, originando uma ao de bombeamento no disco, transportando
nutrientes para dentro do disco e removendo produtos de desgaste metabolico,
desempenhando assim a Iuno que o sistema circulatorio proporciona as estruturas
vascularizadas. Portanto a manuteno de uma mesma posio corporal por um certo periodo
de tempo reduz essa ao de bombeamento, podendo aIetar a saude discal.
39
Alguns Iatores, como tabagismo e a exposio as vibraes, podem aIetar
negativamente a nutrio discal, em contra-partida o exercicio regular pode aprimorar a
nutrio (HALL, 2000).
2.1.5 Caracteristicas regionais das vertebras
O termo vertebra tipica e Ireqentemente usado, porem existem numerosas
diIerenas entre as vertebras, no apenas entre as diversas regies da coluna como tambem
dentro de uma mesma regio. Alem disso, assimetria entre os dois lados de uma mesma
vertebra constitui a regra e no a exceo (MALONE; MCPOIL; NITZ, 2002).
Segundo Knoplich (2003), a regio cervical, toracia e lombar possuem caracteristicas
vertebrais regionais, onde se excluem as atipias da regio sacral e coccigiana.
Ainda de acordo com Knoplich (2003), as vertebras cervicais, que so em numero
sete possuem as duas primeiras vertebras, Atlas e Axis bem diIerenciadas, Iormando o
complexo atlantoaxoideo, estas se completam anatomicamente como suporte e eixo do
movimento da cabea. Mas o restante so uniIormes, o corpo vertebral das vertebras cervicais
e pequeno em relao ao arco posterior e ao oriIicio vertebral.
As vertebras toracicas possuem caracteristicas peculiares, sendo uma delas a
superIicie de articulao para as costelas. Na poro media da coluna toracica, cada costela se
articula com duas vertebras adjacentes e com o disco intervertebral correspondente. Os
processos articulares superiores tm origem na juno entre a lmina e os pediculos. Os
processos articulares inIeriores esto voltados para diante e um pouco para Iora. Este plano
articular permite discreta rotao e inclinao lateral da coluna toracica, mas trata-se de
40
movimentos muito limitados, em virtude da resistncia aplicada pela caixa toracica aos
movimentos (MALONE; MCPOIL; NITZ, 2002).
Ainda de acordo com Malone, Mcpoil e Nitz (2002), as cinco vertebras lombares
caracterizam-se pela sua espessura e Iirmeza de seus elementos osseos, possuindo corpo
vertebral macio e largura que supera o dimetro ntero-posterior. A disposio nitidamente
cncavo-convexa e dada pelos processos articulares da coluna lombar que se orientam
principalmente no plano sagital, ja a conIigurao cuneiIorme das duas ultimas vertebras
lombares, apresentam sua Iace anterior mais alta que a posterior (MALONE; MCPOIL;
NITZ, 2002).
2.1.6 Curvaturas da coluna vertebral
De acordo com Norkin e Levangie (2001), a coluna vertebral em uma visualizao
lateral; possui varias curvas que se evidenciam com o variar da idade. No adulto Iicam
evidentes quatro curvas ntero-posteriores distintas. As curvaturas possuidoras de uma
convexidade posterior so denominadas curvas ciIoticas, ja as curvas que apresentam uma
concavidade anterior so denominadas curvas lordoticas ou secundarias, que ocorrem como
resultado da acomodao do esqueleto a postura vertical.
As curvaturas toracicas e sacral so denominadas curvaturas primarias porque se
desenvolvem durante o periodo Ietal. As curvaturas cervical e lombar comeam a aparecer
antes do nascimento, mas so so evidentes apos o nascimento, sendo denominadas
curvaturas secundarias (MOORE, 1994).
41
A juno na qual termina uma curvatura e comea a proxima e geralmente um
local de maior mobilidade, tambem mais vulneravel a leso. Essas junes so as regies
cervicotoracica, toracolombar e lombossacral da coluna. Se as curvaturas da coluna so
exageradas, torna-se mais movel e se as curvaturas so retiIicadas, a coluna torna-se mais
rigida. As regies cervical e lombar da coluna espinhal so as mais moveis e as regies
toracica e pelvica so as mais rigidas (HAMILL; KNUTZEN, 1999).
2.2 COLUNA VERTEBRAL LOMBAR
Hall (2000), aIirma que as vertebras da regio lombar so maiores e mais espessas
que as das regies superiores da coluna, isto se deve a uma Iinalidade Iuncional, pois quando
o nosso corpo Iica na posio ereta, cada vertebra tera que sustentar o peso dos braos,
cabea, bem como o peso de todo o tronco posicionado acima dela. A maior area das
vertebras lombares reduz o estresse ao qual elas so submetidas.
Segundo Campos (2002), na regio lombar, as pores laterais e anterior do anel
so mais espessas que a poro posterior, por isso a poro posterior do anel e mais
vulneravel a traumatismos e alteraes degenerativas.
Tratando-se das vertebras lombares, a altura do corpo vertebral contribui para a
Iormao do oriIicio de conjugao, impedindo que o disco tenha contato com a raiz
nervosa. As Iacetas articulares so perpendiculares e as lminas so bem amplas
(KNOPLICH, 2003).
As vertebras lombares esto localizadas na regio mais estreita do dorso e seus
processos espinhosos so visiveis quando a coluna vertebral e Iletida. So distinguidas por
42
seus corpos macios, lminas rigidas e pela ausncia de Ioveas costais. Representam
grande parte da espessura da parte inIerior do tronco no plano mediano. Seus corpos vistos
de cima, possuem Iormas de rim e seus Iorames vertebrais variam de ovais a triangulares.
A maior, L5, e caracterizada por seus processos transversos robustos. E amplamente
responsavel pelo ngulo lombossacral entre a regio lombar e o sacro. O peso do corpo e
transmitido da vertebra L5 para a base do sacro (MOORE, 1994).
Campos (2002), relata que uma das principais Iunes da coluna lombar e
proporcionar apoio para o peso da parte superior do tronco, seja em situaes estaticas ou
dinmicas. A sobrecarga compressiva nesta regio e alterada por mudanas na curvatura
lombar ou pelas alteraes na posio dos segmentos do corpo que mudam o local do
centro de gravidade e conseqentemente, mudam as Ioras atuantes na coluna lombar.
2.2.1 Movimentos da coluna vertebral lombar
Segundo Hall (2000), a coluna permite a movimentao nos trs planos de
movimento, bem como a circunduo. Sendo a movimentao entre duas vertebras
adjacentes e pequena, os movimentos vertebrais sempre envolvem um grande numero de
segmentos moveis. A amplitude de movimento em cada segmento movel varia de uma
regio para outra devido as contenes anatmicas. Vamos nos ater aos movimentos da
regio lombar: Flexo / Extenso / Flexo lateral/ e Rotao.
Kapandji (1990, p.80), relata que durante a Ilexo o corpo da vertebra suprajacente
inclina-se e desliza para Irente, Iazendo assim diminuir a espessura do disco na sua parte
anterior a aumentar na parte posterior. O nucleo pulposo e 'empurrado para tras,
43
aumentando portanto sua presso sobre as Iibras posteriores do anel Iibroso. Paralelamente,
as apoIises articulares inIeriores da vertebra superior deslizam para cima e tendem a se
liberar das apoIises articulares superiores da vertebra inIerior; a capsula e os ligamentos
desta articulao esto, assim, sob tenso maxima, assim como todos os ligamentos da arco
posterior: ligamento amarelo, interespinhal, supraespinhal e longitudinal posterior. Esta
tenso limita, de Iorma deIinitiva o movimento de Ilexo.
Ainda, de acordo com Hall (2000), a regio lombar da coluna vertebral e de
grande interesse para medicos e pesquisadores, pois a dor nesta regio e um grande
problema socio-econmico dos tempos modernos.
Ainda segundo Kapandji (1990, p.80), durante a extenso o corpo da vertebra
suprajacente inclina-se para tras e recua, Iazendo com que o disco intervertebral diminua na
sua parte posterior, e aumente na sua parte anterior. O nucleo pulposo e 'empurrado para
Irente, entrando assim em tenso o anel Iibroso. Simultaneamente entra em tenso o
ligamento longitudinal anterior, e o ligamento longitudinal posterior e relaxado, pode-se
observar que as apoIises articulares inIeriores da vertebra superior se introduzem mais
proIundamente entre as apoIises articulares superiores da vertebra inIerior. Portanto o
movimento de extenso e limitado por salincias osseas no nivel do arco posterior e a
tenso do ligamento longitudinal anterior.
Durante a Ilexo lateral, o corpo da vertebra suprajacente inclina-se para o lado da
concavidade da Ilexo, tornando o disco mais espesso do lado da convexidade. O nucleo
pulposo desloca-se ligeiramente para o lado da convexidade. Ocorre tambem uma tenso
no ligamento intertransversal no lado da convexidade, e a sua distenso no lado da
concavidade. Numa vista posterior e possivel observar um deslizamento das apoIises
articulares. No lado da convexidade a apoIise articular da vertebra superior se eleva, e no
lado da concavidade ela se abaixa. Portanto, ocorre simultaneamente uma distenso dos
44
ligamentos amarelos e da capsula articular zigapoIisaria no lado da concavidade, e uma
tenso dos mesmos elementos no lado da convexidade (KAPANDJI, 1990). Segundo
HoppenIeld (1999), o movimento de inclinao lateral da coluna lombar no e um
movimento puro, e ocorre em concordncia com o movimento de rotao da coluna. O
alcance deste movimento e limitado pelos ligamentos circunjacentes.
Segundo Evans (2003), a amplitude de movimento normal para coluna lombar,
nos movimentos de Ilexo, extenso, e inclinao lateral e de: 80, 35 e 25
respectivamente.
De acordo com Kapandji (1990, p.82), 'as Iacetas articulares superiores das
vertebras lombares olham para tras e para dentro. Elas esto talhadas sobre a superIicie de
um mesmo cilindro cujo centro esta situado atras das Iacetas articulares aproximadamente
na base da apoIise espinhosa. Assim quando a vertebra superior roda sobre a vertebra
inIerior e o movimento de rotao se eIetua em volta deste centro, ocorrendo um
deslizamento do corpo da vertebra superior em relao ao da vertebra subjacente. O disco
intervertebral no e, assim, solicitado em toro axial, mas em 'tesoura; isso explica
porque a rotao axial na coluna lombar e muito Iraca, ou seja devido a orientao das
Iacetas articulares (KAPANDJI, 1990).
Para Hamill e Knutzen (1999), durante a realizao de movimentos, como Ilexo,
extenso e Ilexo lateral ocorre uma carga compressiva Iora do eixo, ou seja, o corpo
vertebral Iaz translao em direo ao lado que recebe a carga, soIrendo uma compresso e
no lado oposto ocorre uma carga tensiva do anel. Ja a medida que o tronco gira, ocorre
tanto tenso, como atrito no anel Iibroso do disco, o que promove o estreitamento do
espao articular e cria uma Iora de atrito no plano horizontal e tenso nas Iibras orientadas
na direo da rotao (HAMILL; KNUTZEN, 1999).
45
2.2.2 Musculos da coluna vertebral lombar
Ligamentos, musculos e tendes aIetam a estabilidade das articulaes. Se esses
tecidos tiverem enIraquecido por desuso ou estiramento excessivo, a estabilidade sera
reduzida. Ligamentos e musculos Iortes geralmente aumentam a estabilidade articular. Porem
musculos Iatigados contribuem menos para a estabilidade articular (HALL, 2000).
A coluna vertebral, no segmento lombar, apresenta uma lordose Iisiologica que e
preservada pelo Iormato de suas vertebras e discos, e pelos musculos. A descompensao
muscular pode causar hiperlordose ou retiIicao desta curvatura, sendo a retiIicao a
alterao mais grave devido o aumento do espao intervertebral posterior Iacilitando a causa
de hernia discal (FIGUEIRO, 1993).
Devido a grande interdependncia entre a pelve, o quadril e a coluna, um ideal
equilibrio muscular entre os pares de musculos antagnicos destas articulaes e essencial,
para a manuteno do correto alinhamento do corpo humano (CAMPOS, 2002).
As dores lombares geralmente resultam de espasmos musculares, que podem ser
agravadas pela compresso dos nervos espinhais ou anormalidade dos discos vertebrais
(RASCH, 1998).
Alem de movimentos, os musculos tm um papel muito importante quanto a suportar
estruturas esqueleticas. Um musculo precisa ser alongado o suIiciente para permitir a
mobilidade normal das articulaes e ser curto o suIiciente para contribuir eIetivamente com a
estabilidade muscular (KENDALL et. al., 1995).
Segundo Nordin (2003), os musculos paravertebrais so divididos em principais
Ilexores (reto abdominal, os obliquos abdominais internos e externos, abdominal transverso e
46
o musculo psoas); e os principais extensores que so os musculos eretores da espinha, o
multiIorme e o intertransverso que esto ligados aos elementos posteriores. Desta Iorma, de
acordo com Nordin (2003, p. 231), 'Quando os musculos extensores se contraem
simetricamente, a extenso e produzida. Quando os musculos extensores direitos e esquerdos
se contraem assimetricamente, a inclinao lateral ou a toro da coluna e produzida.
2.2.3 Ligamentos da coluna vertebral lombar
Campos (2002), aIirma que os ligamentos possuem importante Iuno na
biomecnica da coluna lombar e sendo muitos deles inervados, podem ser apresentados
como Ionte de dor.
Hebert et. al., (1998), relata que o ligamentos longitudinais anterior e posterior,
continuos em toda coluna so pouco extensiveis, apresentando alto teor de Iibras colagenas.
Segundo Campos (2002), o ligamento longitudinal anterior na regio lombar esta
Iirmemente ligado aos discos, as margens dos corpos vertebrais e ao sacro. Sua principal
Iuno e prevenir a separao dos corpos vertebrais durante a extenso, participando
tambem na estabilizao da lordose lombar.
Para Hamill e Knutzen (1999), este ligamento e muito denso e potente se insere
anteriormente no disco e nos corpos vertebrais de um segmento movel, limitando a
hiperextenso da coluna e restringindo o movimento para Irente de uma vertebra sobre a
outra.
O ligamento longitudinal posterior apresenta na regio lombar um aspecto
denteado. Suas Iibras esto Iixas aos corpos vertebrais e aos discos. E ele que impede a
47
separao dos corpos vertebrais (CAMPOS, 2002). Ja para Hamill e Knutzen (1999), este
ligamento no cobre a parte postero-lateral do segmento, o que torna este local vulneravel a
protuso do disco; e oIerece resistncia na Ilexo da coluna.
Ainda de acordo com Campos (2002, p.45), 'os ligamentos longitudinais so
viscoelasticos e por isso se retesam rapidamente quando sobrecarregados.
O ligamento supraespinhal se insere nos processos espinhosos de toda a coluna
(HALL, 2000).
Segundo Campos (2002) os ligamentos supraespinhal e interespinhal por se
encontrarem mais aIastados do eixo de Ilexo, precisam se alongar mais que o longitudinal
posterior para resistir a Ilexo.
Hall (2000), aIirma que o ligamento amarelo contem alta porcentagem de Iibras
elasticas que se alongam durante a Ilexo e se encurtam durante a extenso da coluna. Este
ligamento Iica sob tenso mesmo estando a coluna numa posio anatmica, aprimorando
assim a estabilidade vertebral. Essa tenso gera uma certa compresso constante nos discos
intervertebrais denominada pre-estresse.
Campos (2002), relata que o ligamento amarelo alem de possuir uma porcentagem
muito grande de Iibras elasticas, contem tambem muita elastina e colageno.
Ainda de acordo com Campos (2002), o ligamento longitudinal anterior e as
capsulas articulares esto entre os tecidos ligamentares mais Iortes do corpo. Por outro lado
os ligamentos longitudinal posterior e interespinhal esto entre os mais Iracos. Ha tambem
o ligamento iliolombar que une os processos transversos da vertebra L5 ao osso iliaco e so
e desenvolvido a partir dos 30 anos, antes disso ele e muscular, representando um
componente do musculo iliocostal lombar na L5. Ele resiste ao deslizamento anterior,
Ilexo lateral e rotao da vertebra L5 sobre o sacro (CAMPOS, 2002).
48
Campos (2002), aIirma que com o avano da idade os ligamentos vo diminuindo
suas habilidades na absoro de energia.
2.3 BIOMECNICA ARTICULAR
As articulaes do corpo humano apresentam as capacidades de orientar os
movimentos dos segmentos corporais. A estrutura anatmica, bem como as direes nas
quais os segmentos corporais podero movimentar-se variam pouco de um individuo para
outro. Porem diIerenas na Iirmeza ou Irouxido dos tecidos moles resultam em amplitudes
articulares de movimento diIerentes (HALL, 2000).
2.3.1 Estabilidade articular
De acordo com Hall (2000, p.90), 'a estabilidade de uma articulao e sua
capacidade de resistir ao deslocamento (luxao). Ou seja, e a capacidade de resistir ao
deslocamento anormal dos ossos articulados. Alguns Iatores inIluenciam a estabilidade
articular.
49
2.3.2 Formato das superIicies osseas articuladas
Hall (2000, p.90), relata que no corpo humano as partes dos ossos que se articulam
apresentam superIicies convexas e cncavas. A maioria das articulaes possui superIicies
que se encaixam, porem elas no so simetricas, existindo uma posio de melhor ajuste
onde a area de contato e maxima, conhecida como 'posio travada, esta posio costuma
apresentar uma maior estabilidade articular. Qualquer movimento dos ossos na articulao
diIerentes da posio travada, resulta em uma 'posio destravada, com area de contato
reduzida. Alguns Iormatos de superIicies articulares Iazem com que exista uma maior ou
menor area de contato tanto na posio travada quanto na posio destravada, e em
conseqncia maior ou menor estabilidade. Por exemplo, o acetabulo proporciona uma
cavidade proIunda para a cabea do Imur, existindo portanto uma grande area de contato
entre os dois ossos. Por essa razo a articulao do quadril e considerada estavel.
2.3.3 Organizao dos ligamentos e musculos
Ligamentos, musculos e tendes aIetam a estabilidade das articulaes. Se esses
tecidos tiverem enIraquecidos por desuso ou estiramento excessivo, a estabilidade sera
reduzida. Ligamentos e musculos Iortes geralmente aumentam a estabilidade articular.
Porem musculos Iatigados contribuem menos para a estabilidade articular (HALL, 2000).
50
2.3.4 Outros tecidos conjuntivos
A Iascia, tecido conjuntivo Iibroso e esbranquiado envolve os musculos e os
Ieixes de Iibras musculares, proporcionando apoio e proteo. Assim como a Iascia, a pele
no exterior do corpo contribui para a integridade articular (HALL, 2000).
2.3.5 Mobilidade articular
Segundo Hall (2000, p.91), 'e a amplitude de movimento permitida em cada um
dos planos de movimento de uma articulao. A mobilidade articular e inIluenciada por
diIerentes Iatores. Os Iormatos das superIicies osseas e o musculo ou tecido adiposo podem
limitar a amplitude do movimento. Para a maioria das pessoas, a mobilidade articular e
uma Iuno da Ilacidez e/ou extensibilidade relativa dos tecidos colagenos e dos musculos
que atravessam a articulao. Ligamentos e musculos tensos com extensibilidade limitada
inibem a amplitude do movimento de uma determinada articulao. A mobilidade e
tambem inIluenciada pelo conteudo hidrico dos discos cartilaginosos presentes em algumas
articulaes.
51
2.4 HERNIA DE DISCO
Segundo Cecil (1992), a hernia discal e a herniao do nucleo pulposo atraves do
anel Iibroso, constituindo-se como uma das principais causas de dor lombar. Quando ha
uma herniao medial, envolve a medula espinhal diretamente, pode haver pouca ou
nenhuma dor, ou dor na distribuio radicular bilateral. Sendo que, em muitas vezes, as
dores so sentidas em local distantes da herniao do disco (CECIL, 1992).
De acordo com Cox (2002), dois termos podem ser utilizados para descrever a
alterao degenerativa do disco, ou seja; a protuso do disco que e uma extenso de
material nuclear atraves do anel para o canal vertebral sem perda da continuidade do
material expelido, e o prolapso que permite o escape nuclear para o canal vertebral como
um Iragmento livre e o anel Iibroso no esta intacto.
Segundo Cox (2002), a sintomatologia da hernia discal esta relacionada com a
situao do disco, com sua localizao no disco e com a presso que o material exerce em
estruturas sensiveis como por exemplo, as raizes nervosas.
De acordo com Hall (2000), o disco propriamente dito no e inervado, e portanto
incapaz de gerar uma sensao de dor, existem porem, nervos sensoriais que inervam os
ligamentos longitudinais anterior e posterior, os corpos vertebrais e a cartilagem articular
das articulaes Iacetarias. Se a hernia exerce presso sobre uma dessas estruturas, sobre a
medula espinhal ou sobre um nervo raquidiano, pode resultar em dor ou dormncia.
Hebert et. al., (1998), menciona alguns Iatores relacionadas a degenerao do
disco intervertebral: diminuio no conteudo de proteoglicanos no disco, sendo estes os
principais responsaveis pela hidratao do nucleo pulposo, dando-lhe a propriedade de gel,
que Iaz com que as presses no anel sejam distribuidas uniIormemente. Com a diminuio
52
da presso de embebio do disco, maior presso e transmitida as Iibras do anel, o nucleo
perde suas propriedades hidraulicas, de amortecedor das presses e as Iibras do anel
tornam-se mais predispostas a ruptura.
Ainda de acordo com Hebert et. al., (1998), entre os 30 e 50 anos de idade Iase
de degenerao discal, e mais comum ocorrer a hernia, com a distribuio das presses de
Iorma desigual, apos esta Iase, devido a maior perda de agua no disco, o nucleo deixa de
transmitir estas presses, diminuindo assim as chances da ocorrncia de hernia. Um outro
Iator causal pode ser a postura ereta adotada pelo homem durante a evoluo.
Hebert et. al., (1998), relata ainda que um outro dado Ioi comprovado por
Nachemson, em um trabalho em voluntarios na Suecia, onde Ioi medida a presso
intradiscal em diIerentes posies, Ioi observada uma maior presso na posio sentada,
menor em decubito dorsal e quanto mais se inclina o tronco a Irente, maior e a presso.
2.4.1 Causas da hernia de disco
De acordo com Hebert et. al., (1998), a hernia de disco e uma combinao de
Iatores biomecnicos, alteraes degenerativas do disco e situaes que levam a um
aumento de presso sobre o disco.
As causas das hernias discais esto relacionadas a traumatismos, deIormidades da
coluna, rigidez corporal em individuos sedentarios, obesidade, hipotonia e Ilacidez
muscular. Fatores psicologicos como depresso e estresse tambem contribuem para
desencadear um quadro de hernia de disco (ERGUM, 2006).
53
2.5 HERNIA DE DISCO LOMBAR
Dentre as hernias discais, a hernia de disco lombar e a mais Ireqente, podendo
ocasionar quadros de lombalgia, lombocialtagia, ou mais raramente, sindrome da cauda
eqina. E interessante lembrar que 63 da populao entre 45 e 50 anos tem ou ja tiveram
dor lombar e 37 tem ou ja tiveram dor irradiada para o membro inIerior (HEBERT et. al.,
1998).
A maior incidncia de hernia discal se localiza entre L4/L5 e L5/S1, pois esses so os
pontos de maior estresse e mobilidade da coluna vertebral. A hernia lombar surge devido ao
excesso de carga suportado pela coluna (ERGUM, 2006).
A regio lombar e a mais suscetivel a leses, devido a Iraqueza das estruturas e as
cargas que lhe so impostas em atividades cotidianas, bem como atividades recreativas e
esportivas (RASCH,1998).
Hebert et. al., (1998), relata que a degenerao do disco intervertebral acarreta mais
de 200 operaes anuais no Estados Unidos. Portanto mais de 2 da populao adulta dos
Estados Unidos e 0,6 na Suecia tem sido submetidos a interveno cirurgica devido a
Iatores relacionados a degenerao do disco intervertebral.
54
2.6 TRATAMENTO
Knoplich (2003), aIirma que no se deve cogitar cirurgia discal para que seja
removida somente a dor do paciente. A unica indicao de cirurgia de emergncia seria a
completa perda de controle da sensao da bexiga. A cirurgia seria emergencial, pois
impediria a incontinncia permanente. Em todos outros casos as cirurgia seria relativa.
Os tratamentos das dores lombares mantm controversias hoje como a cinqenta
anos atras. Durante os anos Ioram usados tratamentos com calor e Irio, repouso e exercicios,
Ilexes e extenses, mobilizaes e imobilizaes, manipulaes e traes, entre varios outros
tratamentos. A prescrio de medicamentos vem sendo utilizada indiscriminadamente, mesmo
em casos onde a lombalgia Iora provada ser puramente mecnica (MCKENZIE, 1979).
De acordo com Knoplich (2003), os trabalhos que comparam o valor do tratamento
clinico com o cirurgico so poucos e de diIicil realizao, pois na maioria das vezes os
tratamentos cirurgicos so realizados em hospitais e o procedimento do internamento Iacilita.
Porem, o tratamento clinico e realizado em ambulatorio e domiciliar, no proporcionando um
quadro capaz de constatar uma realizao adequada.
2.6.1 Metodo Mckenzie
Segundo Mckenzie (1981), a tecnica aborda o tratamento das dores da coluna
relacionadas aos disturbios do sistema articular da coluna vertebral. Esta tecnica de Mckenzie
utiliza os movimentos do proprio paciente no alivio da dor e na recuperao da Iuno. Ela e
55
uma tecnica de avaliao e um metodo teraputico baseado na avaliao da resposta
sintomatica na avaliao da dor ou reduo da deIormidade tecidual.
Os individuos que respondem bem a esta tecnica so: 'pacientes que soIrem de dores
agudas, subagudas ou crnicas da coluna vertebral, que se maniIestam pelo aparecimento
repentino de uma dor comumente aguda, podendo ocorrer irradiao para os membros
superiores ou inIeriores, com concomitante restrio do movimento. E importante a incluso
de pacientes com ciatalgias ou braquialgias intermitentes, sem que haja deIicits neurologicos
ja instalados (MCKENZIE, 1981). A dor na Iase crnica e menos severa, pode persistir por
mais de 2 meses. Regra geral estes pacientes iro reIerir sintomas recorrentes.
O Metodo McKenzie classiIica as algias da coluna em 3 diIerentes categorias. A
Sindrome Postural e a deIormao mecnica de origem postural que promove dor de natureza
intermitente. Os tecidos ao redor dos segmentos da coluna so submetidos a estresses por
longos periodos, decorrentes da ma postura estatica e prolongada. So geralmente pacientes
com menos de 30 anos de idade, sedentarios e podem relatar dor irradiada para outros niveis
da coluna vertebral. O tratamento tem como objetivo a correo e orientao postural
(MCKENZIE, 1979).
A Sindrome da DisIuno; os tecidos ao redor dos segmentos vertebrais envolvidos
apresentam-se encurtados ou Iibrosados. Ao realizar-se um movimento normal estas
estruturas so submetidas a alongamentos alem do seu limite, gerando um aumento da sua
tenso, impedindo que a sua amplitude normal maxima possa ser alcanada. A tentativa de
ultrapassar este limite causara um alongamento excessivo destas estruturas provocando dor
(MCKENZIE, 1981). Em decorrncia, se veriIica uma perda do movimento e da Iuno, por
exemplo, perda de Iuno da coluna cervical observada ao se manobrar um carro. Geralmente
so pacientes com idade acima de 30 anos, que reIerem rigidez maior no periodo da manh. O
56
tratamento consiste na orientao postural, alongamento de partes moles e do tecido Iibrotico,
tendo cuidado de no provocar microtraumas (MCKENZIE, 1981).
Ainda de acordo com Mckenzie (1981), a Sindrome do Desarranjo, de todas as
sindromes da coluna vertebral acima descritas, esta e potencialmente a mais limitante (95
dos casos). O posicionamento normal das superIicies articulares de duas vertebras adjacentes
e desestruturado, devido a alterao da posio do nucleo pulposo do disco intervertebral.
Pequena protuso do disco intervertebral pode provocar uma limitao do movimento e
causar deIormidades como escoliose e ciIose. Este desarranjo envolvendo o material do
nucleo do disco pode ser revertido por certos movimentos aplicados a coluna, podendo
reduzir o volume da protuso e promover uma centralizao dos sintomas. Ao contrario,
movimentos que Iavorecem um aumento da protuso acarretam uma periIeralizao dos
sintomas.
De acordo com Mckenzie (1979), a Sindrome do Desarranjo pode ser devido a uma
progresso das sindromes anteriormente mencionadas, caso no tratado adequadamente; os
sintomas podem se maniIestar de modo central ou simetrico na coluna, unilateral ou
assimetrico, com ou sem irradiao para membro superior ou inIerior, com ou sem
deIormidade postural. O tratamento consiste na reduo do deslocamento do nucleo pulposo
do disco intervertebral, provocando uma centralizao dos sintomas, ou seja, trazendo a dor
irradiada de uma regio distal para uma regio proximal no membro acometido. Ainda a
manuteno desta reduo, recuperao da Iuno, do membro, preveno de reincidncia e
orientao postural (MCKENZIE, 1979).
57
3 METODOLOGIA
A presente pesquisa visou demonstrar como e possivel atraves da aplicao da
tecnica de Mckenzie, diminuir o quadro algico e aumentar a ADM, melhorando a saude e o
bem estar reduzindo os maleIicios da patologia.
Atualmente os tratamentos conservadores esto sendo mais utilizados, pois,
melhoram o quadro patologico, Iavorecendo a qualidade de vida. Deve-se levar em
considerao que os tratamentos cirurgicos da hernia de disco, possuem alto indice de
reincindiva.
Realizou-se um estudo de caso de Iorma qualitativa, de corte longitudinal. Com um
paciente, do sexo Ieminino, 53 anos de idade, com hernia de disco lombar, aIastada do
trabalho, atualmente trabalhadora do lar. Pertencente a lista de espera da clinica escola de
Iisioterapia da Faculdade Assis Gurgacz.
O estudo Ioi desenvolvido nas dependncias da Clinica FAG Faculdade Assis
Gurgacz. Como materiais de avaliao e aplicao do metodo Ioram utilizados, travesseiros,
uma cunha, e uma maca. Utilizou-se um questionario sobre atividades Iuncionais, o qual a
paciente respondeu as questes relacionadas a suas diIiculdades na realizao de suas
atividades de vida diaria, Questionario de Rolland-Morris (ANEXO B); inclinmetro, para a
veriIicao da amplitude de movimento, da marca Sanny; utilizado na veriIicao do
movimento de inclinao lateral tanto a direita, quanto a esquerda, utilizando o esterno como
ponto de reIerncia de posicionamento do inclinmetro, atraves de inclinometria digital,
sendo esta da marca Baseline, para a veriIicao dos movimentos de extenso e Ilexo da
coluna lombar, utilizando como ponto de reIerncia a vertebra L2, para posicionamento do
58
aparelho, escala analogica de dor (VAS); (ANEXO C), e uma Iicha de avaliao desenvolvida
pelo instituto Mckenzie (1981); (ANEXO A).
A conduta Iisioteraputica aplicada Ioi baseada no protocolo de tratamento proposto
por Mckenzie para pacientes com desarranjo grau 3, ou seja, exercicios de extenso de tronco.
O tempo de da aplicao do metodo consistiu em 10 atendimentos, aplicado duas vezes por
semana.
3.1 FATORES DE INCLUSO
Para que Iosse incluida no tratamento a paciente tinha que atender aos seguintes pre
requisitos: ser maior de trinta anos de idade, o que diminui as possibilidades de possuir
sindrome postural, no deveria estar Iazendo uso de qualquer medicamentao, no deveria
estar realizando qualquer outro tipo de tecnica de tratamento, boa cognio; e possuir um
diagnostico de hernia de disco lombar por exame de imagem ou clinico, alem de assinar o
termo de consentimento livre e esclarecido.
3.2 FATORES DE EXCLUSO
Caso o paciente Iosse menor de trinta anos de idade, estivesse Iazendo uso de
qualquer medicamentao, ou outra tecnica de tratamento, estado cognitivo alterado ou
prejudicado, no aceitao do termo de consentimento livre e esclarecido, ou no tivesse
59
diagnostico comprovado de hernia de disco lombar por exame de imagem ou clinico, seria
excluso do tratamento.
3.3 COLETA DE DADOS
A coleta de dados procedeu-se primeiramente obtendo-se a aprovao do comit de
Etica em Pesquisa (ANEXO D) e da concordncia da coordenao e dos supervisores de
estagio da Clinica Escola de Fisioterapia da Faculdade Assis Gurgacz, para a aplicao da
pesquisa com o paciente selecionado. Tanto o questionario composto por vinte e quatro
questes sobre atividades Iuncionais, quanto a veriIicao da ADM da coluna lombar; em
Ilexo, extenso e inclinao lateral a direita e a esquerda, Ioram realizadas no primeiro,
quinto e decimo atendimento. Ja a qualiIicao da dor, Ioi questionada a paciente, atraves da
escala analogica de dor (numerada de zero a dez), durante o inicio e Iim de cada atendimento,
constando assim de vinte veriIicaes.
Utilizou-se a Iicha de avaliao do Metodo Mckenzie (ANEXO A); com o intuito de
coletar os dados, levando em considerao todos os dados da paciente, como: dados pessoais,
idade, as historias das molestias pregressas e atuais, Iatores hereditarios, uso de
medicamentos, entre diversos outros Iatores que poderiam inIluenciar na realizao do
tratamento e Iacilitar na classiIicao do tipo de sindrome, segundo o Metodo Mckenzie.
O local escolhido para a realizao da pesquisa Ioi o consultorio n 02, localizado na
Clinica Escola de Fisioterapia da Faculdade Assis Gurgacz da cidade de Cascavel Pr, sendo
um local apropriado e tranqilo, com a disponibilizao de uma maca, travesseiros, uma
60
cunha; uma mesa e duas cadeiras (utilizada durante a coleta de dados), ou seja, materiais
necessarios para a aplicao do metodo.
Tambem utilizou-se de uma cmera IotograIica (da marca Samsung 4.0), para
registro da veriIicao da ADM, e para registro dos exercicios realizados.
De tal Iorma, o acompanhamento Ioi composto por dez atendimentos, realizados
duas vezes por semana, as teras e quintas-Ieiras, com durao de uma hora, (das 17h40min
as 18h40min). Sendo que o protocolo estabelecido, baseou-se em exercicios que
proporcionassem extenso da coluna lombar.
3.4 PROCEDIMENTOS
A participante antes de participar do estudo, recebeu todas as inIormaes
necessarias sobre o metodo a ser aplicado. No primeiro atendimento, Ioi apresentado a
paciente, o termo de consentimento livre e esclarecido (APNDICE A), para que esta tomasse
conhecimento do objetivo do trabalho, seus beneIicios, riscos possiveis, tais como: no
diminuio da dor, retorno da dor apos o termino da pesquisa e a conduta a ser adotada no
tratamento. O termo de consentimento livre e esclarecido, Ioi assinado pela participante a
tornando ciente dos objetivos da pesquisa, dos seus deveres e direitos.
Apos realizou-se a avaliao da paciente, a qual relatou maior intensidade de dor, e
limitao de movimento ao realizar Ilexo de tronco. Sendo assim, levando em considerao
toda a coleta de dados, e as caracteristicas apresentadas, a paciente Ioi enquadrada segundo
Mckenzie (1981), dentro da sindrome do desarranjo grau 3, de tal Iorma o auto-tratamento, se
baseia em exercicios de extenso da coluna lombar.
61
Utilizou-se a Escala Analogica de dor; ou seja uma escala graduada de 0 a 10, onde o
paciente no inicio e Iinal de cada atendimento classiIicava sua dor em notas que variavam de
0 a 10, de acordo com a intensidade da sensao. Sendo inIormado que a nota zero
corresponde a ausncia de dor, enquanto que, a nota 10 a maior intensidade imaginavel.
O questionario Rolland-Morris, composto por vinte e quatro questes, no que diz
respeito ao desempenho das atividades Iuncionais da paciente, tambem Ioi respondido.
Iniciou-se a progresso do Metodo Mckenzie com a paciente deitada de bruos
mantendo uma extenso de tronco Iisiologica. Durante dez minutos (FIGURA 1).
FIGURA 1: Posio; deitada de bruos
Fonte. da autora.
No segundo dia, a paciente permaneceu na mesma posio anterior, durante cinco
minutos. Apos, continuou deitada em prono (barriga para baixo); sob um colchonete dobrado,
o que Iacilitou um aumento da extenso de tronco (FIGURA 6), durante dez minutos.
62
FIGURA 2: Extenso de tronco deitado
Fonte. da autora.
No terceiro dia, a paciente permaneceu cinco minutos, deitada de bruos. Apos
ainda, deitada em prono (barriga para baixo), realizou-se posio de leitura apoiando os
cotovelos na maca e a palma das mos na Iace, por dez minutos. Apos isso a paciente,
descansou por cinco minutos. Deu-se seqncia com a paciente realizando extenso da coluna
em pe (FIGURA 3), duas series de dez repeties.
63
FIGURA 3: Extenso de tronco em pe
Fonte. da autora.
No quarto dia de atendimento, realizou-se apoio, duas series de dez repeties
(FIGURA 4).
FIGURA 4: Apoio com cotovelos semi-Ilexionados
Fonte. da autora.
64
Apos a paciente permaneceu cinco minutos deitada de bruos. Dando-se seqncia
ao atendimento com a paciente na posio sentada sobre os calcanhares conIorme mostra a
(FIGURA 5), realizando extenso da coluna lombar, uma serie de dez repeties.
FIGURA 5: Posio; sentado sobre os calcanhares
Fonte. da autora.
Logo em seguida com a paciente na posio bipede (em pe), realizou-se duas series
de dez repeties de extenso de tronco.
No quinto dia, realizou-se trs series de dez repeties de apoio em prono (de barriga
para baixo). Duas series de dez repeties com a paciente na posio sentada sobre os
calcanhares, apoiando as mos atras da cabea, aumentando o grau de diIiculdade da atividade
(FIGURA 6).
65
FIGURA 6: Posio; sentado sobre os calcanhares, com apoio dos MMSS atras da
cabea
Fonte. da autora.
Apos permaneceu deitada em prono (barriga para baixo), sob uma cunha, mantendo
um certo grau de extenso de tronco, permanecendo durante dez minutos (FIGURA 7).
FIGURA 7: Extenso de tronco com apoio da cunha
Fonte. da autora.
66
A avaliao intermediaria Ioi realizada, ou seja, o grau de amplitude de movimento
em Ilexo, extenso, ILD e ILE Ioi veriIicado, e o questionario Rolland-Morris aplicado
novamente conIorme o primeiro atendimento.
No sexto dia, a paciente realizou os mesmos exercicios da sesso anterior com
acrescimo do numero de vezes de extenso de tronco deitada (apoio), totalizando 40
repeties. Sendo que nas dez ultimas repeties permaneceu dez segundos com os braos
totalmente estendidos (FIGURA 8).
FIGURA 8: Apoio com cotovelos estendidos
Fonte. da autora.
No setimo dia, manteve-se a realizao de quatro series de dez repeties de apoio
em prono. Permanecendo apos, deitada em prono (barriga para baixo), sob uma cunha,
mantendo um certo grau de extenso de tronco, permanecendo durante dez minutos. Em pe,
realizou-se extenses de tronco, trs series de dez repeties.
Ja no oitavo dia de atendimento, a paciente permaneceu deitada de bruos durante
cinco minutos. Em seguida, realizou-se trs series de extenso de tronco deitada (apoio),
67
sendo que, nas ultimas repeties a paciente deveria soltar todo seu peso (presso extra do
paciente), ou seja levantava-se a metade superior do tronco, progressivamente mais alto ate o
maximo da ADM da extenso. Apos com a paciente na mesma posio realizando a extenso
de tronco repetida, o terapeuta aplicava uma presso na coluna lombar, uma serie de dez
repeties. Houve uma pausa de cinco minutos, com a paciente permanecendo deitada em
prono (barriga para baixo), sob uma cunha, mantendo um certo grau de extenso de tronco.
No penultimo acompanhamento, manteve-se a conduta anterior, acrescentando mais
uma serie de dez repeties ao exercicio de extenso de tronco repetida, o qual a paciente
permanecia deitada, e o terapeuta aplica uma presso na regio da coluna lombar.
No ultimo atendimento, a paciente realizou cinco series de dez repeties de
extenso de tronco em pe, apos trs series de extenso de tronco deitada (apoio), alem de
quatro series de dez repeties na posio sentada sobre os calcanhares conIorme mostra a
(FIGURA 5). Neste ultimo atendimento, a paciente Ioi novamente avaliada, respondeu mais
uma vez ao questionario Iuncional de Rolland-Morris. Novamente aIeriu-se a ADM de Ilexo,
extenso, ILD e ILE da coluna lombar. Todas as veriIicaes Ioram realizadas pela acadmica
responsavel por esse estudo.
A paciente trajava uma vestimenta conIortavel (cala de ginastica ou moletom e
camiseta ou blusa conIortavel), pes descalos, permitindo os movimentos e Iacilitando a
realizao das atividades.
Os exercicios de extenso da coluna lombar, Ioram realizados de Iorma progressiva,
ou seja aumentando o grau de diIiculdade de acordo com a capacidade e limitao
apresentada pela paciente.
Todos os dias de atendimentos Ioram evoluidos, registrando-se os valores da escala
analogica de dor, a conduta realizada, bem como as intercorrncias. As respostas obtidas
68
Ioram analisadas de maneira qualitativa, sendo Ieita a analise utilizando o programa Excel,
demonstrando atraves de graIicos, com intuito de veriIicar a eIicacia da terapia.
69
4 RESULTADOS
Neste capitulo sero apresentados os resultados obtidos atraves da coleta de dados
realizada nas avaliaes, reavaliaes e durante o tratamento. O tratamento Iisioteraputico
Ioi realizado em um periodo de dez dias (atendimentos), duas sesses semanais, variando o
tempo de atendimento diario de acordo com o desempenho da paciente.
A paciente Ioi avaliada trs vezes ao todo, sendo uma no inicio do atendimento, uma
avaliao intermediaria (no quinto atendimento), e uma ultima avaliao Iinal respectiva ao
decimo atendimento. Este estudo de caso, Ioi realizado com uma paciente do sexo Ieminino,
53 anos de idade, aIastada do trabalho; atualmente trabalhadora do lar.
Foi aplicado o Questionario Rolland-Morris, sobre atividades Iuncionais que
requerem movimentao da coluna lombar, composto por 24 questes diretas, onde o maximo
de questes respondidas, indicam uma piora no quadro patologico e maior diIiculdade na
realizao das atividades de vida diaria do paciente. Este Ioi aplicado conIorme mostra o
(GRAFICO 1), ou seja, no primeiro atendimento a paciente respondeu 15 questes, no quinto
atendimento (reavaliao); 10 questes, e na avaliao Iinal 8 questes, valores estes
correspondentes a 63; 42 e 33 respectivamente. Sendo assim, observou-se uma reduo
no numero de questes respondidas, o que demonstra uma melhora do quadro Iuncional da
paciente.
GRAFICO 1: Questionario Roland-Morris 1, 5 e 10 atendimento.
70
63%
42%
33%
1 antendimento 5 atendimento 10 atendimento
Fonte. da autora
Analisou-se tambem a questo relacionada com a dor, atraves da escala analogica
da dor, a qual perguntava-se para a paciente no inicio e no Iinal de cada atendimento a
mensurao correspondente ao seu quadro doloroso, a (TABELA 1) mostra os dados
obtidos durante os dez atendimentos realizados. Sendo assim obteve-se dados variados,
onde em todos os atendimentos teve-se diminuio da dor no Iinal de cada sesso;
conIorme a demonstrao do (GRAFICO 2).
TABELA 1 - Valores obtidos com relao ao quadro doloroso do paciente, tanto no inicio e
no Iinal dos dez atendimentos realizados
71
Atendimentos ncio Final
1 8 4
2 7 4
3 7 5
4 8 4
5 6 3
6 7 4
7 7 3
8 8 4
9 6 3
10 6 2
*Note. Jalores estes questionaveis ao paciente.
Fonte. da autora.
GRAFICO 2: Escala Analogica da dor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
atendimentos
E
s
c
a
I
a
A
n
a
I
g
i
c
a
d
a
D
o
r
incio
final
Fonte. da autora
Um outro Iator analisado e que tambem possui bastante inIluncia dentro da analise
dos resultados, Ioi a veriIicao da ADM, os valores obtidos so demonstrados na (TABELA
2) tanto em Ilexo, extenso e inclinao lateral a direita e a esquerda da coluna lombar,
durante o primeiro, quinto e decimo atendimento, totalizando trs mensuraes realizadas
durante dez atendimentos. Observou-se, um aumento gradativo da ADM, em ambas
reavaliaes realizadas e em ambos os planos de movimento (GRAFICO 3). Temos em
porcentagem uma media de melhora de 40 no movimento de Ilexo da coluna lombar, 50
72
no movimento de extenso, 32 de inclinao lateral a direita e 16 de inclinao lateral a
esquerda dados observaveis no (GRAFICO 4).
TABELA 2 - Valores dos ngulos em Ilexo, extenso, ILD e ILE da coluna lombar (em
graus)
ADM 1 mensurao 2 mensurao 3 mensurao Porcentagem
Flexo 52 66 73 40%
Extenso 14 18 21 50%
LD 22 26,5 29 32%
LE 25 28 29 16%
*Note. ILD. inclinao lateral a direita, ILE. inclinao lateral a esquerda.
A porcentagem refere-se a variao entre a primeira e terceira mensurao de cada movimento.
Fonte. da autora.
GRAFICO 3: ADM em Ilexo, extenso, inclinao lateral a direita e a equerda
da coluna lombar.
52
14
22
25
66
18
26,5
28
73
21
29 29
Flexo Extenso LD LE
ADM
P
I
a
n
o
s
e
e
i
x
o
s
d
e
m
o
v
i
m
e
n
t
o
1 antendimento 5 atendimento 10 atendimento
*Note. ILD. inclinao lateral a direita, ILE. inclinao lateral a esquerda.
Fonte. da autora.
GRAFICO 4: Variao entre a primeira e a ultima mensurao dos movimentos
de Ilexo; extenso; ILD e ILE; da coluna lombar.
73
40%
50%
32%
16%
Flexo Extenso LD LE
ADM
V
a
r
i
a
o
e
n
t
r
e
o
1
e
o
1
0
a
t
e
n
d
i
m
e
n
t
o
*Note. ILD. inclinao lateral a direita, ILE. inclinao lateral a esquerda.
ADM. amplitude de movimento.
Fonte. da autora.
5 DISCUSSO
74
A tecnica de Mckenzie, em geral, vem crescendo atualmente, o que acarreta a
necessidade de novas pesquisas sobre o assunto a Iim de desmistiIica-la. O intuito principal
dessa pesquisa Ioi veriIicar a reduo do quadro algico e o aumento da amplitude de
movimento, atraves do metodo Mckenzie; em uma paciente com hernia de disco lombar.
Segundo Ortiz (2000); o tratamento conservador, alem do baixo custo, tem obtido os
melhores resultados, em torno de 80 a 90. Quando um individuo com hernia de disco
lombar minimiza seu quadro clinico de dor, atraves da atividade Iisica, ele esta sendo
grandemente beneIiciado: primeiramente, pelo Iato de no correr os riscos pertinentes de toda
cirurgia de coluna, alem de no apenas tratar o disco enIermo, mas tambem aprimorar a
Ilexibilidade, melhorar a condio cardio-respiratoria e, talvez, abrandar crises recidivas. Mas,
quando a dor no apresentar retrocesso apos quatro a seis semanas deste tratamento,
recomenda-se interveno cirurgica, o qu signiIica menos de 10 dos casos (ORTIZ, 2000).
Os resultados obtidos mostram que, a aplicao do metodo reduziu o quadro algico e
gerou o aumento da ADM da paciente, tornando-se eIicaz, proporcionando melhor
desempenho nas suas habilidades Iuncionais, portanto o objetivo principal desse estudo Ioi
alcanado com xito.
A paciente passou a relatar diminuio da dor e maior desempenho na realizao das
suas atividades de vida diaria, logo apos o terceiro atendimento.
E em um estudo envolvendo uma populao de 331 terapeutas licenciados pelo
Metodo Mckenzie, em Washington (Estados Unidos), concluiu-se que 85 dos
Iisioterapeutas empregados no Health Maintenance Organization (HMO), citaram a
eIetividade do metodo Mckenzie, classiIicando-a de moderada a muito eIicaz, no tratamento
da dor lombar (BATTIE et. al., 1994).
75
O Dr. Robin Mckenzie acreditava que as dores lombares eram oriundas de trs
mecanismos: a 'Sindrome de Postura, causada por uma deIormao mecnica dos tecidos
moles adjacentes aos segmentos vertebrais; a 'Sindrome de DisIuno, causada por um
encurtamento ou aderncia tecidual causada pela ma postura ou por contratura do tecido Iibro-
colagenoso desenvolvido apos um trauma, e o terceiro e ultimo mecanismo a 'Sindrome do
Desarranjo causada por um deslocamento do disco intervertebral (MCKENZIE, 1981).
A paciente ao aceitar sua participao no estudo, parou com a utilizao de Iarmacos
analgesicos.
O numero de atendimentos e o comparecimento assiduo da participante, alem das
orientaes passadas a esta, a serem realizados em casa, e os acompanhamentos realizados
apos a Iinalizao do periodo de dez atendimentos tambem tiveram papel importante para o
sucesso da terapia.
A importncia das orientaes Iavorece a manuteno de uma boa postura, atuando
de maneira preventiva, o que proporciona o no agravamento do quadro disIuncional
(SANTOS, 2003).
No restam duvidas que o metodo Mckenzie Iavorece a reduo do quadro algico,
aumenta a amplitude de movimento, Iacilitando a realizao das AVDs. No entanto, supe-se
que se o paciente continuar com a realizao das orientaes preventivas de postura e
exercicios em casa, a melhora obtida durante o tratamento sera mantida.
A identiIicao de qual tipo de exercicio a paciente iria realizar se deu atraves da
avaliao da paciente, a qual relatou maior intensidade de dor, e limitao de movimento ao
realizar Ilexo de tronco. De tal Iorma a paciente Ioi enquadrada segundo Mckenzie (1981);
dentro da sindrome do desarranjo grau 3. Ou seja, o tratamento Ioi baseado em extenso da
coluna lombar.
76
Kapandji (1990), relata que durante a Ilexo o corpo da vertebra suprajacente inclina-
se e desliza para Irente, Iazendo assim diminuir a espessura do disco na sua parte anterior a
aumentar na parte posterior. O nucleo pulposo e 'empurrado para tras, aumentando portanto
sua presso sobre as Iibras posteriores do anel Iibroso.
Segundo Van Tulder (2000, apud WELTER, 2004), quanto ao tipo de exercicio, os
de Ilexo esto sumariamente contra-indicados nas hernias discais agudas e nas protuses
discais diIusas acentuadas, com dor grave e canal estreito. Ja os de extenso esto indicados
nas protuses diIusas e Iocais do disco, Iora do periodo agudo doloroso.
Entende-se que os exercicios de Iortalecimento dos musculos vertebrais na Iase
tardia (Ilexo, extenso e abdominais), melhoram a nutrio do disco, por aumentarem a
diIuso passiva de oxignio e diminuir a concentrao de hidrognio, pois levariam a uma
diminuio da dor nos processos patologicos mecnico-degenerativos da coluna lombar
(CECIN, 2000).
A pesquisa em questo proporcionou o alcane dos objetivos esperados, ou seja a
reduo do quadro doloroso, aumento da amplitude de movimento em Ilexo; extenso; ILD e
ILE da coluna lombar, e sequencialmente melhor desempenho na realizao das suas
habilidades Iuncionais.
77
6 CONSIDERAES FINAIS
De acordo com os resultados obtidos, e possivel veriIicar a eIicacia do Metodo
Mckenzie para a reduo do quadro algico, ganho da ADM e melhor desempenho nas
habilidades Iuncionais da paciente que apresenta um quadro de hernia de disco lombar.
Apesar das limitaes proprias de um estudo de caso, tal como a ocorrncia de
amostra pouco representativa, o estudo em questo torna-se importante por contribuir com
novos dados, e estimular pesquisas em hernia de disco lombar e Metodo Mckenzie.
Prope-se maiores estudos reIerentes ao metodo aplicado, ate mesmo comparativos a
outras tecnicas de tratamento, com uma populao maior; e que venha a ser aplicado durante
um periodo maior de tempo. Para se obter dados com comprovao cientiIica, a respeito mais
concreto da eIicacia do metodo.
No entanto deve-se levar em considerao que a paciente Ioi acompanhada apos o
termino dos dez atendimentos, e orientada a realizar suas atividades de vida diaria de maneira
mais correta, mantendo um bom alinhamento postural, e a realizar os exercicios de extenso
da coluna lombar em casa. De tal Iorma, observou-se que a paciente conseguiu manter os
ganhos adquiridos no decorrer do tratamento, e passou a relatar uma maior diminuio da dor,
e conseqentemente um melhor desempenho na realizao das suas atividades de vida diaria.
78
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ASSUMPO, R.; BRAS, B.; DESTRO, R. Manual para elaborao e apresentao de
trabalhos acadmicos. Cascavel: Faculdade Assis Gurgacz, 2006.
CAMPOS, M. A. Exerccios Abdominais: uma abordagem prtica e cientifica. Rio de
Janeiro: Sprint, 2002.
CECIL. Tratado de Medicina Interna. 2.ed. So Paulo, 1992.
CECIN, H. A. Consenso Brasileiro sobre Lombalgias e Lombociatalgias. Efdeportes.
Uberaba, n. 60, 2000.
CIPRIANO, J. Manual Fotogrfico de Testes Ortopdicos e Neurolgicos. 3. ed. So
Paulo: Manole, 1999.
COX, M. J. Dor lombar: mecanismo, diagnostico e tratamento. 6.ed. So Paulo: Manole,
2002.
ERGUM - Fundao de Estudo e Pesquisa em Traumato-Ortopedia. Hernia Discal.
Disponivel em http://www.herniadedisco.com.br/08herniadiscal.htm~ acesso
em:20.mai.2006. http://www.vanet.com.br/ergum/08herniadiscal.htm
EVANS, C. R. Exame Fsico Ortopdico Ilustrado. 2. ed. So Paulo: Manole, 2003.
FIGUEIRO, S. Seu Trabalho, sua Postura, sua Coluna: cervico-dorso-lombalgias nas
atitudes posturais. Porto Alegre: Sagra, 1993.
HALL, S. J. Biomecnica Bsica. Traduzido por: Giuseppe Taranto. 3.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
HAMILL, J.; KNUTZEN, M.K. Bases biomecnicas do movimento. 1.ed. So Paulo:
Manole, 1999.
HEBERT, S.; XAVIER, R. Ortopedia e Traumatologia: principios e pratica. 2.ed. Porto
Alegre: Artmed,1998.
HOPPENFELD, S. Propedutica Ortopdica: coluna e extremidades. So Paulo: Atheneu,
1999.
KAPANDJI, I. A. Fisiologia Articular vol. 3. 5.ed. So Paulo: Panamericana, 2000.
______. Fisiologia Articular: esquemas comentados de mecnica humana - tronco e coluna
vertebral, v.3. Traduzido por: Maria A. Madail e A. Filipe da Cunha. So Paulo: Manole,
1990. Traduo de: Physiologie Articulaire: schemas commentes de mecanique humaine
(Iascicule III tronc et rachis).
79
KENDALL, F.P. Msuculos - Provas e Funes - Compostura e Dor. So Paulo: Manole,
1995.
KNOPLICH, J. Enfermidades da coluna vertebral- Uma viso Clnica e Fisioterpica. 3.
ed. So Paulo: Robe Editorial, 2003.
MALONE, M.T.; MCPOIL, T.G.; NITZ, J.A. Fisioterapia em Ortopedia e Medicina no
Esporte. 3. ed. So Paulo: Santos Livraria Editora, 2002.
MCKENZIE, R.A. The lumbar spine; mechanical diagnosis and therapy. 1.ed. Waikanae,
NZ: Spinal Publications, 1981.
______. Prophylaxis in Current Low Back Pain. New Zealand, NZ: Medical Journal; 1979.
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para Clnica. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan,
1994.
NATALI, H. L. Estudo comparativo do tratamento fisioteraputico em hrnia discal
lombar atravs de dois protocolos de terapia manual. 2004. MonograIia (Bacharel em
Fisioterapia) Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel.
NORDIN, M.; FRANKEL, H.V. Biomecnica bsica do: sistema musculoesqueletico. 3.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
NORKIN, C.C.; LEVANGIE, P. K. Articulaes- Estrutura e Funo. 2. ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 2001.
RASH, P.J. Cinesiologia e Anatomia Aplicada. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,1998.
SANTOS, M. Hernia de disco: uma reviso clinica, Iisiologica e preventiva. Efdeportes.
Buenos Aires, n. 65, 2003.
THOME, C.M.; LEMOS, V.T. Acupuntura e Mckenzie para lombociatalgia: um estudo
de caso. Universidade Catolica de Goias. Goinia, 2003.
TRIBASTONE, F. Tratado de Exerccios Corretivos: aplicados a reeducao motora
postural. So Paulo: Manole, 2001.
WETLER, B.C.; ROCHA, A.V.; BARROS, F.J. O tratamento conservador atraves da
atividade Iisica na hernia de disco lombar. Efdeportes. Buenos Aires, n. 70, 2004.
80
ANEXOS
ANEXO A - FICHA DE AVALIAO: (MTODO MCKENZIE)
81
82
83
ANEXO B - QUESTIONRIO ROLLAND-MORRIS : VERSO EM LINGUA
PORTUGUESA
Questionrio Rolland-Morris : verso em lngua portuguesa:
Quando suas costas doem, voc pode encontrar diIiculdade em Iazer algumas coisas
que normalmente Iaz.Esta lista possui algumas Irases que as pessoas tm utilizado para se
descreverem quando sentem dores nas costas. Quando voc ouvir estas Irases pode notar que
algumas se destacam por descrever voc hoje. Ao ouvir a lista pense em voc hoje. Quando
voc ouvir uma Irase que descreve voc hoje, responda sim. Se a Irase no descreve voc,
ento responda no e siga para a proxima Irase. Lembre-se, responda sim apenas a Irase que
tiver certeza que descreve voc hoje.
Questes:
1. | | Fico em casa a maior parte do tempo por causa de minhas costas.
2. | | Mudo de posio Ireqentemente tentando deixar minhas costas conIortaveis.
3. | | Ando mais devagar que o habitual por causa de minhas costas.
4. | | Por causa de minhas costas eu no estou Iazendo nenhum dos meus trabalhos que
geralmente Iao em casa.
5. | | Por causa de minhas costas, eu uso o corrimo para subir escadas.
6. | | Por causa de minhas costas, eu me deito para descansar mais Ireqentemente.
84
7. | | Por causa de minhas costas, eu tenho que me apoiar em alguma coisa para me levantar
de uma cadeira normal.
8. | | Por causa de minhas costas, tento conseguir com que outras pessoas Iaam as coisas por
mim.
9. | | Eu me visto mais lentamente que o habitual por causa de minhas costas.
10. | | Eu somente Iico em pe por periodos curtos de tempo por causa de minhas costas.
11. | | Por causa de minhas costas evito me abaixar ou me ajoelhar.
12. | | Encontro diIiculdades em me levantar de uma cadeira por causa de minhas costas.
13. | | As minhas costas doem quase que o tempo todo.
14. | | Tenho diIiculdade em me virar na cama por causa das minhas costas.
15. | | Meu apetite no e muito bom por causa das dores em minhas costas.
16. | | Tenho problemas para colocar minhas meias (ou meia cala) por causa das dores em
minhas costas.
17. | | Caminho apenas curtas distncias por causa de minhas dores nas costas.
18. | | No durmo to bem por causa de minhas costas.
19. | | Por causa de minhas dores nas costas, eu me visto com ajuda de outras pessoas.
20. | | Fico sentado a maior parte do dia por causa de minhas costas.
21. | | Evito trabalhos pesados em casa por causa de minhas costas.
85
22. | | Por causa das dores em minhas costas, Iico mais irritado e mal humorado com as
pessoas do que o habitual.
23. | | Por causa de minhas costas, eu subo escadas mais vagarosamente do que o habitual.
24. | | Fico na cama a maior parte do tempo por causa de minhas costas.
86
ANEXO C - ESCALA ANALGICA DA DOR
Escala Analgica da dor
87
APNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Voc esta sendo convidado(a) como voluntario(a) a participar da pesquisa: Metodo Mckenzie
para reduo do quadro algico e ganho da amplitude de movimento em hernia de disco
lombar. O documento abaixo contem todas as inIormaes necessarias sobre a pesquisa que
estamos Iazendo. Sua colaborao neste estudo sera de muita importncia para nos, mas se
desistir a qualquer momento, isso no causara nenhum prejuizo a voc.
A 1USTIFICATIVA, OS OB1ETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: O motivo que nos
leva a estudar o problema da hernia e o grande desconIorto; reclamao de dor na regio das
costas. O que muitas vezes impede a realizao das atividades do dia-dia, a pesquisa se
justiIica pois, a tecnica de tratamento que sera aplicada no se utilizara de aparelhos e sim de
movimentos normais do proprio corpo o que proporcionara de Iorma natural uma melhor
qualidade de vida.
O objetivo desse projeto e aplicar os exercicios, Iazendo com que voc o realize com os
movimentos do seu proprio corpo, veriIicar se esses exercicios ajudaro a diminuir ou
terminar com o seu quadro de dor, e se traro outros beneIicios; como por exemplo; aumento
da sua amplitude de movimento.
O(os) procedimento(s) de coleta de dados sera da seguinte Iorma: Voc devera comparecer ao
local; Clinica de Fisioterapia da Faculdade Assis Gurgacz, na data que sera estipulada, para a
realizao da avaliao, logo apos voc respondera um questionario (Roland-Morris);
composto por perguntas simples que demonstrara como voc esta se sentindo com relao as
dores nas costas e as atividades que voc realiza ou realizou durante aquele respectivo dia.
Este questionario sera realizado no inicio, no meio e no Iinal do tratamento. Tambem sera
utilizado a (Escala Analogica de dor); ou seja uma escala graduada de 0 a 10, onde voc e
inIormado sobre a necessidade de classiIicar sua dor em notas que variam de 0 a 10, de
acordo com a intensidade da sensao. Nota zero correspondera a ausncia de dor, enquanto
nota 10 a maior intensidade imaginavel, esta tambem pode ser realizada regularmente.
Tambem utilizaremos, o Inclinmetro; um aparelho designado a identiIicar a amplitude de
movimento. Durante os atendimentos sera aplicado o metodo de tratamento Mckenzie; que e
88
uma tecnica de terapia manual que utiliza os movimentos do proprio paciente no alivio da dor
e na recuperao da Iuno.
DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFICIOS: E importante ressaltar que riscos e
desconIortos existem, embora, sejam pequenos. ReIerem-se principalmente a no diminuio
da dor, retorno da dor apos o termino da pesquisa. Sendo que as chances de beneIicios podem
ser maiores, Iacilitao do seu desempenho nas suas atividades diarias, diminuio ou termino
da dor. E as orientaes posturais sero passadas a voc; como medidas preventivas, antes
durante e apos o termino do tratamento.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE
SIGILO: Voc sera esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Voc e
livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participao a
qualquer momento. A sua participao e voluntaria e a recusa em participar no ira acarretar
qualquer penalidade ou perda de beneIicios.
O(s) pesquisador(es) ira(o) tratar a sua identidade com padres proIissionais de sigilo. Os
resultados obtidos durante este estudo sero mantidos em sigilo, mas concordo que sejam
divulgados em publicaes cientiIicas, e/ou atraves de IotograIias; desde que meus dados
pessoais e minha imagem no sejam mencionados. Uma copia deste consentimento inIormado
sera arquivada no Curso de Fisioterapia da Faculdade Assis Gurgacz e outra sera Iornecida a
voc. Apos a aprovao do Comit de Etica.
CUSTOS DA PARTICIPAO, RESSARCIMENTO: A participao no estudo no
acarretara custos para voc e no sera disponivel nenhuma compensao Iinanceira adicional.
DECLARAO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSVEL PELO
PARTICIPANTE: Eu, Iui inIormada (o)
dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas duvidas. Sei
que em qualquer momento poderei solicitar novas inIormaes e motivar minha deciso se
assim o desejar. Tambem sei que no receberei nenhuma compensao Iinanceira adicional.
Em caso de duvidas poderei chamar a estudante Gislaine Davila o(a) proIessor(a)
orientador(a) Rodrigo Daniel Genske no teleIone (45) 3321-3900 ou (45) 8801-4978. Declaro
que concordo em participar desse estudo. Recebi uma copia deste termo de consentimento
livre e esclarecido e me Ioi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas duvidas.
Cascavel, de de 2006
89
Pesquisador:
Rodrigo Daniel Genske/CREFITO-8 33565-F
Sujeito da Pesquisa/Representante Legal:
(nome e CPF)
Testemunhas: 1.
(nome e CPF)
2.
(nome e CPF)
90
Você também pode gostar
- Manual de Manutenção Mach 9Documento111 páginasManual de Manutenção Mach 9daniel_moraes100% (11)
- NBR 8194 Medidores de Água Potável - PadronizaçãoDocumento15 páginasNBR 8194 Medidores de Água Potável - PadronizaçãoJoão RabeloAinda não há avaliações
- Curso Trader Esportivo GratisDocumento22 páginasCurso Trader Esportivo GratisCaioMarcos100% (3)
- OmbroDocumento53 páginasOmbrovandocir100% (1)
- Mobilização Articular e TraçãoDocumento9 páginasMobilização Articular e TraçãoRodrigo Fernando RizziAinda não há avaliações
- Cartilha Sobre Manguito RotadorDocumento3 páginasCartilha Sobre Manguito RotadorBárbara SilvaAinda não há avaliações
- Marcha em PontasDocumento7 páginasMarcha em PontasIvo Nunes100% (1)
- Fisioterapia em AmputadosDocumento31 páginasFisioterapia em AmputadosJhosemar Ramos100% (1)
- Fisioterapia No Pos Operatorio de Fratura de Plato TibialDocumento38 páginasFisioterapia No Pos Operatorio de Fratura de Plato TibialMyrla Batista100% (1)
- Fisioterapia em Osteopatia - ProvaDocumento7 páginasFisioterapia em Osteopatia - ProvaCaius CunhaAinda não há avaliações
- Roteiro para Aula de Semiologia de OmbroDocumento18 páginasRoteiro para Aula de Semiologia de OmbrooriontheoneAinda não há avaliações
- Koos PDFDocumento5 páginasKoos PDFRogéria RibeiroAinda não há avaliações
- Logica ResolvidaDocumento20 páginasLogica ResolvidaSPI CINTAinda não há avaliações
- Selenium Medio Soble Con Driver 3Documento4 páginasSelenium Medio Soble Con Driver 3Marce FlowersAinda não há avaliações
- Istm ExameDocumento14 páginasIstm ExamePedro Rafael Afonso Afonso94% (36)
- Prevenção e Tratamento de Lesões em Ambiente Hospitalar:: Abordagem Fisioterapêutica e Multiprofissional; um Enfoque no Retorno das FunçõesNo EverandPrevenção e Tratamento de Lesões em Ambiente Hospitalar:: Abordagem Fisioterapêutica e Multiprofissional; um Enfoque no Retorno das FunçõesAinda não há avaliações
- Método Klapp pt2Documento3 páginasMétodo Klapp pt2Pedro Henrique MedeirosAinda não há avaliações
- Lesões Do Manguito RotadorDocumento11 páginasLesões Do Manguito RotadorEduarda Beatriz LambAinda não há avaliações
- ESCOLIOSEDocumento46 páginasESCOLIOSEGustavo Carneiro100% (1)
- AvallombarDocumento16 páginasAvallombarMarlene MarquesAinda não há avaliações
- Lombar PDFDocumento50 páginasLombar PDFdaniel100% (5)
- 3 - Prova de Função Muscular - CinesiologiaDocumento33 páginas3 - Prova de Função Muscular - CinesiologiaDOUGLAS ROBERTO DE SENA LINSAinda não há avaliações
- Eletroestimulacao NeurofuncionalDocumento12 páginasEletroestimulacao NeurofuncionalGustavo PernasAinda não há avaliações
- Principais Testes OrtopedicosDocumento10 páginasPrincipais Testes OrtopedicosJannes30% (1)
- Apostila Hérnia de Disco LombarDocumento7 páginasApostila Hérnia de Disco LombarAnderson FerroBem100% (1)
- Exercicios EpicondiliteDocumento3 páginasExercicios EpicondiliteoliversantiniAinda não há avaliações
- Avaliação Dos Pacientes AmputadosDocumento19 páginasAvaliação Dos Pacientes Amputadosevandracustodio6398100% (1)
- Tipos de Marchas PatológicasDocumento4 páginasTipos de Marchas PatológicasDanielaAinda não há avaliações
- Klapp, Mckenzie e WilliansDocumento6 páginasKlapp, Mckenzie e WilliansIsrael ManfrediniAinda não há avaliações
- Mobilizacao ArticularDocumento7 páginasMobilizacao ArticularJoicy Costa100% (2)
- Apostila de Radiologia Da ColunaDocumento43 páginasApostila de Radiologia Da ColunaCristopher Espinoza Otárola100% (1)
- RTM Método MaitlandDocumento13 páginasRTM Método MaitlandArtur Lino Costa100% (1)
- Resumo - Ombro e CotoveloDocumento186 páginasResumo - Ombro e CotoveloEstevão Canan100% (2)
- Manipulação e MobilizaçãoDocumento57 páginasManipulação e MobilizaçãoMaciel Henrique Lopes100% (1)
- Complexo Articular Do Tornozelo UERJDocumento64 páginasComplexo Articular Do Tornozelo UERJDino Da Silva SauroAinda não há avaliações
- Avaliação de Marcha e Postura em ReabilitaçãoDocumento112 páginasAvaliação de Marcha e Postura em ReabilitaçãoJorge LemosAinda não há avaliações
- Fisioterapia Na Lombalgia - 21007393 PDFDocumento184 páginasFisioterapia Na Lombalgia - 21007393 PDFmiltonAinda não há avaliações
- Mobilização ArticularDocumento21 páginasMobilização ArticularDiegoMüllerAinda não há avaliações
- Manipulao Da Coluna VertebralDocumento24 páginasManipulao Da Coluna VertebralRodrigo Cardoso Mousinho Fisioterapeuta ManualAinda não há avaliações
- Exame Físico JoelhoDocumento33 páginasExame Físico JoelhoTaynara Guimarães50% (4)
- Ortopedia Pediatrica Na PraticaDocumento466 páginasOrtopedia Pediatrica Na PraticaDiogo Lobo100% (1)
- Cotovelo e AntebraçoDocumento19 páginasCotovelo e Antebraçogilmachado67% (3)
- Anamnese Mtaf PDFDocumento40 páginasAnamnese Mtaf PDFAnderson Paulo100% (1)
- Anatomia e Biomecanica PéDocumento60 páginasAnatomia e Biomecanica PéSara Crespo100% (1)
- Exame Físico Do OmbroDocumento109 páginasExame Físico Do OmbroCésar Luis Hinckel100% (3)
- Patologias Da Coluna VertebralDocumento34 páginasPatologias Da Coluna VertebralCesar Odilon PereiraAinda não há avaliações
- RPG e Cadeias MuscularesDocumento34 páginasRPG e Cadeias MuscularesThiago Penna Chaves100% (4)
- Metodo KlappDocumento19 páginasMetodo KlappRodrigo Cicconi100% (1)
- Fisiot - Aplicada A Fisioterapia e Gerontologia - 04Documento43 páginasFisiot - Aplicada A Fisioterapia e Gerontologia - 04etorefisioAinda não há avaliações
- Exame Físico em OrtopediaDocumento66 páginasExame Físico em OrtopediaHelenaAinda não há avaliações
- Guia de Tratamentos para Tendinite No Ombro 2Documento26 páginasGuia de Tratamentos para Tendinite No Ombro 2Bruno Alves100% (1)
- Dor No OmbroDocumento60 páginasDor No Ombrosouza coelho100% (2)
- Artrocinética e ArtrocinemáticaDocumento23 páginasArtrocinética e ArtrocinemáticaDaphne Gilly100% (1)
- 11102018102340un 03 Ombro PDFDocumento89 páginas11102018102340un 03 Ombro PDFKelly Koehler100% (1)
- Cinesiologia CompletoDocumento48 páginasCinesiologia CompletoRafael Martins100% (5)
- Aula - Lesões, Avaliação e TTO Do Quadril, Tornozelo e Pé (Ranulfo)Documento43 páginasAula - Lesões, Avaliação e TTO Do Quadril, Tornozelo e Pé (Ranulfo)Navegantes Silva de OliveiraAinda não há avaliações
- RPG Módulo V (Final) 11-03-11 FINAL PDFDocumento43 páginasRPG Módulo V (Final) 11-03-11 FINAL PDFRodrigoVillarroelAinda não há avaliações
- Avaliaçao Postural 01Documento28 páginasAvaliaçao Postural 01Caio FigueiredoAinda não há avaliações
- Testes Especiais Modulo IDocumento29 páginasTestes Especiais Modulo IleotoneAinda não há avaliações
- A Atuação Da Fisioterapia No Tratamento de Pacientes Com Hérnia de DiscoDocumento8 páginasA Atuação Da Fisioterapia No Tratamento de Pacientes Com Hérnia de DiscoAna PaulaAinda não há avaliações
- Tudo o que você precisa saber sobre obesidade e emagrecimento: uso estratégico de exercícios físicos como forma de intervençãoNo EverandTudo o que você precisa saber sobre obesidade e emagrecimento: uso estratégico de exercícios físicos como forma de intervençãoAinda não há avaliações
- Diário do movimento: "A prática de exercícios como experiência de autoconhecimento"No EverandDiário do movimento: "A prática de exercícios como experiência de autoconhecimento"Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Que É Farmacovigilância - v1 - GráficaDocumento1 páginaO Que É Farmacovigilância - v1 - Gráficasilvia araujoAinda não há avaliações
- Leis de Newton - 9 Ano - 2022Documento4 páginasLeis de Newton - 9 Ano - 2022Bruno EduardoAinda não há avaliações
- Relato de Experiência: Explorando Os Poliedros de Platão Com o Software GeogebraDocumento1 páginaRelato de Experiência: Explorando Os Poliedros de Platão Com o Software GeogebraAna Maria ScalabrinAinda não há avaliações
- Contrato de Honorarios - IdalecioDocumento3 páginasContrato de Honorarios - Idaleciocoala de denteAinda não há avaliações
- Super Interessante 295Documento100 páginasSuper Interessante 295John DoeAinda não há avaliações
- 1643-19 Fibra ÓpticaDocumento3 páginas1643-19 Fibra ÓpticaCarlino JuniorAinda não há avaliações
- 081Documento4 páginas081Salvador Raul Diniz MalemiaAinda não há avaliações
- Estudo de Caso - A Logística de Exportação Do Suco de Laranja Na CargillDocumento4 páginasEstudo de Caso - A Logística de Exportação Do Suco de Laranja Na CargillSigmar SabinAinda não há avaliações
- FaturamentoDocumento2 páginasFaturamentoDiego TakanoAinda não há avaliações
- CDB2 - A - Pesquisar, Analisar e Organizar Conteúdos Digitais Analisar e Organizar Conteúdos DigitaisDocumento40 páginasCDB2 - A - Pesquisar, Analisar e Organizar Conteúdos Digitais Analisar e Organizar Conteúdos DigitaisEduarda MedeirosAinda não há avaliações
- Aula 3-Homestasia e FeedbacksDocumento27 páginasAula 3-Homestasia e Feedbacksana1correiaAinda não há avaliações
- MUM01 - Manual de Uso e Manutenção - TitanPlus e MDR EnergyPlus Rev5Documento16 páginasMUM01 - Manual de Uso e Manutenção - TitanPlus e MDR EnergyPlus Rev5Ruben MoyaAinda não há avaliações
- A Equipe Audiovisual e Suas AtribuiçõesDocumento12 páginasA Equipe Audiovisual e Suas AtribuiçõesAugusto SantosAinda não há avaliações
- (20240124-PT) Imobiliário PúblicoDocumento8 páginas(20240124-PT) Imobiliário Públicosofia3015Ainda não há avaliações
- Antipsicoticos AtipicosDocumento8 páginasAntipsicoticos AtipicosbeasadehAinda não há avaliações
- 8 Avaliação Cálcio, PTH e Vitamina D Parte 1 - SlideDocumento11 páginas8 Avaliação Cálcio, PTH e Vitamina D Parte 1 - SlidePollyana Furtado JunqueiraAinda não há avaliações
- Atividade 5Documento2 páginasAtividade 5Rafael Henrique Rodrigues AlvesAinda não há avaliações
- MONOGRAFIA Futlsal UPLADocumento17 páginasMONOGRAFIA Futlsal UPLAJoseph Antony Ascona MedinaAinda não há avaliações
- Portfolio Pratica Pedagogica (Etapa 3)Documento4 páginasPortfolio Pratica Pedagogica (Etapa 3)Amanda R. TillmannAinda não há avaliações
- Guia Mangá - UniversoDocumento258 páginasGuia Mangá - UniversoKelvin SousaAinda não há avaliações
- David Linhares - Bienal Internacional Da Dança No CEARáDocumento5 páginasDavid Linhares - Bienal Internacional Da Dança No CEARáalexandra de meloAinda não há avaliações
- Pobre Words NuncaDocumento6 páginasPobre Words Nuncajoaquim fernadno derafimAinda não há avaliações
- Direito Ambiental Na Constituição Federal de 1988 - 2Documento14 páginasDireito Ambiental Na Constituição Federal de 1988 - 2Jáder AraújoAinda não há avaliações
- Kpis: Tudo O Que Você Precisa Saber Sobre Os Indicadores de NegócioDocumento26 páginasKpis: Tudo O Que Você Precisa Saber Sobre Os Indicadores de NegócioLetícia - CertisignAinda não há avaliações