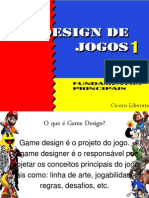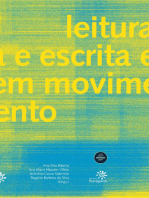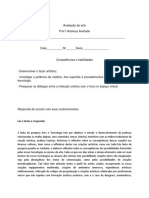Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Entre Plagio Autoria Qual Papel Da Universidade
Entre Plagio Autoria Qual Papel Da Universidade
Enviado por
pimpampum1110 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações14 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações14 páginasEntre Plagio Autoria Qual Papel Da Universidade
Entre Plagio Autoria Qual Papel Da Universidade
Enviado por
pimpampum111Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
Entre o plgio e a autoria
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 357
Plgio no universo acadmico:
a negao da autoria
Antes de mais nada, pinto pintura. E antes de mais
nada te escrevo dura escritura.
Lispector, 1980, p. 12
O que um autor? Essa foi a pergunta que fez
um dia o pensador francs Foucault. Considerando
que a funo autor sofreu variao na sua concepo
ao longo do tempo, hoje, na sociedade informtica
em que se vive, essa pergunta poderia ser repetida
com alguns acrscimos: o que um autor e como se
forma um autor no contexto de uma sociedade em que
a tecnologia digital transforma a linguagem num elo
virtual entre o homem e o mundo?
Essa uma questo relevante, uma vez que a in-
formao e os textos, nos tempos atuais, se encontram
cada vez mais mo, como um convite ao sujeito para
mergulhar nos labirintos hipertextuais, para o exerccio
e a difuso da escrita ou para forjar como seu apenas
um excerto, um pargrafo ou mesmo todo um texto,
mediante cpia no autorizada.
O fato que, historicamente, desde o ensino
fundamental universidade, se tem convivido com
a prtica de cpias de produes textuais de outrem,
de forma parcial ou total, omitindo-se a fonte. No
contexto da sociedade informatizada em que vivemos,
essas discusses tm-se acentuado, haja vista as pos-
sibilidades que se vm ampliando, pela internet, no
que diz respeito ao graduando apropriar-se de obras
protegidas por direitos autorais.
Da partiu a necessidade de compreender questes
como: de que forma os graduandos de letras, professo-
res em formao, esto apropriando-se dos hipertextos
digitais para produo de textos acadmicos? Que
concepo de plgio tm os graduandos de letras?
Como a universidade tem tratado a questo da cpia
entre esses futuros professores de lngua materna?
Na inteno de reetir sobre essas questes, rea-
lizou-se uma pesquisa de campo com 20 graduandos
de letras, professores de lngua materna em formao,
pertencentes a uma universidade pblica do estado da
Bahia. Constituiu-se campo de pesquisa um curso de
extenso semipresencial, a partir do uso de interfaces
como frum, chat, dirio e wiki (espao para realizao
Entre o plgio e a autoria: qual o papel da
universidade?
Obdlia Santana Ferraz Silva
Universidade do Estado da Bahia, campus XIV, Departamento de Educao
358
Obdlia Santana Ferraz Silva
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
de escrita colaborativa), disponibilizadas no ambiente
virtual de aprendizagem Moodle.
Constituram eixos de anlise: a produo textual,
a leitura, o plgio, a co-autoria, partindo-se dos textos
que os sujeitos construram nas seguintes interfaces: o
frum e o chat sobre leitura e escrita na internet; o chat,
espao/tempo em que se discutiu sobre plgio; o dirio,
no qual os graduandos escreveram suas experincias de
leitores/produtores de texto; e o texto colaborativo que
construram no wiki, como experincia de produo
escrita em co-autoria.
Nas interfaces frum e wiki do Moodle, os su-
jeitos produziram textos motivados pelas reexes e
discusses sobre o objeto, engendradas nos encontros
a distncia e presenciais. Tais produes textuais
escritas, juntamente com os textos orais construdos
pelos sujeitos em chats e entrevistas semi-abertas,
contriburam para a anlise crtico-reexiva e inter-
pretao sobre como os sujeitos lem e produzem
textos a partir dos hipertextos digitais. Alm disso,
lanou-se mo da observao que forneceu subsdios
para a anlise e discusso sobre como lem e escre-
vem os graduando de letras, como organizam suas
idias, como constroem conhecimentos, a partir do
hipertexto digital.
Observou-se nesse estudo que, na contemporanei-
dade, computador e internet esto fortemente presentes
na vida dos graduandos, os quais, em sua maioria,
armam utilizar hipertextos digitais para pesquisas
nos mais variados campos do conhecimento, princi-
palmente visando elaborao de trabalhos exigidos
pela universidade.
A pesquisa realizada com os referidos sujeitos
revelou indicadores slidos que evidenciam o quanto
os hipertextos digitais se vm tornando a maior fonte
de busca de informaes e conhecimentos entre eles,
seja para solucionar problemas referentes falta de
tempo, seja para dar-lhes embasamento terico. Assim,
na fala dos participantes os textos da internet lhes so
teis pelos seguintes motivos:
para suprir a falta de tempo para exaustivas
pesquisas bibliogrcas;
pela variedade de opes oferecidas pelos links;
como suporte para melhoria na construo dos
argumentos;
embasamento terico para ajudar na concre-
tizao de alguns trabalhos;
para esclarecimento de dvidas em relao a
determinados contedos;
para facilitar as atividades acadmicas;
para suprir a falta de livros na biblioteca da
universidade.
Desse modo, na busca por caminhos mais f-
ceis e mais velozes, e tendo como aliada a natureza
aparentemente pblica do contedo on-line, alm da
disponibilidade/acessibilidade dos hipertextos digitais,
na universidade essa prtica tem-se dado de forma
mais abrangente e acentuada, haja vista a velocidade
na transmisso das informaes cruas ou renadas
e a grande quantidade de textos/obras disposio
do leitor na internet: Fica difcil no plagiar com
tantas oportunidades (GB), declara um graduando
envolvido na pesquisa. Tal fato vem potencializando
esse clssico problema no espao acadmico: o plgio,
como apropriao de linguagem e de idias do outro;
caracterizando violao da propriedade intelectual.
De acordo com Fonseca:
O plgio se caracteriza com a apropriao ou expropria-
o de direitos intelectuais. O termo plgio vem do latim
plagiarius, um abdutor de plagiare, ou seja, roubar
[...]. A expropriao do texto de um outro autor e a apresen-
tao desse texto como sendo de cunho prprio caracterizam
um plgio e, segundo a Lei de Direitos Autorais, 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, considerada violao grave
propriedade intelectual e aos direitos autorais, alm de
agredir frontalmente a tica e ofender a moral acadmica.
(Fonseca, s.d.)
pertinente lembrar aqui que a concepo de
plgio sofreu mudanas, de acordo com o momento
histrico e as condies sociais de cada poca. Assim,
dentro de um determinado contexto, passa a ser acei-
tvel e inevitvel:
Entre o plgio e a autoria
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 359
Antes do Iluminismo, o plgio tinha sua utilidade na
disseminao das idias. Um poeta ingls podia se apropriar
de um soneto de Petrarca, traduzi-lo e dizer que era seu. De
acordo com a esttica clssica da arte enquanto imitao,
esta era uma prtica perfeitamente aceitvel. O verdadeiro
valor dessa atividade estava mais na disseminao da obra
para regies onde de outra forma ela provavelmente no teria
aparecido, do que no fortalecimento da esttica clssica. As
obras de plagiadores ingleses como Chaucer, Shakespeare,
Spenser, Sterne, Coleridge e De Quincey ainda so uma parte
vital da tradio inglesa e continuam a fazer parte do cnone
literrio at hoje. (Critical Art Ensemble, 2001, p. 83-84)
Na obra Distrbio eletrnico,
1
os autores armam
que o plgio, no sentido em que se almeja abordar
aqui, talvez seja algo muito caracterstico da cultura
ps-livro, tendo em vista a atual economia da infor-
mao/conhecimento que se congura a partir do
surgimento da internet e o manuseio constante e rpido
do hipertexto,
2
que veio apenas expor vista, com a
cultura digital, aquilo que a cultura do papel sempre
deixou na obscuridade.
Ademais, o carter de descontinuidade conferido
ao texto no espao digital torna-o livre de convenes.
E nesse movimento descontnuo, nessa constante
navegao por entremeios de palavras e frases, entre-
laadas por alinhavos e arremates, que o sujeito corre
o risco de naufragar, dissimulando-se como produtor
da linguagem, enquanto o plgio vai revelando sua
atemporalidade, ao passo que assume propores no-
tveis e instigantes nos tempos atuais, principalmente
no contexto acadmico, como armam os sujeitos, na
discusso feita no chat sobre plgio:
1
Obra de autoria do Critical Art Ensemble, grupo de cinco
artistas cujos trabalhos discutem a relao entre arte, tecnologia e
poltica, alm de promover, atualmente, debate sobre as estratgias
obscuras utilizadas pela indstria da biotecnologia, cujo poder de
transformao social to imenso mas que, no entanto, carece de
discusses abertas sobre o assunto.
2
Rede de ns de imagens, sons ou textos, cuja congurao
permite uma leitura no-linear e inter-relacionada (Lvy, 1993).
[...] Eu sou sincero. Plagiei semestre passado [...] eu sei que
no o caminho correto, mas desde q no seja prejudicial
na minha construo do conhecimento. Aconteceu em uma
disciplina que no considerava importante para mim, j que
o curso de letras muito abrangente e ento sei o q de meu
interesse, o que acredito que seja de importncia para mim
e devo tentar aperfeioar-me; o que no era a disciplina na
qual plagiei da net. (JL)
3
Isso n quer dizer que s faremos copias [...] Cpia s
ser no momento de muita preciso [...]. Ser que no mundo
desde os primrdios nada foi copiado? Tudo tem seu formato
original? (DO)
Essas so falas/escritas que fazem parte de uma
discusso sobre o plgio na universidade, realizada por
meio de entrevista com 19 dos 20 sujeitos graduan-
dos de letras envolvidos numa pesquisa de campo de
cunho qualitativo. A anlise dos argumentos desses
sujeitos revelou que 36,84% assumem claramente j
terem cometido plgio de textos; 21% plagiam, mas
no assumem claramente; 41,1% dizem no ser a
favor do plgio.
Vale ressaltar que, apesar de este estudo referir-se
ao plgio na rea de letras, espao em que ainda pouco
se discute sobre o assunto, a ao de copiar como
violao da honestidade acadmica e intelectual e
as relaes que se estabelecem a partir dessa prtica
vm sendo analisadas com seriedade por outras reas
na comunidade acadmico-cientca por exemplo,
na rea de direito, cincias biolgicas e sade e pelas
agncias de fomento pesquisa, alm de serem bas-
tante difundidas entre pesquisadores de vrios pases
(Vasconcelos, 2007).
Em virtude dessa realidade, acredita-se ser rele-
vante pensar-se em projetos/aes que estimulem o
exerccio da construo da autoria/autonomia na uni-
3
Essa declarao como outras falas/escritas de graduandos
envolvidos no estudo foi postada num chat de discusso sobre
plgio e est transcrita, reproduzindo as caractersticas prprias
da comunicao sncrona no ambiente on-line, como a falta de
acentuao das palavras ou o uso de abreviaes.
360
Obdlia Santana Ferraz Silva
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
versidade. Torna-se vital a reexo sobre a prtica do
plgio entre os graduandos, professores em formao,
visto ser esse um problema que tem tomado propor-
es crticas, pois roubar de si mesmo a possibilidade
de um outro pensar, da inventividade, um preo muito
caro que o sujeito tem a pagar.
Entende-se aqui que as criaes humanas se tm
construdo sobre a soma total de vozes anteriores,
pois, como diz Joo Cabral de Melo Neto, Um galo
sozinho no tece uma manh: / ele precisar sempre
de outros galos. / De um que apanhe esse grito que
ele / e o lance a outro; de um outro galo que apanhe
o grito que um galo antes / e o lance a outro (Melo
Neto, 2005). nesse sentido que todo texto mantm
relao com outros textos, dos quais nasce e para
os quais aponta. Todo dizer singular atravessado
por muitas vozes. Barthes (1992) convida tambm
a pensar na intertextualidade quando prope que se
oua o texto como uma troca que espelha mltiplas
vozes (p. 73).
Assim, do ponto de vista da intertextualidade,
que relaciona as mais diversas formas de linguagem e
escrita, todo texto um palimpsesto (Genette, 1982).
4
Essa idia leva compreenso de que qualquer ato
de escrita se d na presena de outro. No hipertexto,
essa noo de intertexto atualizada nas expresses
metafricas como rede, trama e teia digitais, a partir
das quais um texto se liga a innitos outros textos,
num ir e vir de signicados plurais. O hipertexto abre
caminhos para a leitura e a escrita intertextuais, uma
vez que, por seus links, amplia possibilidades de in-
tertextualidade a partir do dilogo entre textos, como
lembra Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p. 121):
[...] as co-incidncias de fragmentos de textos se
4
O autor, no livro Palimpsestes, explica que o uso de escre-
ver-se em pergaminhos fez com que o couro de animais utilizado
para a escrita fosse muitas vezes reaproveitado, apagando-se a
escrita antiga para sobre ela colocar-se a nova escritura. Era o pa-
limpsesto, no qual a nova escritura recobrindo a escritura anterior
deixava entrever os traos da primeira. Da vem a denominao
palimpsesto para os textos escritos em cima de outros, retomando-
os e revelando-os nessa retomada.
constroem pela insero no texto da voz de um outro
locutor [...].
A intertextualidade, no hipertexto, implica a
identicao, o reconhecimento de remisses a obras
ou a textos, por meio de links que fazem conexes
com outros textos, permitindo tecer caminhos para
outras janelas. Est relacionada, ainda, caracterstica
de no-fechamento do hipertexto digital, que possui
permanente abertura do texto ao exterior, sempre em
constante mutao e expanso, estimulando o leitor a
iniciar a leitura de um novo texto sem ter concludo
o anterior.
Considera-se, nessa perspectiva, que a interpre-
tao de um texto no pode ser exclusivamente de
quem o teceu, assim como quem escreve um texto
no ser nunca seu autor soberano: o discurso nunca
constitudo de uma nica voz; polifnico, gerado
por muitas vozes, muitos textos que se cruzam e se
entrecruzam no espao e no tempo; resultado que ui
para dentro do leitor, passando a fazer parte da sua
fala, de seus textos.
Essa uma concepo que difere do plgio,
aqui entendido como apropriao indevida de um
texto ou parte dele, sem referncia ao autor, portanto
apresentado como sendo de autoria da pessoa que
dele se apodera.
Desse modo, o dilogo que se tenta manter nesse
texto, como um chamado reexo, no se apia no
imprio do autor, mas na preservao da sua intelec-
tualidade; na autoria que [...] se realiza toda vez que
o produtor da linguagem se representa na origem, pro-
duzindo um texto com unidade, coerncia, progresso,
no-contradio e m (Orlandi, 2004, p. 69).
Nesse sentido, esta discusso volta-se para o
espao educacional e suas condies de fomento
criao, produo, autonomia do sujeito/leitor
para transformar-se num autor/co-autor, entendendo
que o sujeito s se faz autor se o que ele produz for
interpretvel (idem, p. 70).
Destaca-se, nesse contexto, o espao acadmico,
onde, revelia do professor no nal do semestre
cheguei a fazer um trabalho que 90% dele era cpia e
tirei 9,5 confessa um graduando com risos, em entre-
Entre o plgio e a autoria
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 361
vista , a cpia de textos de outrem, isto , o plgio,
tornou-se prtica constante e um dos motivos expostos
pelos graduandos a falta de tempo pelo acmulo
de atividades exigidas pelos professores. Sobre essa
prtica, explica Schneider (1990):
No sentido moral, o plgio designa um comportamen-
to reetido que visa o emprego dos esforos alheios e a
apropriao fraudulenta dos resultados intelectuais de seu
trabalho. Em seu sentido estrito, o plgio se distingue da
criptomnsia, esquecimento inconsciente das fontes, ou da
inuncia involuntria, pelo carter consciente do emprsti-
mo e da omisso das fontes. desonesto plagiar. O plagirio
sabe que o que faz no se faz. (p. 47-48)
Entende-se que nesse sentido que vem ocorren-
do o ato de copiar no espao acadmico. Assim, em
detrimento da construo do conhecimento que seria
proporcionada pelo ato de pesquisa, com nalidade e
objetivos, os graduandos, agora mais estimulados pela
facilidade de transitar na tela em busca de informao,
terminam por cometer, de acordo com Garschagen
(s.d.), trs tipos de plgio:
plgio integral a transcrio sem citao da
fonte de um texto completo;
plgio parcial cpia de algumas frases ou
pargrafos de diversas fontes diferentes, para
dicultar a identicao;
plgio conceitual apropriao de um ou v-
rios conceitos, ou de uma teoria, que o aluno
apresenta como se fosse seu.
A prtica de plagiar existe h muito tempo, bem
antes da internet; mas com ela esse ato torna-se uma
possibilidade aberta ao innito. O fato que a prati-
cidade, a economia e a velocidade que os textos digi-
tais oferecem e que deveriam estimular um pensar
diferenciado, uma sede de saber, em busca de novos
conhecimentos tm contribudo para potencializar
essa ao dentro da universidade, quando ao aluno
proposto construir textos como resumo, resenha, arti-
gos, entre outros. O transitar na constante busca de in-
formaes na internet tem-se convertido na compulso
do simples clicar desordenadamente; o graduando tem
revelado um agir impulsivo, de movimentos impensa-
dos, sem a necessria sistematizao que deve estar
fundamentada em objetivos de busca no processo de
aprendizagem, relacionando tica, esttica e tcnica.
Como explicam Blattmann e Fragoso:
Como linha mestra para criar e manter a sintonia entre
os elos est o uso de tica, esttica e tcnica. Na tica, ao
observar os critrios de direitos autorais, conhecer as nor-
mas de editoras e, principalmente, respeitar as polticas de
privacidade. A esttica une o belo e a harmonia. Enquanto
a tcnica introduz a prtica, a teoria e aplicao de procedi-
mentos e recursos disponveis. (2003, p. 62-63)
Acredita-se que as experincias vivenciadas
com/no texto digital devam ser conduzidas dentro
da universidade de modo que os professores, ao
contrrio de ignorar a apropriao/expropriao de
textos, que acontece com muita freqncia entre os
graduandos, possam implementar aes que venham
a convergir para um novo paradigma no aprendizado
e, assim, convidem o sujeito aprendente parti-
cipao num processo interativo, tico, com uma
dimenso esttica que j prpria da linguagem e
da humanidade.
Nesse processo, ele precisa ser ativo, ultrapas-
sar a fronteiras do transmitido, fugir das margens
da timidez, enm, gerar autonomia no processo de
comunicao e de aprendizagem, o que o permitir
desenvolver seu senso de criatividade e mergulhar no
espao virtual innito que a imaginao.
Pode parecer, no entanto, que no h aspectos
novos a serem tratados a respeito dessa temtica.
Mas fato que essa discusso sempre se impe e se
descreve no cenrio educacional por novos pontos de
vista, uma vez que a histria no gagueja nem caduca,
mas renova-se. Ademais, O novo no est no que
dito, mas no acontecimento de sua volta (Foucault,
2005, p. 26). Ento, a questo da formao do sujeito
leitor/produtor de texto, com autonomia para lidar e
apropriar-se do conhecimento, sempre preterida no
362
Obdlia Santana Ferraz Silva
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
espao escolar, da educao bsica universidade,
sempre se apresenta com vestimentas multifacetadas,
olhares diversicados, diferentes vertentes, gerando
sentimento de eterno recomeo.
A construo do sujeito leitor/autor na escola
que agora sinto necessidade de palavras e novo
para mim o que escrevo, porque minha verdadeira palavra
foi at agora intocada.
Lispector, 1980, p. 10
Voltando o olhar para a maneira como a escola
tem tratado a leitura e a escrita, e o modo pelo qual
essas prticas esto postas na sociedade industrializa-
da, informatizada, midiatizada, percebe-se a distncia
enorme e bastante inquietante entre essas margens,
e o quanto a escola, com suas pseudo-atividades de
leitura no reexiva e desconectada com a vida, cassou
a autoridade do leitor/produtor de textos.
A leitura escolar articial, praticada por meios de
texto fabricados para se fazer ler, enquanto a leitura social
autntica, praticada em situaes onde o leitor sabe por
que ele precisa ler. A leitura escolar arcaica, veculo das
representaes do mundo que esto ultrapassadas, enquanto
a leitura social se prende atualidade, realidade motriz
do mundo contemporneo. A leitura escolar uma leitura
congelada, ritualizada, repetitiva, que impe a todo mundo
as mesmas maneiras de se ler [...], ao passo que a leitura
praticada na sociedade uma leitura individual, visual,
rpida, onde cada qual pode ler como quiser e o que quiser
em funo de seus interesses prprios e do tempo de que
dispe. (Chartier, 1994, p. 155)
Ento compreende-se que a escola apenas forjou
leitores e produtores de textos, nas bases de uma lei-
turizao (Senna, 2000) de efeitos paradoxais, pois,
em vez de contribuir para a formao de sujeitos da
pesquisa que tomam a palavra de uma posio autori-
zada, passam a seres apticos, reprodutores de saberes
produzidos por outrem, isto , fracassados intelectual-
mente, plagiadores. No pensamento de alguns sujeitos
envolvidos na pesquisa, a escola tem sido conivente
com essa situao:
Fomos acostumados desde as sries iniciais a fazer os
nossos trabalhos copiando na ntegra textos de livros e en-
ciclopdias, e isso sempre foi aceitvel pelos nossos profes-
sores. Entramos na universidade ainda com essa conscincia
reduzida, motivada pela cultura da cpia, que nos foi pregada
durante toda a vida escolar, e nesse ambiente entramos em
contato com outro meio da pesquisa ainda mais dinmico
e rpido que os livros, a internet. E no contato com esse
novo artifcio que nos deslumbramos com as mltiplas
possibilidades e a facilidade que ela nos proporciona e
nesse momento que muitos estudantes acadmicos fazem
o uso errneo dessa tecnologia. (MM)
Em contrapartida, o contexto em que vivemos
exige a formao de um aluno que, distando do lugar
comum, seja sujeito-autor atuante, crtico, autnomo
e interventor, capaz de, a partir da sua autoria, inter-
pretar e analisar a realidade, retirando-se da condio
de sujeito acomodado e reprodutor de modelos textu-
ais para um sujeito capaz e consciente do seu dizer/
escrever. Para isso, segundo Orlandi (2001), a escola
deve engendrar prticas que possam desenvolver no
sujeito aprendente os mecanismos que entram em jogo
no momento em que ele escreve, quais sejam:
a) Mecanismos do domnio do processo discur-
sivo, no qual ele se constitui como autor.
b) Mecanismos do domnio dos processos tex-
tuais nos quais ele marca sua prtica de autor.
(p. 80)
Se por muito tempo a escola privilegiava a
transmisso dos conhecimentos adquiridos por ge-
raes passadas e treinava o aluno para submeter-se
autoridade do professor, no contexto atual, em que
o professor no mais detentor do saber e da infor-
mao nem alunos podem ser meros receptores de
contedos j que as informaes, principalmente na
internet, esto ao alcance de todos, numa relao que
se d na forma de comunicao direta e transversal
Entre o plgio e a autoria
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 363
todos-todos (Lvy, 1996, p. 112) , urge a quebra
de paradigmas e a mudana da postura pedaggica
autoritria para uma abertura a outros possveis, que
conduzam o sujeito-aprendente na busca da construo
de novos saberes e conhecimentos.
No obstante, percebe-se que as propostas de pro-
duo sempre foram (e ainda so!) transformadas, pela
lgica escolar, em textos para serem corrigidos para
uma nota e no para socializao do conhecimento e
divulgao cientca. Portanto, no espao e no tempo,
a escola distanciou-se do objetivo de formar autores,
no sentido j explicitado; isto , sujeitos autnomos,
que se responsabilizem pelo seu dizer/escrever; que
possuam autoria; um eu que se assume como pro-
dutor de linguagem e, nesse sentido, confere voz
sua identidade.
Mas a construo do autor no se d sem a for-
mao do leitor, visto que sua competncia discursiva
depende das histrias de leitura do sujeito, a m de
que se constitua, de fato, co-autor de textos lidos e
produzidos. E, na escola, a leitura sempre gurou
como tarefa obrigatria, mecnica, que estimulava
o aluno cpia de textos dos livros (reproduo no
autorizada, apropriao indevida, plgio), j que as
prticas de ler/escrever no propiciavam ao aluno
reetir sobre o que liam/escreviam nem aprender a
decidir por si mesmo, visto que seguiam sempre um
modelo de leitura/escrita preestabelecido.
Na escola [...] o trabalho com a leitura remete-se ao uso
do texto como pretexto para o estudo da gramtica e con-
cepo redutora de texto que o v como uma somatria de
frases. A esse ponto de vista acresce-se uma viso da leitura
como decodicao de contedos que devero ser avaliados
pelo professor. (Matencio, 2002, p. 38-39)
A escola, na maioria das vezes, tem pensado a
escrita como prtica estritamente escolar, cristalizada,
sempre reforada pelos exerccios escolares e provas
que enfatizam a memorizao, seqncia e hierarqui-
zao de contedos, modelos, receitas. E fato que
a prtica pedaggica sempre repetitiva e reprodutora
adotada pela escola ocasionou a baixa auto-estima do
sujeito/leitor/produtor de textos e a prtica da escrita
reduziu-se ao ato pedaggico de reproduzir, copiar,
negando ao aluno a possibilidade de assumir-se como
sujeito-autor: d-se a repetio do dito lateral dos
livros e do mestre! Da, vale a pena lembrar Orlandi
(2001), quando diz que a escola no forma escrito-
res; o escritor se faz na vida, sem receita [...] a escola
no ultrapassa a formao da mdia; o essencial no
aprendido na escola; escola e criao no vivem
juntas etc. (p. 75).
Na verdade, quando se fala em produo de texto
na escola, reporta-se aqui formao do autor e no
formao do escritor, pois esse no um compromisso
da escola, embora o autor seja formado no apenas
na escola, mas fora dos seus limites tambm, o que
signica que a escola um espao muito proveitoso
no que se refere contribuio que pode dar na for-
mao do sujeito-autor, mas no l o nico contexto
em que a constituio da autoria se d. Com relao
formao do autor na escola, Orlandi (2001) declara
ainda que:
[...] a escola necessria, embora no suciente, uma vez
que a relao com o fora da escola tambm constitui a
experincia da autoria. De toda forma, a escola, enquanto
lugar de reexo, um lugar fundamental para a elaborao
dessa experincia, a da autoria, na relao com a linguagem.
(p. 82)
Ocorre que, mesmo fora da escola, os sujeitos-
leitores terminam por internalizar os rituais coercitivos
da leitura e da escrita nela vivenciados, vincados que
so pelas experincias construdas nas suas andanas
discursivas pelos caminhos da escola.
Ento, da educao bsica universidade, quan-
do desaados a produzir textos, trilham em busca de
vozes que indiquem caminhos e/ou conrmem suas
opes, mas terminam por apropriar-se de uma forma
de dizer/escrever na qual no se do ao direito e ao
prazer de escolher, selecionar, organizar e decidir sobre
o contedo temtico a ser tecido. No imprimem no
texto um estilo pessoal; esvazia-o da sua existncia
concreta.
364
Obdlia Santana Ferraz Silva
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
Ademais, relevante salientar que, para alm
das questes ticas do plgio, a aprendizagem resul-
tante de um processo que no reivindica a prtica da
linguagem como o condutor do processo de ensino-
aprendizagem (Geraldi, 1997, p. 192) ou supercial
ou inexistente; e o sujeito vai encolhendo-se por
entre as margens do cruel, grotesco e risvel sistema
excludente que est sempre a arremess-lo para os
bastidores do currculo o lado encoberto, oculto, as
zonas no confrontadas dos dilemas, das incertezas e,
conseqentemente, da sociedade.
A constituio da autoria: um exerccio de
autonomia e conscincia do outro
O menino aprendeu a usar as palavras.
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras.
E comeou a fazer peraltagens.
Barros, 2001, p. 13
Os versos de Barros sugerem que, para constituir
autores, as peraltagens com as palavras so essenciais
desde o primeiro momento em que o menino ou a me-
nina comeam a sentar-se nos bancos da escola. Mas se
nas sries da educao bsica o exerccio da produo
de texto no potencializado, na universidade esse
espao de construo da escrita como possibilidade da
constituio da autoria ainda extremamente limitado.
No entanto, urgente criar um espao nos entre-luga-
res da academia onde geralmente se do os embates
e as ambivalncias que engendre a constituio da
autoria, pois a est o trip que sustentar a escrita
no espao acadmico, no qual podero e devero se
estabelecer as relaes necessrias construo de
textos pelo aprendente, este como sujeito do desejo
que, ao enxergar-se como autor, institui, no mesmo
ato, o leitor.
Voltando instigante pergunta de Foucault
(1992), o que um autor?, ele mesmo responde que
a noo de autor constitui o momento forte da indivi-
dualizao na histria das idias, dos conhecimentos,
das literaturas, na histria da losoa tambm e na
das cincias (p. 33). Dialogando com Bakhtin (2003),
entende-se ento que o autor o sujeito capaz de criar
discursos com sentido, a partir da tessitura de palavras
e teorias construdas no seu meio social e cultural.
Compreende-se que pelo ato criador da escrita
que o sujeito se insere nesse meio sociocultural; pelo
ato da escrita, ele autoriza-se a examinar, avaliar,
expressar ou silenciar; nesse silncio (o no-dito),
ele abre espao para a presena do outro, seu interlo-
cutor, pois o autor no realiza jamais o fechamento
completo do texto, visto que aparecem [...] ao longo
do texto pontos de deriva possveis, oferecendo lugar
interpretao, ao equvoco, ao trabalho da histria
da lngua (Orlandi, 2004, p. 77).
Ao mesmo tempo em que o sujeito escreve, tece
o seu texto (tarefa rdua, mas necessria!), descobre
seu mtodo prprio de dizer e signicar o mundo; nele,
mostra-se, expe-se luz do seu prprio discurso;
forja seu eu, revela-se nas palavras: palavra e sujeito
misturam-se. Dessa tarefa rdua e necessria, que
escrever, assim diz Lispector:
Olha, eu trabalhava e tive que descobrir meu mtodo
sozinha. No tinha conhecido ningum ainda. Me ocorriam
idias e eu sempre me dizia: T bem. Amanh de manh
eu escrevo. Sem perceber que, em mim, fundo e forma
uma coisa s. J vem a frase feita. Enquanto eu deixava
para amanh, continuava o desespero toda manh diante
do papel branco. E a idia? No tinha mais. Ento eu resolvi
tomar nota de tudo que me ocorria. (apud Periss, s.d.)
Ento, considera-se que o sujeito ao escrever
inscreve-se tambm nas entrelinhas do seu texto, traa
seu perl na textura do seu dizer, a sua identidade;
nele, fundo e forma confundem-se e fundem-se. Dessa
maneira, seguindo as pegadas do ato de escrever do
sujeito, poder-se- perceb-lo no dito e no no-dito da
sua escritura, em que deixa suas nuanas, suas marcas,
constituindo-se como autor. No seu dizer, est a sua
imagem-corpo, ali, no texto interposto: [...] o sujeito
est, de alguma forma, inscrito no texto que produz
(Orlandi, 2001, p. 76).
A autoria aqui referida nas suas dimenses
criativa, histrico-social e tico-poltica; como exer-
Entre o plgio e a autoria
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 365
ccio de autonomia, possibilidade de autoproduo;
pertencimento e responsabilidade por aquilo que se
cria: h um eu que se revela produtor de linguagem
(idem). Decerto a universidade ainda precisa construir
esse espao e o professor precisar aperceber-se dessa
necessidade com certa urgncia: Bom, confesso que
venho produzindo pouco ultimamente, pois nosso
trabalho com produo de textos menor (JL).
Nessa perspectiva, cada vez que a universidade
ignora a necessidade da viabilizao de projetos que
engendrem prticas de leitura/escrita com vistas
construo da autonomia do aluno para responder pelo
que diz e pelo que escreve, leva-o no-conscincia
do outro, negao da autoria, da identidade do outro;
e, conseqentemente, a seu silenciamento como autor,
forjando o plagiador que:
[...] cala a voz do outro que ele retoma [...], toma o lugar
do outro indevidamente, intervm no movimento que faz a
histria, a trajetria dos sentidos (nega o percurso j feito) e
nos processos de identicao (nega a identidade ao outro,
e, em conseqncia, trapaceia com a prpria). (Orlandi,
2004, p. 72)
De outra forma, entende-se que, ao mesmo tempo
que se inscreve, o autor tambm se apaga, conside-
rando que todo texto reescrito no tempo da leitura e
todos os discursos que so providos da funo autor
comportam a pluralidade de eus (Foucault, 1992).
A marca do autor-criador revela-se no que o
sujeito produz e na forma como ele organiza sua fala
e escrita num dado contexto. Seu texto vai sempre
se constituir da tenso com outras vozes sociais. De
acordo com Orlandi (2001),
Para que o sujeito se coloque como autor, ele tem de es-
tabelecer uma relao com a exterioridade, ao mesmo tempo
que se remete sua prpria interioridade: ele constri assim
sua identidade como autor. Isto , ele aprende a assumir o
papel de autor e aquilo que ele implica. (p. 78-79)
Em tempos de novos desdobramentos tecnol-
gicos e sociais da escrita, a constituio da autoria
certamente redesenhada, ressignicada, implicando
outras possibilidades sociais e cognitivas, revelando
a emergncia de que, pelo menos no espao acadmi-
co esse como potencializador de criatividade , se
engendrem novas possibilidades de exerccio de auto-
ria, porque, de acordo com Barthes (1992), preciso
que se faa do leitor no apenas um consumidor de
textos, mas algum que tambm produz.
Para tanto, faz-se necessria uma recongurao
na forma como o graduando se torna sujeito da escrita
ou como a ela se assujeita; que ele possa assumir uma
nova posio diante da escrita: a de sujeito do conheci-
mento, que, ao participar intensamente, expondo suas
idias, possa tambm valorizar a produo intelectual
do outro. Pois,
[...] no capital intelectual, o mrito de ser autntico dife-
renciado do de ser plagiador. Deve ser criada e estimulada
uma cultura de respeito penetrada nas amplas esferas (pes-
soais, educacionais e prossionais) em identicar tanto a
obra como o artista. Regra geral: leu, gostou, use e cite!
(Blattmann & Fragoso, 2003, p. 61)
Ao falar de autoria, no se pode esquecer de que,
no contexto da sociedade informtica e na era do co-
nhecimento, tm ocorrido mudanas de paradigmas
com relao a novos valores, novas organizaes na
educao e na sociedade, nas instncias pessoal, so-
cial, poltica e educacional. Desse conjunto de trans-
formaes emerge um novo espao de leitura/escrita
que exige outras competncias, relaes, interaes e
papis, propondo assim reetir sobre as concepes
de autoria e autonomia: o hipertexto.
No contexto atual, o (hiper)texto congura-se
como um espao de leitura e escrita sem margens e
sem fronteiras, que exige a reviso das estratgias de
lidar com o escrito, constituindo-se num movimento
que implica exerccio de contnuo agir para a busca
de novos saberes, exigindo posicionamento crtico,
indagaes e solues para os desaos que incessan-
temente se apresentam.
Construdo na interao texto-sujeitos, o hiper-
texto dialetiza a distino entre texto de leitor e texto
366
Obdlia Santana Ferraz Silva
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
de escritor, bem como a subverso dessa relao. Co-
enunciador, co-autor, o leitor pode decidir o rumo de
sua leitura, recriar seu texto individual, elegendo links
entre os vrios disponveis.
Xavier (2004) traz um conceito de hipertexto
como tecnologia de leitura e escrita que medeia as
relaes do sujeito na sociedade da informao:
Na esteira da leitura do mundo pela palavra, vemos emer-
gir uma tecnologia de linguagem cujo espao de apreenso
de sentido no apenas composto por palavras, mas, junto
com elas, encontramos sons, grcos e diagramas, todos
lanados sobre uma mesma superfcie perceptual, amalga-
mados uns sobre os outros formando um todo signicativo
[...]. assim o hipertexto. Com ele, ler o mundo tornou-se
virtualmente possvel, haja vista que sua natureza imaterial
o faz ubquo por permitir que seja acessado em qualquer
parte do planeta, a qualquer hora do dia e por mais de um
leitor simultaneamente. (p. 171)
A construo hipertextual presentica os textos
com os quais o autor dialoga, que, em uma obra im-
pressa, geralmente esto apenas intudos. Assim, na
medida em que o hipertexto gera associaes com
outras leituras, nele a relao de intertextualidade
uma constante e concretiza-se na interao entre os
vrios textos de signos diferentes. Como enuncia
Ramal (2002), a idia da intertextualidade permite
pensar no dilogo entre pocas diferentes e entre
diversos pontos de vista. No se trata de negar o
passado nas vozes do futuro, mas sim encontrar
pontos de contato, plurivocidades que se enriqueam
mutuamente (p. 126).
Nesse espao o sujeito leitor necessariamente
chamado a estabelecer objetivos, tomar decises, tecer
por entre metforas de rede, de rizomas, desenvolven-
do estratgias de controle e regulamento do prprio
conhecimento.
Assim sendo, o papel do sujeito-autor nesse
contexto extrapola os muros da escola; deve estar
relacionado ao papel que representa na sociedade
em que est inserido. A autoria est relacionada ao
aprender a colocar-se: Aprender a se colocar
aqui: representar como autor assumir, diante da
instituio escolar e fora dela (nas outras instncias
institucionais) esse papel social, na sua relao com a
linguagem; constituir-se e mostrar-se autor (Orlandi,
2001, p. 79).
Urge ento recongurar, dentro da academia, as
concepes de pesquisa, leitura, produo e autoria;
e, viabilizando mudanas mais profundas em aten-
dimento a essas demandas to urgentes, estimular
criaes na comunidade acadmica que possam
contribuir com os graduandos no desdobramento de
vnculos motivadores do desenvolvimento intelec-
tual, social e educacional. De acordo com Palacio
(2006),
[...] o problema, evidentemente, no novo, pois no se
circunscreve ao mbito telemtico. Com efeito, ensinar
a um jovem pesquisador como validar suas fontes, como
avali-las, como buscar e identicar a informao con-
vel, talvez uma das primeiras e mais importantes tarefas
daqueles que se dedicam a formar recursos humanos nesta
rea. Se tais questes sempre estiveram colocadas e gera-
vam preocupaes com respeito pesquisa conduzida em
moldes tradicionais, com mais fora elas se colocam no
mbito da pesquisa on-line, com a manuteno de antigos
problemas e o surgimento de novos. No se pode, claro,
ensinar bom-senso e experincia, mas alguns balizadores
podem ser estabelecidos, facilitando a tarefa de validao
da informao disponibilizada.
Dessa forma, dada a possibilidade de acesso ao
texto na internet e sua modicao no ambiente
digital, voltar o olhar para o problema do plgio na
universidade torna-se ponto-chave, visto ser l o lugar
onde a produtividade e o conhecimento devem ser
calcados na autoria/autonomia.
(In)Concluses: muitos os por tecer
Tudo acaba mas o que te escrevo continua. O que
bom, muito bom. O melhor ainda no foi escrito.
O melhor est nas entrelinhas.
Lispector, 1980, p. 96
Entre o plgio e a autoria
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 367
Compreende-se, a partir do exposto, que a discus-
so sobre a constituio do autor no espao acadmico
continua sempre aberta, j que um o puxa o outro;
os conituosos, porquanto tambm conituoso
e complexo o problema da autoria na universidade:
construir prticas em que a voz e a funo do autor se
concretizem , nos tempos atuais, com tantos textos
disponibilizados pela internet, um desao que se im-
pe e se prope aos professores.
Por conta disso, h mesmo urgncia em imple-
mentar aes/modicaes com relao prtica de
produo de texto na universidade, a m de que essas
produes, cumprindo sua funo social, possam ser
socializadas, na forma de comunicaes em congres-
sos, seminrios; possam reverter-se em artigos para
publicao em peridicos especializados ou em livros.
Para os graduandos, est clara a necessidade que tm
de ser reconhecidos pela competncia discursiva,
pela capacidade de produo do conhecimento, como
escreve um dos graduandos, no frum de discusso
sobre leitura e escrita:
Uma coisa realmente deve car claro, os estudantes
da universidade fazem o plgio conscientemente. Sabem
que no devem, mas so seduzidos pela facilidade em
conseguir um bom trabalho com o menor esforo. Porm,
nada se compara ao prazer de se produzir um trabalho e ser
reconhecido por aquilo que voc foi capaz de fazer. Isso
no tem preo!!! (CS)
Nesse sentido, a internet, em vez der ser vislum-
brada apenas como meio facilitador do plgio, poder
constituir-se em lcus para que a inventividade, a
iniciativa, a reexo e a construo da identidade
do graduando como autor possam ser exploradas,
incentivando-o a construir situaes em que se instaure
a produo do conhecimento e, conseqentemente, o
processo de autoria, no qual o sujeito vai contribuir
com suas palavras; sua voz ressoar no texto dizer
ser e, pela atividade da linguagem, assumir,
assim, uma posio no contexto socioistrico.
Que nesse contexto, ao participar das situaes
concretas de comunicao, possa tomar conscincia
da palavra do outro pelo reconhecimento do que
produzir textos. Nas palavras de Vygotsky, somos
conscientes de ns mesmos porque somos conscientes
dos outros e somos conscientes dos outros porque
em nossa relao conosco mesmos somos iguais aos
outros em sua relao conosco (apud Freitas, 1997,
p. 316).
Sem a pretenso de fechar a discusso, vale dizer
que, em meio a essa movncia de textos, intertextos,
hipertextos, preciso que a universidade passe a con-
tribuir para que do seu mago possam emergir sujeitos
autnomos, seres da linguagem, cientes do lugar ml-
tiplo, instvel e provisrio que ocupam na contempo-
raneidade. Que saibam mover-se nesse mundo (autor,
leitor, texto/hipertexto) que se revela e desvelado
pela palavra escrita veiculando seus saberes/conhe-
cimentos, produzindo sentidos, reinventando-se... Pois
h um caminho/labirinto a cada manh.
Referncias bibliogrcas
BAKHTIN, M. Esttica da criao verbal. So Paulo: Martins
Fontes, 2003.
BARROS, Manoel de Barros. O menino que carregava gua na
peneira. In: LEITE, Maristela Petrili de Almeida; SOTO, Pascoal
(Coords.). Palavras de encantamento: antologia de poetas brasi-
leiros. So Paulo: Moderna, 2001. p. 8-17.
BARTHES, Roland. S/Z. Lisboa: Edies 70, 1992.
BLATTMANN, Ursula; FRAGOSO, Graa Maria (Orgs.). O za-
pear a informao em bibliotecas e na internet. Belo Horizonte:
Autntica, 2003.
CHARTIER, Anne-Marie. A escrita na escola e na sociedade: os
efeitos paradoxais de uma distncia constatada. In: SIMPSIO
INTERNACIONAL SOBRE A LEITURA E ESCRITA NA
SOCIEDADE E NA ESCOLA, BRASLIA, 1994. Anais... Belo
Horizonte: Fundao AMAE para Educao e Cultura, 1994.
p. 149-162.
CRITICAL ART ENSEMBLE. Distrbio eletrnico. So Paulo:
Conrad, 2001.
FONSECA, Randal. Expropriao de propriedade intelectual.
Disponvel em: <http://www.historiaehistoria.com.br/materia.
cfm?tb=newsletter&id=3>. Acesso em: 23 fev. 2006.
FOUCAULT, Michel. O que um autor? Lisboa: Vega, 1992.
368
Obdlia Santana Ferraz Silva
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
. A ordem do discurso. So Paulo: Loyola, 2005.
FREITAS, Maria Teresa A. Nos textos de Bakhtin e Vygotsky: um
encontro possvel. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin, dialogismo e
construo do sentido. Campinas: Editora da UNICAMP, 1997.
p. 311-327.
GARSCHAGEN, Bruno. Universidade em tempos de plgio. S.d.
Disponvel em: <http://www.fev.edu.br/canais/docentes/publica/
principal.php?pr=1399&nt=54>. Acesso em: 24 fev. 2006.
GENETTE, Grard. Palimpsestes. Paris: Seuil, 1982.
GERALDI, Joo Wanderley. Portos de passagem. So Paulo:
Martins Fontes, 1997.
KOCH, Ingedore; BENTES, Anna Christina; CAVALCANTE,
Mnica Magalhes. Intertextualidade: dilogos possveis. So
Paulo: Cortez, 2007.
LVY, Pierre. As tecnologias da inteligncia: o futuro do pensa-
mento na era da informtica. Rio de Janeiro: 34, 1993.
. O que virtual. So Paulo: 34, 1996.
LISPECTOR, Clarice. gua viva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1980.
MATENCIO, Maria de Lourdes Meirelles. Leitura, produo de
textos e a escola: reexes sobre o processo de letramento. Cam-
pinas: Mercado de Letras, 2002.
MELO NETO, Joo Cabral de. Tecendo a manh. 2005. Dispo-
nvel em: <http://www.secrel.com.br/jpoesia/joao.html>. Acesso
em: 11 abr. 2005.
ORLANDI, Eni p. Discurso e leitura. Campinas: Editora da
UNICAMP, 2001.
. Interpretao: autoria, leitura e efeitos do trabalho
simblico. Campinas: Pontes, 2004.
PALACIO, Marcos. Impactos e efeitos da internet sobre a comu-
nidade acadmica: quatro diculdades e um possvel consenso.
2006. Disponvel em: <http://www.facom.ufba.br/ciberpesquisa/
palacios/impactos.html>. Acesso em: 6 mar. 2006.
PERISS, Gabriel. Ler, pensar e escrever. S.d. Disponvel em:
<http://www.perisse.com.br/Ler_Pensar_Escrever_o_livro.htm>.
Acesso em: 26 fev. 2006.
RAMAL, Andra Ceclia. Educao na cibercultura: hipertex-
tualidade, leitura, escrita e aprendizagem. Porto Alegre: Artmed,
2002.
SENNA, L. A. G. Letramento ou leiturizao? O scio-interacio-
nismo na lingstica e na psicopedagogia. In: CONGRESSO DE
LEITURA DO BRASIL, 12., 2000, Campinas. Anais... Campinas:
Associao de Leitura do Brasil, 2000. Disponvel em: <http://
www.senna.pro.br/biblioteca/leiturizacao_new.pdf>. Acesso em:
9 fev. 2006.
SCHNEIDER, Michel. Ladres de palavras: ensaio sobre o plgio,
a psicanlise e o pensamento. Campinas: Editora da UNICAMP,
1990.
VASCONCELOS, Sonia R. O plgio na comunidade cientca:
questes culturais e lingsticas. 2007. Disponvel em: <http://
cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252007000300002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 25 set. 2007.
XAVIER, Antonio Carlos. Leitura, texto e hipertexto. In: MARCUSCHI,
Luiz Antonio; XAVIER, Antonio Carlos. Hipertexto e gneros
digitais: novas formas de construo do sentido. Rio de Janeiro:
Lucerna, 2004. p. 170-180.
OBDLIA FERRAZ, doutoranda em educao pela Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA), professora do curso de letras
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na qual desenvolve,
em parceria com duas bolsistas (Programa de Iniciao Cientca
PICIN), a pesquisa Leitura e escrita por entre as malhas da rede:
possibilidades de constituio de autoria/co-autoria. Publicaes
recentes: Ler e escrever nos labirintos hipertextuais (Educao
e Contemporaneidade, v. 14, n. 23, p. 51-62, jan./jun. 2005); Nas
armadilhas das trilhas hipertextuais: que lugar ocupa o aluno de letras
como autor do seu dizer? (In: CONGRESSO DE LEITURA DO
BRASIL, 16., 2007, Campinas. Anais... Disponvel em: <http://www.
alb.com.br/anais16/index.htm>. Acesso em: 30 jun. 2008); O sujeito
que tece/interage pelas malhas da rede digital (In: ENCONTRO DE
PESQUISA EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE, 18.,
2007, Macei. Anais... Macei: UFAL, 2007. 1 CD-ROM). Pesquisa
de doutorado em andamento: A constituio da autoria no cenrio
acadmico: que prxis pedaggica norteia a produo textual na
universidade?. E-mail: beda_ferraz@yahoo.com.br
Recebido em agosto de 2007
Aprovado em dezembro de 2007
Resumos/Abstracts/Resumens
Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008 413
Obdlia Santana Ferraz Silva
Entre o plgio e a autoria: qual o
papel da universidade?
Esse estudo tem como nalidade
discutir sobre o plgio no contexto
acadmico, enquanto ato que se vem
armando signicativamente a partir
dos hipertextos digitais, e considerando
que, medida que textos de todos os
tipos, referentes s vrias reas do co-
nhecimento, circulam velozmente pela
rede, se vo ampliando entre os gradu-
andos as facilidades de fazer cpias,
em detrimento da construo da auto-
ria. Na inteno de contribuir com essa
discusso, objetivou-se reetir sobre a
necessidade de abrir espaos objetivos
Resumos/Abstracts/Resumens
414 Revista Brasileira de Educao v. 13 n. 38 maio/ago. 2008
e subjetivos na universidade lugar de
produo da linguagem para que, na
dialtica entre o coletivo e o individu-
al, a construo da autoria se efetive.
E que, nesse sentido, as prticas de
leitura e escrita, no contexto da socie-
dade digital, possam ser vivenciadas
na perspectiva de incentivo produo
intelectual, bem como na inteno de
proporcionar ao graduando professor
em formao a autonomia para escre-
ver e inscrever-se como autor, no seu
percurso labirntico pelas malhas da
rede digital, entendendo que o ato de
escrever que faz o autor.
Palavras-chave: plgio; autoria; autor
Between plagiarism and authorship:
what is the role of the university?
This study seeks to discuss plagiarism
in the academic context as an act
that has increased signicantly due
to free access to digital hypertexts.
Considering that there are texts from
diverse elds of knowledge circulating
on the internet, undergraduate students
nd it easier to copy than to construct
their own authorship. In order to
contribute to this discussion, this
study intends to reect on the need to
open objective and subjective spaces
in the University the place for the
production of language in order
to make construction of authorship
effective in the dialectic between
the individual and the collective.
In this sense, reading and writing
practices should be experienced as the
motivation for intellectual production,
with the intention of providing the
student, as a future teacher, with the
autonomy needed to write and to
establish him or herself as author, as
he or she navigates the digital network.
Key words: plagiarism; authorship;
author
Entre el plagio y la autora: cul es
el papel de la universidad?
Este estudio tiene como nalidad
discutir sobre el plagio en el contexto
acadmico, entretanto, hecho que
viene armndose signicativamente
a partir de los hipertextos digitales,
y considerando que, a medida que
textos de todos los tipos, se reeren
a las varias reas del conocimiento,
circulan velozmente por la red, se
van ampliando entre los graduados
las facilidades de hacerse copias, en
detrimento de la construccin de la
autora. En la intencin de contribuir
con esa discusin, se pretende
pensar sobre la necesidad de abrir
espacios objetivos y subjetivos en la
universidad lugar de produccin del
lenguaje para que, en la dialctica
entre el colectivo y lo individual,
la construccin de la autora se
concretice. Y que, en este sentido,
las prcticas de la lectura y de la
escrita, en el contexto de la sociedad
digital, puedan ser experimentadas
en la perspectiva de incentivo a la
produccin intelectual, bien como en la
intencin de proporcionar al graduado
profesor en formacin la autonoma
para escribir e inscribirse como autor,
en su trayecto laberntico por las
mallas de la red digital, entendiendo
que es el acto de escribir el que hace
al autor.
Palabras clave: plagio; autora; autor
Você também pode gostar
- Psicologia Das Cores PDFDocumento121 páginasPsicologia Das Cores PDFTerapias100% (1)
- Leitura, escrita e ensino: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNo EverandLeitura, escrita e ensino: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Textos em contextos: Reflexões sobre o ensino da língua escritaNo EverandTextos em contextos: Reflexões sobre o ensino da língua escritaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Design de JogosDocumento30 páginasDesign de JogosCicero Liberato0% (1)
- Cap 3 - O Ministério de Comunicação SocialDocumento24 páginasCap 3 - O Ministério de Comunicação SocialEvandro Filho100% (3)
- Material Intervencao I PDFDocumento51 páginasMaterial Intervencao I PDFsr_user100% (1)
- Quiz AspieDocumento11 páginasQuiz AspieMarcelo Francisco dos Santos100% (1)
- Prova Metodologia de Ensino SuperiorDocumento9 páginasProva Metodologia de Ensino Superiorfabiellifrattinisoares100% (2)
- Bibliotecas Digitais ou Plataformas Digitais Colaborativas? :: Por uma Compreensão do Funcionamento das Bibliotecas Digitais (Não) Autorizadas no Espaço DigitalNo EverandBibliotecas Digitais ou Plataformas Digitais Colaborativas? :: Por uma Compreensão do Funcionamento das Bibliotecas Digitais (Não) Autorizadas no Espaço DigitalAinda não há avaliações
- Ebook Educacao4.0 PlannetaDocumento20 páginasEbook Educacao4.0 PlannetaDouglas GomesAinda não há avaliações
- Atividade VI - Generos DigitaisDocumento14 páginasAtividade VI - Generos DigitaisNell LinsAinda não há avaliações
- Entrevista Roger ChartierDocumento3 páginasEntrevista Roger ChartierAline Paiva100% (1)
- Apol 3 Linguistica TextualDocumento12 páginasApol 3 Linguistica TextualWeslane Santos100% (1)
- Plano de Aula LiteraturaDocumento7 páginasPlano de Aula LiteraturaElcio Queiroz CoutoAinda não há avaliações
- Lista de Português Profº Marcelo 6º Ano P1 Ii Bim 1 PDFDocumento5 páginasLista de Português Profº Marcelo 6º Ano P1 Ii Bim 1 PDFNilza RibeiroAinda não há avaliações
- Entre o Plágio e A Autoria Qual o Papel Da Universidade ResenhaDocumento3 páginasEntre o Plágio e A Autoria Qual o Papel Da Universidade ResenhaAmandaAinda não há avaliações
- A Menina Da ÁrvoreDocumento8 páginasA Menina Da ÁrvoreJessica Lemos Nunes0% (2)
- Desafios Da Ubiquidade para A EducaçãoDocumento10 páginasDesafios Da Ubiquidade para A EducaçãoMichele Lemes Galizia0% (1)
- Plágio e A AutoriaDocumento17 páginasPlágio e A AutoriaMarcilea MeloAinda não há avaliações
- Fichamento de Artigo Sobre PlagioDocumento4 páginasFichamento de Artigo Sobre PlagioMarilsa AlbertoAinda não há avaliações
- A Linguagem No Ambiente VirtualDocumento8 páginasA Linguagem No Ambiente VirtualEmidia CostaAinda não há avaliações
- SPALDING Marcelo LiteratuDocumento18 páginasSPALDING Marcelo Literatuyngridnathani02Ainda não há avaliações
- Fanfiction e RPG Narrativas ContemporâneasDocumento11 páginasFanfiction e RPG Narrativas ContemporâneasLetícia PimentaAinda não há avaliações
- Larissa CavalcantiDocumento15 páginasLarissa CavalcantiTatiana SilvaAinda não há avaliações
- A Cultura Da Produção de PodcastsDocumento3 páginasA Cultura Da Produção de PodcastsJoão Carlos LunedoAinda não há avaliações
- Paper LiteraturaDocumento4 páginasPaper LiteraturaAna Karoline CunhaAinda não há avaliações
- Artigo - Capitu No TribunalDocumento9 páginasArtigo - Capitu No TribunalErikson de Carvalho MartinsAinda não há avaliações
- Leitura e Escita Na InternetDocumento24 páginasLeitura e Escita Na InternetCleidivan SousaoAinda não há avaliações
- MR Marly AmarilhaDocumento11 páginasMR Marly Amarilhaedupires1310Ainda não há avaliações
- A Relação Fala-Escrita em Contexto DigitalDocumento15 páginasA Relação Fala-Escrita em Contexto DigitalRoberta SantanaAinda não há avaliações
- Texto de Apoio - Hipertexto, Diversidade e Gênero Textual No FacebookDocumento9 páginasTexto de Apoio - Hipertexto, Diversidade e Gênero Textual No FacebookirenacostaAinda não há avaliações
- Traballho Do Matheus 2022Documento14 páginasTraballho Do Matheus 2022Kelvin Victor Pereira De AlmeidaAinda não há avaliações
- Letramento MultimidiáticoDocumento12 páginasLetramento MultimidiáticoJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Nova RepúblicaDocumento14 páginasNova RepúblicaLucas AlvesAinda não há avaliações
- SALDANHA, Luís Claudio. Literatura e Semiformação No Ciberespaço.Documento16 páginasSALDANHA, Luís Claudio. Literatura e Semiformação No Ciberespaço.carolina0barros0pimeAinda não há avaliações
- Aula 5 Generos Do DiscursoDocumento16 páginasAula 5 Generos Do DiscursodiogolovAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A Prática Social Da Escrita em FanfictionsDocumento16 páginasReflexões Sobre A Prática Social Da Escrita em FanfictionsDaniela AlvesAinda não há avaliações
- Ambientes DigitaisDocumento4 páginasAmbientes DigitaisAdriana Dalla VecchiaAinda não há avaliações
- 9.2 Texto Complementar IIDocumento6 páginas9.2 Texto Complementar IIdaniela2019 MuryAinda não há avaliações
- 6 GrupoDocumento13 páginas6 GrupoGildo MandaveiraAinda não há avaliações
- Texto Complementar II (METODOLOGIA DO TRABALHO ACADEMICO)Documento6 páginasTexto Complementar II (METODOLOGIA DO TRABALHO ACADEMICO)Andreza ChumberAinda não há avaliações
- Beatriz Martins CorrigidaDocumento157 páginasBeatriz Martins CorrigidaSayonara AmaralAinda não há avaliações
- ScheilalopesDocumento10 páginasScheilalopesAndré Luiz Fontenele MachadoAinda não há avaliações
- Letramentos Digitais A Leitura Como Replica AtivaDocumento16 páginasLetramentos Digitais A Leitura Como Replica AtivaAnonymous SDfnCOAinda não há avaliações
- Letramentos em Rede: Textos, Máquinas, Sujeitos e Saberes em TranslaçãoDocumento24 páginasLetramentos em Rede: Textos, Máquinas, Sujeitos e Saberes em TranslaçãomrclAinda não há avaliações
- DINIZ, Debora. Plágio - Palavras Escondidas. Rio de Janeiro - LetrasLivres, 2014.Documento2 páginasDINIZ, Debora. Plágio - Palavras Escondidas. Rio de Janeiro - LetrasLivres, 2014.João EstudandoAinda não há avaliações
- 11 Raimundo UEGDocumento16 páginas11 Raimundo UEGMarcio CastroAinda não há avaliações
- Rojo Multiletramento Na Escola ArtigoDocumento4 páginasRojo Multiletramento Na Escola ArtigoRegina CorciniAinda não há avaliações
- Síntese - Aula 11Documento2 páginasSíntese - Aula 11Gabriela CambeiroAinda não há avaliações
- LEITURAS QUEIROSIANAS EM MEIO DIGITAL Versao FinalDocumento114 páginasLEITURAS QUEIROSIANAS EM MEIO DIGITAL Versao FinalJuliana MarianoAinda não há avaliações
- Linguagem Da Internet-Um MeioDocumento13 páginasLinguagem Da Internet-Um MeioSaori RoxAinda não há avaliações
- 2020-Alienista RPG EducaçãoDocumento23 páginas2020-Alienista RPG EducaçãoVera GomesAinda não há avaliações
- Avaliaçao Do 1B 3E.M 2018Documento10 páginasAvaliaçao Do 1B 3E.M 2018AndrezaAndradeAinda não há avaliações
- Hibridismo No Gênero BlogueDocumento20 páginasHibridismo No Gênero BlogueAline ParadaAinda não há avaliações
- A Producao Do Genero Textual Cientifico e DesdobramentosDocumento9 páginasA Producao Do Genero Textual Cientifico e DesdobramentosMacioniliaAinda não há avaliações
- Atas LiDocumento506 páginasAtas LiCátia SimõesAinda não há avaliações
- Enc RoboticaDocumento8 páginasEnc Roboticacabelo2001Ainda não há avaliações
- Aspectos Da Contemporaneidade Numa Leitura Coletiva de A Moreninha Grupo 1 CorrigidoDocumento51 páginasAspectos Da Contemporaneidade Numa Leitura Coletiva de A Moreninha Grupo 1 CorrigidoRafaelli AvilaAinda não há avaliações
- Textos Multimodais Na Aula de Português - Teixeira 2014Documento23 páginasTextos Multimodais Na Aula de Português - Teixeira 2014Barbara TannuriAinda não há avaliações
- Narrativas Distópicas e Um Olhar para o PresenteDocumento14 páginasNarrativas Distópicas e Um Olhar para o PresenteFernanda FariaAinda não há avaliações
- F - Marcuschi - HipertextoDocumento33 páginasF - Marcuschi - HipertextocarlaalimaAinda não há avaliações
- A linguagem digital em expressão acadêmica: Randômica, tridimensional e hipertextualNo EverandA linguagem digital em expressão acadêmica: Randômica, tridimensional e hipertextualAinda não há avaliações
- Internet Hipertexto e Generos Digitais ELAINEDocumento7 páginasInternet Hipertexto e Generos Digitais ELAINEmobcranbAinda não há avaliações
- Wa0069.Documento19 páginasWa0069.Lenny dos Reis santanaAinda não há avaliações
- Ler e Navegar OkDocumento5 páginasLer e Navegar OkGláucia SilvaAinda não há avaliações
- Apresentação Blog Versão FinalDocumento24 páginasApresentação Blog Versão FinalFernanda MacenaAinda não há avaliações
- Estudo de CasoDocumento3 páginasEstudo de CasoGisele Prado GiAinda não há avaliações
- REFLEXÕES EM TORNO DA ESCRITA NOS NOVOS GÊNEROS DIGITAIS DA INTERNET - XavierDocumento9 páginasREFLEXÕES EM TORNO DA ESCRITA NOS NOVOS GÊNEROS DIGITAIS DA INTERNET - XavierGabi ModestoAinda não há avaliações
- Humor em Propagandas de CervejaDocumento15 páginasHumor em Propagandas de CervejaJully Evany Oliveira SantosAinda não há avaliações
- Verdades Incômodas Sobre o Mercado de TraduçãoDocumento4 páginasVerdades Incômodas Sobre o Mercado de Traduçãojohngaltsp100% (1)
- O Cliente e o EspecialistaDocumento8 páginasO Cliente e o EspecialistaBruna100% (1)
- PINHEIRO DA SILVA - A Linguística Do Séc. XX - Balanço CríticoDocumento6 páginasPINHEIRO DA SILVA - A Linguística Do Séc. XX - Balanço CríticoRenata Kabke PinheiroAinda não há avaliações
- A Importância Da Liderança e Da Gestão Participativa Nas OrganizaçõesDocumento12 páginasA Importância Da Liderança e Da Gestão Participativa Nas OrganizaçõesThayllan AraújoAinda não há avaliações
- Aprendizagens Essenciais - Domínio Natureza-Sociedade-TecnologiaDocumento3 páginasAprendizagens Essenciais - Domínio Natureza-Sociedade-TecnologiaCristinaLourençoAinda não há avaliações
- Artigo - 2009 - Modelo de Sistema de Aprendizagem Colaborativa CUNHA UnicampDocumento10 páginasArtigo - 2009 - Modelo de Sistema de Aprendizagem Colaborativa CUNHA UnicampMario Luis Tavares FerreiraAinda não há avaliações
- PPP CEC 2017 A 2020Documento162 páginasPPP CEC 2017 A 2020Rei Dos Assados - JequiéAinda não há avaliações
- Cartilha de Orientacao Sobre o Deficiente Visual PDFDocumento17 páginasCartilha de Orientacao Sobre o Deficiente Visual PDFjozzyAinda não há avaliações
- BACnet Client CLIMATEDocumento7 páginasBACnet Client CLIMATEWilliam SouzaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino-Edição JornalísticaDocumento3 páginasPlano de Ensino-Edição JornalísticaJo FagnerAinda não há avaliações
- A Construção Do Humor em "Frases Engraçadas" Veiculadas em Os VigaristasDocumento10 páginasA Construção Do Humor em "Frases Engraçadas" Veiculadas em Os VigaristasTássio BrunoAinda não há avaliações
- Processos de LeituraDocumento4 páginasProcessos de LeituraDino Teodoro MoisésAinda não há avaliações
- Entrevista Devolutiva Documentos Escritos 12Documento10 páginasEntrevista Devolutiva Documentos Escritos 12Rebeca LimaAinda não há avaliações
- SULRÁDIO - Consultoria em Radiodifusão PDFDocumento3 páginasSULRÁDIO - Consultoria em Radiodifusão PDFCOMISSÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA JUSTIÇA ArbitralAinda não há avaliações
- Dissertação Que Utilizou Grupo FocalDocumento136 páginasDissertação Que Utilizou Grupo FocalValério PinheiroAinda não há avaliações
- Dissertação Mestrado Bruna ZagattoDocumento176 páginasDissertação Mestrado Bruna ZagattoMeire Luce ReisAinda não há avaliações
- Etiqueta EmpresarialDocumento171 páginasEtiqueta EmpresarialAna ClaraAinda não há avaliações
- Vygotsky e o Conceito de Pensamento Verbal PDFDocumento6 páginasVygotsky e o Conceito de Pensamento Verbal PDFEmanuele AlvesAinda não há avaliações
- The Social Worker-Client Relationship in The Digital - En.ptDocumento14 páginasThe Social Worker-Client Relationship in The Digital - En.ptCintia SilvaAinda não há avaliações
- Intertexatualidades Tempo Ciência e Sociedade ParabolicamaráDocumento7 páginasIntertexatualidades Tempo Ciência e Sociedade ParabolicamaráSheila AlmeidaAinda não há avaliações