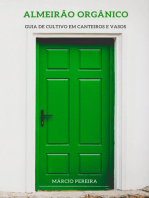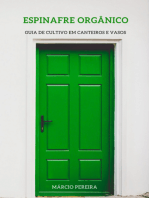Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Curso de Manejo de Pastagens
Curso de Manejo de Pastagens
Enviado por
Alexandre Filho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações44 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações44 páginasCurso de Manejo de Pastagens
Curso de Manejo de Pastagens
Enviado por
Alexandre FilhoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 44
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
DEPARTAMENTO DE APOIO, PRODUO E SADE ANIMAL
CAMPUS DE ARAATUBA
Prof. CECILIO VIEGA SOARES FILHO, Eng. Agr.
MESTRE EM NUTRIO ANIMAL E PASTAGENS
SETEMBRO - 1997
ARAATUBA - SP
CURSO DE MANEJO DE PASTAGENS
1
1. INTRODUO:
Nas regies tropicais, a produo animal , praticamente, dependente de pastagens. No
trpico brasileiro, a evoluo do tempo tem mostrado uma crescente mudana das pastagens
naturais para as cultivadas, como se verifica no Estado de So Paulo, o qual apresenta cerca de
80% de sua rea de pastagens ocupada pelas cultivadas.
Tradicionalmente, nas regies do Brasil a explorao das pastagens naturais feita de
forma extrativismo, proporcionando dessa maneira, a degradao progressiva da pastagem. Em
decorrncia disso, observa-se uma busca contnua de novas e at milagrosas gramneas
forrageiras para substituir aquelas que foram utilizadas, sem no entanto, preocupar-se em
corrigir os problemas que levaram queda da produtividade da pastagem. Provavelmente, os
problemas esto na fertilidade dos solos e no manejo das pastagens.
No Brasil, os solos sob pastagens so predominantemente os Ultissolos e os Oxissolos,
os quais apresentam srias limitaes de fertilidade. Os teores das bases trocveis, Ca, Mg e K, e
os de P so baixos e os de Al trocvel e de Mn disponvel so elevados. Dessa forma, a
adubao apresenta efeito marcante sobre a pastagem, melhorando o ganho/ha e,
principalmente, a sua persistncia, mesmo para as espcies adaptadas baixa fertilidade do solo.
A importncia dos elementos essenciais para o estabelecimento das plantas forrageiras
em ecossistemas de pastagens e para a sua produtividade tem sido amplamente demonstrada.
Em particular, nas condies tropicais, cuidados especiais com a correo da acidez do solo,
com o fornecimento de clcio e de magnsio e com a carncia de fsforo constituem-se
recomendaes usuais na fase de implantao das pastagens, enquanto que um suprimento
adequado de nitrognio, potssio e enxofre necessrio para a manuteno da produtividade das
forrageiras.
Esta apostila tem por objetivos descrever os seguintes temas: principais espcies
forrageiras para pastagens, correo e adubao do solo, recuperao/e ou renovao de
pastagens, estabelecimento de pastagens e manejo de pastagens.
2 - ESPCIES FORRAGEIRAS PARA PASTAGENS:
2.1. GRAMNEAS:
Brachiaria decumbens
1 - NOME COMUM - capim-braquiria decumbens.
2 - ORIGEM - frica tropical. Primeira introduo no Brasil feita atravs do antigo IPEAN,
hoje CPTU/EMBRAPA, em 1952. A partir de 1965 disseminou-se rapidamente nos serrados
brasileiros.
3 - EXIGNCIAS - baixa exigncia em fertilidade do solo e precipitao anual acima de 800
mm
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
2
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - pode atingir de 50-70 cm. perene, herbcea,
prostrada. Pode emitir razes adventcias (estolonfera), bastante agressiva. bastante
empregada com a finalidade de impedir a eroso.
6 - MANEJO - para pastejo controlado, a entrada dos animais deve ser com a gramnea em
torno de 30 a 40 cm de sada quando este porte for reduzido a 10-15 cm, com perodo de
descanso de 30-35 dias. Para pastejo continuo procurar manter a vegetao com porte de cerca
de 20 cm.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao da guas - 1.5 UA/ha. Estao da seca - 0.7
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 15 a 18 ton MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - no tolera solos argilosos, secas prolongadas, ataque de cigarrinhas e
percevejos. Rebrota aps o fogo, tem regular resistncia ao frio e pisoteio. A fotossensibilizao
hepatgena sempre esteve associada com esta gramnea.
10 - MULTIPLICAO - Pode ser feita por sementes ou por mudas. Por sementes gasta-se
em torno de 5 a 10 kg/ha para plantio a lano ou 3 kg/ha S.P.V. As sementes tem dormncia de
6 meses e para plantio anterior a este perodo pode-se empregar a quebra de dormncia com
cido sulfrico comercial concentrado por 15 minutos e posterior lavagem, prtica que aumenta
a porcentagem de germinao.
11 - COMPOSIO QUMICA - 4 a 7,5% PB e 50 a 55% DIVMS.
12 - CONSORCIAO - Dificil em funo do vigor vegetativo desta gramnea.
13 - CONTROLE DA CIGARRINHA - O problema do ataque de cigarrinha nestas pastagens
preocupa os pecuaristas. Existe o combate biolgico com o inimigo natural desta cigarrinha que
o fungo metarrhizium anizopliae. O controle quimico perigoso e , em caso de ser empregado,
evitar o uso de clorados que do problemas na carne e leite. Os fosforados podem ser
aplicados com critrio, observando de 7 a 10 dias de intervalo de aplicao. Outra alternativa a
diversificao de forrageiras na propriedade.
Brachiaria radicans
1 - NOME COMUM - TANNER GRASS , Brachiaria do brejo.
2 - ORIGEM - frica.
3 - EXIGNCIAS - Pouca quanto a fertilidade do solo. Adaptao excelente em solos midos,
ou seja, mal drenadas.
4 - RENDIMENTO - 9 t MS/ha/ano.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Rizomatosa, estolonifera, hastes finas e
flexiveis prostadas, folhas lisas e verde-brilhantes. Pancula com 6-12 racemos.
6 - COMPOSIO QUMICA - 7.0% de PB na MS
7 - MULTIPLICAO - Via vegetativa, ou seja, atravs de mudas.
8 - PROBLEMAS: Foi observado intoxicao de animais mantidos em regime de pastejo
exclusivo nesta espcie de gramnea. Os sintomas apresentados pelos animais so perda de peso,
hematria (sangue na urina) e morte de animais. A intoxicao observada foi causada por
nitratos e nitritos. Esta gramnea constitui-se no hospedeiro predileto do Blissus leucopterus
(chinch bug), percevejo que causa srios danos em gramneas.
Em funo destes problemas foram tomadas medidas governamentais para impedir o uso de
reas com este brachiaria, transito e multiplicao. Os infratores estavam sujeitos a punio
determinada pelo regulamento da defesa sanitria vegetasl (portaria do MA de no. 822, de
11/10/76).
Brachiaria humidicula
3
1 - NOME COMUM - capim-quicuio da Amaznia, capim-agulha.
2 - ORIGEM - frica. A partir de 1973 tornou-se muito importante na Amaznia Brasileira.
3 - EXIGNCIAS - Pouco exigente em fertilidade do solo.
4 - UTILIZAO - pastejo.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, ereta, rizomatosa e estolonfera.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25 cm de altura e sada com 10 cm. Perodo de
descanso de 30 dias.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 1.2 UA/ha. Estao das seca - 0.6
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 12 a 15 t MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - Boa resistncia a seca, pisoteio e cigarrinha.
10 - MULTIPLICAO - Sementes e mudas. 3 kg/ha S.P.V. Sementes apresentam dormncia
de 1 ano.
11 - COMPOSIO QUMICA - 5 a 7% PB e 45 a 50% DIVMS.
12 - CONSORCIAO - amendoim forrageiro.
13 - VANTAGENS SOBRE A DECUMBENS - os eqinos no rejeitam esta braquiria e esta
apresenta maior resistncia a cigarrinha do que a decumbens.
Brachiaria dictyoneura
1 - NOME COMUM - Capim-dictioneura
2 - ORIGEM - frica
3 - EXIGNCIAS - Baixa exigncia em fertilidade do solo
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, ereta, estolonifera e rizomatoza,
difere da brachiaria humdicula por ser cespitosa, enquanto esta fortemente estolonifera.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25-30 cm de altura e sada com 10-15 cm de altura.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 1.2 UA/ha. Estao das seca - 0.6
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 10 a 12 ton MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - Boa a seca, pisoteio e cigarrinha.
10 - MULTIPLICAO - Atravs de mudas e sementes. 2.5 kg/ha S.P.V.
11 - COMPOSIO QUMICA - 5 a 9% de PB e 45 a 50% de DIVMS.
12 - CONSORCIAO - centrosema, calopognio, amendoim forrageiro.
13 - CULTIVARES - lLANERO CIAT, IAPAR 56.
Brachiaria ruzizieneis
1 - NOME COMUM - Ruziziensis, capim congo
2 - ORIGEM - Congo
3 - EXIGNCIAS - Pouco exigente em fertilidade do solo
4 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Esta brachiaria muito semelhante a
decumbens; atinge at 1.0-1.5 m, perene, estolonifera e apresenta grande perfilhamento. As
plantas so verde-amareladas.
5 - RESISTNCIA - baixa resistncia a geadas e secas. Suporta bem pastejo. Tem menor
rendimento por rea que a decumbens. sensvel ao ataque da cigarrinha.
6 - MULTIPLICAO - pode ser feito por mudas e por sementes. Por sementes deve-se
observar o perodo de dormncia, que ocorre aps colheita que de 12 meses ( em condies
ambientais). Floresce uma vez por ano (abril).
7 - COMPOSIO QUMICA - 6.% de PB na MS.
4
8 - RENDIMENTO - at 12 t/ha/ano de massa seca. e 10 a 20% menos produtiva do que a
brachiaria decumbens.
Brachiaria Brizantha
1 - NOME COMUM - capim brizanto, branquiro
2 - ORIGEM - frica
3 - EXIGNCIAS - Mdia exigncia em fertilidade do solo.
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - mais ereta que a decunbens e pode atingir
1.0 a 1.2 m (touceiras), menos vigorosa para gramar que as anteriores, pois no estolonifera,
sendo Rizomatosa e perene.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 50-60 cm de altura e sada dos animais com 25-30 cm.
Perodo de descanso de 35 dias.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 1.8 UA/ha. Estao da seca - 0.9
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 16 a 18 t MS/ha/ano
9 - RESISTNCIA - Boa a seca, corte, cigarrinha
10 - MULTIPLICAO - sementes, 3 kg/ha S.P.V.
11 - COMPOSIO QUMICA - 9 a 10% de PB e 50 a 60% de DIVMS
12 - CONSORCIAO - calopognio, amendoim forrageiro e estilosantes mineiro.
13 - CULTIVARES - Marandu.
Panicum maximum, cv. TOBIAT
CICLO VEGETATIVO - Perene, semi-ereto
ALTURA - 2.5 m
UTILIZAO- Pastoreio direto
DIGESTIBILIDADE - Boa
CAPACIDADE SUPORTE/LOTAO - 2.0 UA/ha nas guas e 1,2 UA/ha na seca.
PRODUO DE MASSA SECA - 28 t/ha/ano.
ACEITAO POR EQUINOS - mdia
RESISTNCIA A SECA - Boa
PROTENA BRUTA NA MS - 10%
RESISTNCIA A CIGARRINHA - Boa
RECOMENDAES:
Tipo de Solo - Fertilidade mdia a alta
QUANTIDADE DE SEMENTES: Para plantio - 2 kg de SPV/ha.
Panicum maximum, cv. IAC - CENTAURO
CICLO VEGETATIVO - perene, cespitoso, precoce
ALTURA - 1.0 m
UTILIZAO - Pastoreio direto, Fenao
DIGESTIBILIDADE - Excelente
CAPACIDADE SUPORTE/LOTAO - 1.2 cabeas/ha/ano
PRODUO DE MASSA SECA - 20 t/ha/ano
ACEITAO POR EQUINOS - Excelente
RESISTNCIA A SECA - Boa
5
PROTENA NA MS - 15%
RESISTNCIA A CIGARRINHA - Boa
RECOMENDAES:
Tipos de solo - Fertilidade mdia a alta
QUANTIDADE DE SEMENTES: 2 kg/ha de SPV.
Panicum maximum, cv. IAC - CENTENRIO
CICLO VEGETATIVO - perene, cespitoso
ALTURA - 2.20 m
UTILIZAO - Pastoreio direto, Fenao
DIGESTIBILIDADE - Excelente
CAPACIDADE SUPORTE/LOTAO - 1.2 cabeas/ha/ano
PRODUO DE MASSA SECA - 15 t/ha/ano
ACEITAO POR EQUINOS - Boa
RESISTNCIA A SECA - Boa
PROTENA NA MS - 9 A 10%
RESISTNCIA A CIGARRINHA - Boa
RECOMENDAES:
Tipo de solo - Fertilidade mdia, tolerante ao Al
QUANTIDADE DE SEMENTES: 2 kg/ha de SPV.
Panicum maximum, cv. TANZNIA - 1
CICLO VEGETATIVO - Perene, cespitoso
ALTURA - 1.30 m
UTILIZAO - Pastoreio direto, Fenao
DIGESTIBILIDADE - Excelente
CAPACIDADE SUPORTE/LOTAO - 2,0 cabeas/ha/ano
PRODUO DE MASSA SECA FOLIAR - 26 ton/ha/ano
ACEITAO POR EQUINOS - Boa
RESISTNCIA A SECA - Boa
PROTENA NA MS - 13%
RESISTNCIA A CIGARRINHA - Boa
RECOMENDAES:
Tipos de Solo - Fertilidade mdia a alta, cerrado.
QUANTIDADE DE SEMENTES: 1,6 kg/ha de SPV.
DESEMPENHO ANIMAL: Em trabalho conduzido pelo CNPGC durante trs anos de pastejo,
a cv. Tanznia foi superior s cvs. Tobiat e Colonio, tanto em ganho por animal quanto em
ganho por rea. O ganho dirio por cabea foi, em mdia, 720 g nas guas e 240 g na seca.
Para as taxas de lotao 2,3 (novilhos de 250 kg de peso vivo) no Tanznia, 2,5 no Tobiat e 2,1
no Colonio, as mdias anuais de ganhos em peso foram, respectivamente, 520, 450 e 420
g/cab/dia. Os ganhos/ha/ano foram de 446 kg (Tanznia), 414 kg (Tobiat) e 324 kg (Colonio,
em solo LVE-distrfico, fase cerrado e textura argilosa, com uma adubao mnima de
estabelecimento.
Em rea corrigida e adubada, esta nova cultivar tem mostrado boa aceitabilidade pelos bezerros,
com ganhos de peso superiores aos obtidos na braquiria brizantha cv Marandu.
PRODUO E QUALIDADE: O Tanznia produziu 60% mais que o Colonio e 15% menos
que o Tobiat em parcelas sob cortes manuais. Na seca, produziu 10,5% do total anual,
apresentou 80% de folhas durante o ano, e produziu 26 t/ha/ano de matria seca foliar,
6
resultados esses semelhantes ao Tobiat mas muito superiores ao Colonio. Os teores de
protena bruta nas folhas e colmos foram 16,2 e 9,8% respectivamente, semelhantes so Colonio
e Tobiat e sem grandes variaes ao longo do ano. As touceiras da cultivar Tanznia so
pastejadas por igual, devido ao porte mdio e pequena lenhosidade dos colmos, o que no ocorre
com o Colonio ou Tobiat, que apresentam rejeio de consumo aps o florescimento.
Panicum maximum, cv. VENCEDOR
CICLO VEGETATIVO - Perene, cespitoso
ALTURA - 1.60m
UTILIZAO - Pastoreio direto, Fenao
DIGESTIBILIDADE - Excelente
PRODUO DE MASSA SECA - 24 t/ha/ano
CAPACIDADE SUPORTE/LOTAO - 1.8 cabeas/ha/ano
ACEITAO POR EQUINOS - Excelente
RESISTNCIA NA SECA - Boa
PROTENA NA MS - 11 a 14%
RESISTNCIA A CIGARRINHA - Boa
RECOMENDAES:
Tipos de solo - Fertilidade mdia, tolera alumnio txico em solos de cerrado.
QUANTIDADE DE SEMENTES: 2 kg/ha de SPV.
MANEJO E UTILIZAO: Em funo do desenvolvimento inicial, o primeiro pastejo do
capim Vencedor poder ser realizado 90 a 100 dias aps o plantio. Em pastagem consorciada, o
manejo de formao dever ser com pastejo leve, em torno de 100 dias aps plantio. resistente
ao pastejo, suportando lotaes mdias de 2,5 unidades animal/hectare (UA/ha) e 1,5 UA/ha na
seca. O ganho de peso dirio por cabea nas guas de 700 g e de 300 g na seca. Recomenda-se
retirar os animais da pastagem quando a mesma atingir 20 cm de altura.
O capim Vencedor no seca totalmente durante a estao seca, e no se recomenda deix-lo
atingir altura superior a 1 metro no incio desta estao.
Panicum maximum, cv. MOMBAA
CICLO VEGETATIVO - Perene, cespitoso
ALTURA - 1.65 m
UTILIZAO - Pastoreio direto
DIGESTIBILIDADE - Boa
CAPACIDADE SUPORTE/LOTAO - 2,3 UA/ha/ano
PRODUO DE MASSA SECA FOLIAR - 33 ton/ha/ano
RESISTNCIA A SECA - Boa
PROTENA NA MS - 13%
RESISTNCIA A CIGARRINHA - Boa
RECOMENDAES:
Tipos de Solo - Fertilidade mdia a alta, cerrado
QUANTIDADE DE SEMENTES: 2 kg/ha de SPV.
AVALIAO SOB PASTEJO: Em experimento conduzido no CNPGC durante trs anos sob
um sistema flexvel, as cultivares Mombaa e Tobiat permitiram ambas, 14 dias de pastejo e 60
dias de descanso, durante o perodo seco. Durante as guas, no entanto, a cv. Tobiat
possibilitou 12 dias de pastejo e 37 dias de descanso, enquanto a cv. Mombaa, 14 dias de
pastejo e 35 dias de descanso. Estes resultados propiciaram estimativas da capacidade de suporte
destas cultivares, que foram: Tobiat 2 UA/ha e Mombaa 2,3 UA/ha. Esta diferena deve-se
7
maior porcentagem de folhas apresentadas pela cv. Mombaa, que foi, em mdia, durante o ano,
47%, e para a cv. Tobiat, 38%.
No IAPAR, Etao Experimental de Paranava, PR, as cultivares Mombaa, Tanznia e Tobiat
apresentaram, respectivamente, taxas anuais de lotao (mdias de trs anos) de 2.39, 2.14 e
2.20 UA/ha, com ganhos em peso de 736, 554 e 558 kg de peso vivo/ha/ano, respectivamente
(IAPAR, 1996).
Pennisetum purpureum
1 - NOME COMUM - capim-elefante, capim-cana.
2 - ORIGEM - frica (Rodsia).
3 - EXIGNCIAS - Bastante exigente em fertilidade e no adapta-se em solos midos.
4 - UTILIZAO - Pode ser empregado para pastejo, forragem p/ corte e ensilagem.
Apresenta boa aceitabilidade. Para ensilar este material conveniente que se adicione
juntamente em material rico em carboidratos como cana-de-acar,melao, sorgo, milho, etc.
Esta adio necessrio em funo do baixo teor de carboidratos que apresenta o capim
elefante.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Esta gramnea cespitosa, perene, pode atingir
at 6 m de altura, sendo muito comum 3 - 4 m; porm a maioria de suas variedades deve ser
cortada com 1.3 a 1.8 m(60 dias), ocasio em que so mais tenras.
6 - MANEJO - Para o pastejo controlado recomenda-se a entrada dos animais com 1.50 m e
sada com 40-50 cm, o que pode ser conseguido com perodos de ocupao de 1-3 dias e
descando de 35-45 dias. Para bovinos de leite utilizar 70 m
2
/vaca/dia. O manejo alto impede o
desenvolvimento de invasoras e favorece a rebrota.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - 5 a 6 UA/ha no perodo da guas e 1.5 UA/ha na seca.
8 - RENDIMENTO - comum conseguir 20-25 t/ha em 1 corte, o que deve ser feito a mais ou
menos 20 cm do solo, quando a forrageira apresenta 1.30-1.50m de altura. O rendimento anual
pode ultrapassar a 180 t/ha/ano em 5 cortes. Para fins de planejamento, toma-se por base a
produo de 20 t/ha/corte. O que seria suficiente para manter 10 vacas, ministrando-se 20
kg/vaca/dia.
9 - RESISTNCIA - uma gramnea bastante rstica, suportando bem o pisoteio, com relativa
resistncia ao frio, fogo e queima com geadas. sensvel ao ataque de cigarrinha.
10 - MULTIPLICAO - em funo de baixa produo de sementes viveis, a multiplicao
por fraes de colmo ou colmos inteiros mais empregada. Se o colmo for segmentado, cada
parte deve conter de 3 a 5 gemas (olhos). As mudas devem ser retiradas de culturas com mais de
100 dias, plantadas em sulcos de 15 a 20 cm de profundidade, espaados de 0.5 a 1.0m, com
pouca cobertura de terra. O gasto de mudas est em torno de 2 a 4 t/ha, sendo empregada a
proporo de 1.10, ou seja, 1 ha de cultura fornece muda para 10 ha. As mudas, uma vez
colhidas, se forem mantidas sombra, suportam at 20 dias de transporte.
11 - COMPOSIO QUMICA - 13-15% de PB e 65-70% DIVMS
12 - CULTIVARES - Mineiro, cameroon, Porto Rico, Vrukwonea, Napier, Taiwan A-148,
Roxo.
Digitaria decumbens
1 - NOME COMUM - capim-pangola.
2 - ORIGEM - frica do Sul.
3 - EXIGNCIAS - uma gramnea exigente em fertilidade do solo e precipitao acima de
700 mm/ano.
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
8
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, estolonfero e prostrado.
6 - MANEJO - Para pastejo controlado, colocar os animais na pastagem quando esta apresentar
cerca de 30 cm e retir-los quando baixar para 15 cm. O perodo de descanso no deve ser
inferior a 30 dias. No pastejo contnuo procurar manter trs pastagens com mais ou menos 20
cm.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 2,0 UA/ha. Estao da seca - 1,0
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - Pode produzir 30-40 t/ha/ano de massa verde, sendo realizadas 3 a 4
cortes ou 10-12 ton MS/ha/ano para o rendimento de feno.
9 - RESISTNCIA - Pouca resistncia a geada, boa a seca; pode apresentar ataque de
nematides, cochonilha, cigarrinha e doenas virticas. Vrus do enfezamento do pangola (PSV)
acabaram com esta gramnea em algumas regies brasileiras.
10 - MULTIPLICAO - feita atravs de mudas ou estoles empregando espaamento
varivel de acordo com a disponibilidade de mudas. comum espaamento de 0,5 a1.0 m entre
sucos e 0,3 a 0,5 m entre mudadas. Para fins de calculo considera-se que 1 hectare de pangola
fornece muda para 10 hectares. O plantio por muda pode ser tambm a lano, ou seja,
distribuio das mudas no solo e posteriormente fazendo uma gradagem leve, sendo que, por
este processo, o gasto de mudas maior. A multiplicao por sementes invivel, apresenta
grande nmero de sementes estreis e com isso baixo valor cultural.
11 - COMPOSIO QUMICA - 7 a 8% de PB e 60 a 65% de DIVMS.
12 - CONSORCIAO - Estilozantes, soja perene, siratro, centrosema, pueraria.
13 - CULTIVARES - Pangola, transvala, survenola.
Cynodon dactylon cv Coast-cross n. 1
1 - NOME COMUM - Capim estrela, coast-cross-1, bermuda.
2 - ORIGEM - frica .
3 - EXIGNCIA - Exige solo com boa fertilidade.
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, estolonifero, rizomatoso.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25-30 cm de altura e sada com 10 cm de altura,
perodo de descanso de 30 dias.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 2,5 UA/ha. Estao da seca - 1,0
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 15 a 18 t MS/ha/ano
9 - RESISTNCIA - Boa e seca, tolera frios e pisoteios.
10 - MULTIPLICAO - Atravs de mudas.
11 - COMPOSIO QUMICA - 10 a 12% de PB e 55 a 60% de DIVMS
12 - CONSORCIAO - amendoim forrageiro.
Cynodon nlemfuensis cv Tifton-68
1 - NOME COMUM - Capim Tifton-68.
2 - ORIGEM - Cruzamento de duas gramas da frica Tropical. Foi criada pela Universidade da
Georgia - EUA, em 1984.
3 - EXIGNCIA - Exige solo com boa fertilidade.
4 - UTILIZAO - Pastejo.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, estolonifero, e no apresenta rizomas.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25-30 cm de altura e sada com 10 cm de altura,
perodo de descanso de 30 dias.
9
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 2,0 UA/ha. Estao da seca - 1,0
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 10 a 15 t MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - Mdia a seca e tolera pisoteios.
10 - MULTIPLICAO - Atravs de mudas.
11 - COMPOSIO QUMICA - 14 a 15% de PB e 55 a 60% de DIVMS.
12 - CONSORCIAO - amendoim forrageiro.
Cynodon sp cv Tifton-85
1 - NOME COMUM - Capim Tifton-85.
2 - ORIGEM - Cruzamento de duas gramas da frica Tropical. Foi criada pela Universidade da
Georgia - EUA, em 1992.
3 - EXIGENCIA - Exige solo com boa fertilidade.
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, estolonifero, e apresenta rizomas.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25-30 cm de altura e sada com 10 cm de altura,
perodo de descanso de 30 dias.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 2,5 UA/ha. Estao da seca - 1,0
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 15 a 18 t MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - Boa a seca, ao frio e resiste aos pisoteios.
10 - MULTIPLICAO - Atravs de mudas.
11 - COMPOSIO QUMICA - 12 a 13% de PB e 55 a 60% de DIVMS.
12 - CONSORCIAO - amendoim forrageiro.
Cynodon dactylon cv Florakirk
1 - NOME COMUM - Capim Florakirk.
2 - ORIGEM - Cruzamento de duas gramas da frica Tropical. Foi criada pela Universidade da
Georgia - EUA, em 1994.
3 - EXIGNCIA - Exige solo com boa fertilidade.
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, estolonifero, e apresenta rizomas.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25-30 cm de altura e sada com 10 cm de altura,
perodo de descanso de 30 dias.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 2,5 UA/ha. Estao da seca - 1,0
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 14 a 16 toneladas MS/ha/ano
9 - RESISTNCIA - Boa a seca, ao frio e resiste aos pisoteios
10 - MULTIPLICAO - Atravs de mudas
11 - COMPOSIO QUMICA - 11 a 12% de PB e 55 a 60% de DIVMS
12 - CONSORCIAO - amendoim forrageiro.
Paspalum notatum cv. Tifton-9
1 - NOME COMUM - Pensacola Tifton-9.
2 - ORIGEM - Cruzamento de Paspalum pela Universidade da Georgia - EUA, em 1995.
3 - EXIGNCIA - Exige solo com mdia a baixa fertilidade.
10
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, semi-ereta e rizomatosa.
6 - MANEJO - Entrada dos animais com 25-30 cm de altura e sada com 10 cm de altura,
perodo de descanso de 30 dias.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao das guas - 1,5 UA/ha. Estao da seca - 0,8
UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 12 t MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - Boa a seca, cigarrinha ao frio e resiste bem ao pisoteio animal.
10 - MULTIPLICAO - 1,5 kg/ha de SPV.
11 - COMPOSIO QUMICA - 11% de PB e 50 a 55% de DIVMS.
12 - CONSORCIAO - amendoim forrageiro.
O capim Milheto uma gramnea anual, originria da frica, com hbito de crescimento
ereto com excelente produo de perfilhos e vigorosos rebrotes aps cortes ou pastejos. O ciclo
da planta de aproximadamente 130 dias. Tem como caractersticas principais a de vegetar bem
em terras pobres, arenosas e alta resistncia seca, porm no tolera solos mal drenados ou
encharcados.
O Milheto tambm conhecido como Pasto Italiano, assemelha-se aos sorgos forrageiros por
seu porte ereto, possui folhagem tenra e abundante, os talos so ligeiramente adocicados
proporcionando uma boa palatabilidade, prestando-se, indiferentemente, para cobertura do solo
no Sistema de Plantio Direto, para corte, pastoreio direto, silagem e colheita dos gros para
raes.
Est plenamente adaptado as condies climticas do Brasil Central, com sua produo e
produtividade diretamente proporcional a fertilidade do solo, temperatura e disponibilidade de
gua. Temperaturas elevadas associadas a disponibilidades hdricas adequadas permitem
elevadas taxas de crescimento das plantas, aumentando expressivamente a oferta de forragem.
imprescindvel que a temperatura ambiente no momento do plantio seja superior a 20C.
Apresenta resposta excepcional a fertilidade e/ou adubao do solo. No tem limitaes a solos
cidos ou com baixos teores de matria orgnica. Por ser uma planta de origem tropical
responde eficientemente a adubao nitrogenada.
No plantio deve ser semeado a uma profundidade de 2 a 4 cm, com espaamento de 20 cm
entre linhas utilizando-se 15 a 20 kg/ha de sementes ou 22 kg/ha quando o plantio for lano. A
variedade conhecida como pasto italiano caracteriza-se por apresentar uma espigueta pequena e
ciclo de produo mais curto. Deve-se optar por variedades tardias como o milheto africano que
apresenta uma espigueta maior e ciclo de produo mais longo, sendo assim o perodo de
utilizao maior (variedade BN-2). Nos estados de So Paulo e Mato Grosso, a semeadura
dever ocorrer de setembro a maro. Quando o plantio for no incio da estao das chuvas pode-
se misturar com a semente da braquiria, sendo assim, pastoreia-se o milheto at o final do ms
de fevereiro e depois veda-se a pastagem para a braquiria crescer e formar a pastagem. O
plantio do milheto tem sido utilizado com bastante sucesso em reas de recuperao de
pastagens em que se deseja voltar com o mesmo capim. Assim, efetua-se a correo e adubao
do solo e semeia-se o milheto. O preparo do solo realizado com grade rome para no enterrar a
sementeira. Geralmente tem-se optado pelo plantio de inverno, semea-se o milheto aps a
colheita da soja e/ou milho fornecendo assim pastoreio nos perodos da seca.
Pennisetum americanum
11
O Milheto pode ser cortado diversas vezes durante uma nica estao chuvosa, produzindo
de 8 a 12 t/ha de massa seca por ano em condies de boa disponibilidade de gua e fertilidade
do solo. Quanto mais tardio for realizado o plantio menor ser a sua produo.
Em pastejo direto o Milheto deve ser utilizado quando as plantas atingem 40 a 50 cm de
altura, e deve-se deixar um resduo mnimo de 25 cm de altura do solo. A lotao animal mdia
utilizada de 5 a 7 an./dia/ha, o que proporciona um ganho de peso ao redor de 800-900
g/an./dia. Para vacas em lactao apresenta um potencial de at 12 kg/an./dia.
O milheto para ensilagem apresenta o inconveniente de apresentar baixo teor de matria seca
no momento do corte (15%), o ideal no mnimo 30% de MS. A recomendao que se faa
um pr-murchamento do capim e/ou adicionar aditivos para aumentar o teor de matria seca.
Estes aditivos podem ser adicionados a base de 5-6%, como exemplo temos o MDPS, farelo de
trigo, farelo de arroz, cama de frango, polpa de citrus e/ou aditivo biolgico (bactrias lcticas).
Os pecuaristas mais evoludos j esto usando o milheto com excelentes resultados na
engorda de bois e recria de bezerros, com ganhos que chegam a 900 g/cab/dia, a campo, sem
qualquer suplementao. Os produtores de leite esto utilizando o milheto porque aumenta a
produo de leite do rebanho.
Um exemplo de utilizao do milheto em pastejo contnuo na Fazenda Remanso, Rio
Brilhante (MS), por um perodo de 114 dias, com uma lotao animal mdia de 4,8 cab/ha (3,0
U.A./ha), obtiveram um ganho de peso mdio de 850 g/cab/dia, resultando em uma
produtividade de 470 kg de PV/ha. O benefcio econmico destes resultados apresentados ficou
ao redor de R$ 115,00 por hectare (Kichel. 1995).
O capim milheto mais uma alternativa para quem quer aumentar a produtividade animal e o
desfrute na pecuria de corte e leite.
12
Avena strigosa
1 - NOME COMUM - Aveia preta.
2 - ORIGEM - Europa.
3 - EXIGNCIAS - As aveias vegetam numa grande variedade de solos mas preferem os
argilosos e limosos onde no haja estagnao de gua. O solo deve ser em preparo para melhor
desenvolvimento da cultura. So menos sensveis acidez do solo do que o trigo (desenvolvem-
se bem em solos com pH entre 5 a 7).Vegetam bem em regies com temperatura de 19
o
C at
zero graus.
4 - UTILIZAO - Forragem oferecida aos animais do cocho, mesmo sem picar; silagem;
feno; pastejo direto (com critrio - 2 a 3 horas por dia, geralmente em faixas rotacionais).
Apresenta tima aceitao pelos animais.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - A aveia gramnea anual (ciclo mdio de 180
dias), cespitosa, altura de at 1.5 m, tenra e suculenta. Nas aveias branca e amarela os colmos
so grossos e suculentos e as folhas largas e verde-escura. Na preta os colmos so finos e as
folhas estreitas e verde-escuras.
6 - MANEJO - Na regio do estado de So Paulo a aveia plantada entre 15/03 a 30/04 e 50 a
60 dias aps se faz o primeiro corte, a 10 cm de altura do solo. Aps um perodo de 35-45 dias
se faz um segundo corte, a 15 cm do solo e, aps igual perodo, se faz um terceiro corte a 5 cm
do solo. comum no se fazer um terceiro corte j que o rendimento de massa verde deste
pequeno. Neste caso, faz-se o pastejo direto. Nas condies do Brasil central a cultura
conduzida com irrigao, em sulcos ou asperso. A adubao de plantio deve ser feita de acordo
com a analise do solo. Responde extremamente bem adubao nitrogenada em cobertura,
utilizando-se comumente 20 kg/ha de N, 35 dias aps o plantio e a mesma dose repetida aps o
primeiro e segundo cortes.
7 - RENDIMENTO - 50-60 ton/ha de massa verde, 5-6 t/ha de feno e 1-1.5 t/ha de gros.
8 - RESISTNCIA - Boa resistncia e baixa temperatura. Problemas de doenas e insetos.
9 - MULTIPLICAO - Sementes 60 kg/ha de sementes.
10 - COMPOSIO QUMICA - 15 a 17% de PB, 0,54% Ca e 0,25% de P.
11 - CONSORCIAO - Ervilhaca, serradela, trevo branco, chicharo.
12 - CULTIVARES - Aveia preta comum, Aveia preta IAPAR-51.
Andropogon gayanus
1 - NOME COMUM - capim-andropogon, capim-gamba.
2 - ORIGEM - frica Ocidental (Shika-Nigria).
3 - EXIGNCIAS - Boa tolerncia a solos cidos; pouco tolerante em fertilidade do solo;
vegetam bem em altitude abaixo de 2.300 m; precipitao anual acima de 750 mm.
4 - UTILIZAO - Pastejo e Fenao.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, cespitoso e mais de 2m de altura.
Apresenta folhas abundantes com pilosidade aveludada, colorao verde azulada e um
estreitamento tipico na base, assemelhando-se a um pecolo.
6 - MANEJO - Em pastejo deve ser utilizado na altura compreendida entre 30 a 70 cm. Para
produo de sementes deve ser cortado ou pastejado 90 - l20 dias antes da florao para no
acamar, o que dificulta grandemente a colheita.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - Estao guas - 2 UA/ha. Estao seca - 1 UA/ha.
8 - RENDIMENTO - 40 a 60 t/ha/ano de massa verde, 15 a 18 t de MS/ha/ano.
9 - RESISTNCIA - Boa seca, corte, fogo e cigarrinha.
10 - MULTIPLICAO - atravs de semnetes, gastando-se 8 a 10 kg/ha de sementes puras
viveis - SPV.
13
11 - COMPOSIO QUMICA - 6 a 10% PB e 50-55% DIVMS.
12 - CONSORCIAO - Calopognio, estilosantes mineiro.
13 - CULTIVARES - Planaltina (CPAC) e Baeti (EMBRAPA-So Carlos).
2.2. LEGUMINOSAS FORRAGEIRAS
Calopogonium muconoides
1 - NOME COMUM - Calopogonium, enxada verde.
2 - ORIGEM - Amrica do Sul tropical.
3 - EXIGNCIAS - Pouco exigente em fertilidade do solo, solo cido. Sua adpatao melhor
em regies tropicais com umidades e temperaturas elevadas, ou seja, regies com precipitaes
de 1.200 mm/ano.
4 - UTILIZAO - Pastejo em consorciao com gramneas ou mesmo cultura pura-banco de
protenas. Na fase vegetativa de baixa aceitao pelos animais, porm quando mais velho
mais consumido, pois a gramnea se encontra seca. Tamb utilizado na forma de feno.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, de ciclo curto, morrendo com secas
prolongadas, porem de ressemeadura naturais. Apresenta hastes finas, rasteiras e volveis, com
intensa pilosidade marron clara, que tambm est presente nas folhas, inflorescncias e frutos
bastante semelhante a soja perene e kuduzu tropical. As folhas so pequenas e de colorao
azulada.
6 - MANEJO - O pastejo normal nos meses quentes e chuvosos beneficia o calopogoniun, na
consorciao, j que ele nesta poca rejeitado pelos animais. Entretanto do mesmo que as
demais leguminosa herbacias tropicais, ele no tolera altas cargas animais.
7 - RENDIMENTO - 40 a 50 t/ha/ano de massa verde.
8 - RESISTNCIA - Baixa a seca e temperaturas baixas e mediana ao encharcamento.
9 - MULTIPLICAO - Atravs de sementes que devem ser escarificadas, inoculadas com
inoculante do grupo 1 e peletizadas com fosfato natural. Gasta-se de 10 a 12 kg/ha de sementes
na formao de cultivo solteiro cujo o espaamento entre fileiras de 0,4 a 0,5 m.
10 - COMPOSIO QUMICA - 16,5% de PB na MS em forragem nova com cerca de 60
dias de crescimento.
11 - CONSORCIAO - Andropogon, setarias, jaragu, braquiria, vencedor.
Glycine wightii
1 - NOME COMUM - Soja perene.
2 - ORIGEM - Asitica.
3 - EXIGNCIAS - Exigente em fertilidade do solo, destacando-se a necessidade de fsforo.
Desenvolve-se melhor em solo com pH em torno de 6 e em locais com precipitaes acima de
700 mm/ha.
4 - UTILIZAO - Pode ser empregada para pastejo, Fenao, forragem verde e mistura a
massa para ensilar. Am soja perene pouco aceitvel e tem boa digetibilidade.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Esta leguminosa hbito rasteiro, trepadeira,
com hastes finas e em alguns casos pode enraizar-se pelas hastes (estolonfera).
6 - MANEJO - O principal cuidado, no s para a soja perene como para todas as leguminosas
de hbito rasteiro, no caso de consorcio; no deixar a gramnea abafar a leguminosa. Para o
emprego em regime pastejo, cultura exclusiva, no deixar a pastagem ser rebaixada a menos de
15 cm pelo animais. Alterar o pastejo evitando que os animais se alimentem de leguminosas
exclusiva por perodo longos, e que pode causar distrbios gstricos. O pasto est em condies
14
de receber animais, com 120 a 150 dias (exclusivo) e 60 a 90 dias (em consrcio). No pastejo
controlado colocar os animais na pastagem com 25 a 30 cm e sada com 10 a 15 cm.
7 - RENDIMENTO - Quando utilizada para feno pode render 10 t/ha/ano m 3 cortes. Para
produo de massa verde pode render de 30 a 40 t/ha/ano de 3 a 4 cortes.
8 - RESISTNCIA - mais tolerante ao frio do que siratro e centrosema; tem razovel
resistncia a seca, porem susceptvel ao ataque de pragas e doenas.
9 - MULTIPLICAO - multiplicada por sementes escarificadas que podem ser inoculadas
ou no, dependendo da possibilidade de execuo desta prtica. O gasto de semente varivel
em funo do valor cultural, podendo empregar a relao 210/VC=kg de sementes por ha. Para
plantio exclusivo gasta-se de 6 a 8 kg de sementes/ha, no espaamento de 0,5 m entre linhas.
10 - COMPOSIO QUMICA - 17% de PB na MS.
11 - CONSORCIAO - Gordura, setria, Rhodes.
12 - CULTIVARES - Tinaroo, comum, cooper, glanova.
TINAROO - considerada de florescimento tardio em relao as cultivares cooper e comum.
Exige clima quente com precipitao acima de 760 mm de chuvas anuais.
COMUM - Floresce de abril a setembro, exigindo em torno de 700 mm de precipitao anual e
susceptvel geada e fogo.
COOPER - Precoce em relao a glanova e tinaroo, tem boa resistncia a seca e mais
tolerante a solos cidos que a tinaroo e comum.
GLANOVA - poca de florescimento semelhante a tinaroo, fica verde durante o inverno (boa
resistncia a seca).
CLARENCE - Precoce, tal como a comum e cooper.
6 - MANEJO - Quando associada, evitar o abafamento de leguminosa pela gramnea. No caso
de empregar esta leguminosa para fenar, fazer o corte rente ao solo.
7 - RENDIMENTO - Pode proporcionar em 3 cortes o rendimento de 35 a 40 ton/ha/ano de
massa verde. A produo de sementes pode chegar a 300-400kg/ha.
8 - RESISTNCIA - susceptvel a doena como milho e odio. No resiste a seca e
nematides.
9 - MULTIPLICAO - Atravs de sementes que podem ser inoculadas com inoculante do
grupo cowpea, gastando-se 10-12 kg/ha de sementes em espaamento de 0.5 m entre linhas
(plantio exclusivo).
10 - COMPOSIO QUMICA - 16 a 18% de PB na MS.
11 - CONSORCIAO - setria, panicum, outras.
Arachis pintoi
1 - NOME COMUM - Amendoim forrageiro
2 - ORIGEM - Amrica Central e do Sul
3 - EXIGNCIAS - Esta leguminosa no muito exigente em fertilidade do solo,
desenvolvendo-se bem em regies com precipitao mdia anual acima de 800 mm
4 - UTILIZAO - Pode ser empregada para pastejo (consorciao ou na forma de banco de
protena), apresentando boa aceitabilidade.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - pode atingir 0,20 a 0,40 m e, quando sob
efeito de pastejo, apresenta-se prostrado. planta estolonifera, prostrada, muito ramificada,
perene.
6 - MANEJO - Quando empregado em pastejo, evitar o rebaixamento excessivo. Quando
utilizado em consrcio, evitar o abafamento pela gramnea. O porte da cultura favorvel ao porte
em torno de 25 a 35 cm, quando a planta j tem bom valor forrageiro e ainda boa
digestibilidade.
7 - RENDIMENTO - Pode produzir de 9 a 12 t/ha/ano de massa seca.
15
8 - RESISTNCIA - Boa resistncia seca e a solos cidos; desenvolve-se bem em solos de
cerrados; no tolera geada.
9 - MULTIPLICAO - Atravs de sementes. A inoculao das sementes deve ser com
inoculante que contenha rizbium do grupo Arachis. O gasto de sementes de 4 a 6 kg/ha. A
multiplicao pode ser por mudas (estacadas enraizadas). no espaamento de 0.5 x 0.5m.
10 - COMPOSIO QUMICA - Apresenta de 18 a 22% de PB na MS.
11 - CONSORCIAO - O amendoim forrageiro pode ser empregado para associao com
andropogon, gramas bermudas, braquirias e outras.
12 - CULTIVAR - Amarilo.
Stylosanthes guianensis var. vulgaris cv. Mineiro
1 - NOME COMUM - Estilosantes mineiro.
2 - ORIGEM - Minas Gerais.
3 - EXIGNCIAS - Esta leguminosa no muito exigente em fertilidade do solo (excelente
adaptao a solos cidos e de baixa fertilidade, mas responde bem adubao.
4 - UTILIZAO - Pode ser empregada para pastejo (consorciao ou na forma de banco de
protena) e adubao verde, apresentando boa aceitabilidade.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Pode atingir 2,50 m de altura e, quando sob
efeito de pastejo, apresenta-se prostrado. uma planta semi-ereta e perene.
6 - MANEJO - Quando empregado em pastejo, evitar o rebaixamento excessivo que pode
eliminar a coroa que se eleva com facilidade. Quando utilizado em consrcio, evitar o
abafamento pela gramnea. O porte da cultura favorvel ao porte em torno de 50 a 60 cm,
quando a planta j tem bom valor forrageiro e ainda boa digestibilidade.
Apresenta alta persistncia sob pastejo em pastagens puras ou consorciada com
gramneas. Quando consorciada com capim Andropogon em Planaltina (DF), proporcionou
ganhos de 800 g/animal/dia na estao das guas e 150 g na seca. Em consumo puro, na poca
das guas, proporcionou ganhos de 550 g/animal/dia, superando aquele obtido com gramneas
como braquiria decumbens e brizantha, na regio de Campo Grande, MS. No perodo da seca,
na regio de Planaltina, o consumo puro da cultivar Mineiro proporcionou ganhos de 200
g/animal/dia.
7 - RENDIMENTO - Pode produzir de 11 a 13 t/ha/ano de massa seca.
8 - RESISTNCIA - Boa resistncia a pragas e doenas, grande resistncia ao pastejo e
pisoteio, boa seca; no tolera geada e solos alagados.
9 - MULTIPLICAO - A maioria das sementes do Mineiro impermevel gua e,
portanto, no germina de imediato, quando plantada. Por isso, antes do plantio, precisa ser
escarificada po. Processo Trmico: mergulhar as sementes em gua a 80
o
C por 10 minutos.
Retirar e secar sombra. A inoculao das sementes deve ser com inoculante que contenha
rizbiois do grupo Stylosanthes. O gasto de sementes de 1,5 a 2 kg/ha de sementes puras
viveis, para espaamento de 0.5m entrem linhas. Para o plantio em consrcio, a lano ou em
linhas, emprega-se de 2 a 4 kg/ha. A multiplicao pode ser por mudas (estacadas enraizadas).
no espaamento de 0.5 x 0.5m.
10 - COMPOSIO QUMICA - Apresenta de 12 a 18% de PB na MS.
11 - CONSORCIAO - O estilosanthes mineiro pode ser empregado para associao com
andropogon, jaragu, braquirias e outras.
Medicago sativa
1 - NOME COMUM - Alfafa
2 - ORIGEM - Oriente Mdio
16
3 - EXIGNCIAS - uma planta de origem temperada, porm apresenta uma enorme gama de
variaes genticas com variedades cultivares adaptadas aos climas temperado, subtropical e
tropical. extremamente exigente em fertilidade do solo, sendo a leguminosa mais adaptada a
solos neutros ou alcalinos (pH 6,5 a 7,5); entretanto ela pode crescer em solos moderadamente
cidos. Requer solos frteis, textura mdia, bem estruturada, profundos e permeveis, com boa
porcentagem de matria orgnica. Cultivada desde 200 a 3.000 m acima do nvel do mar; porm
sua melhor adaptao fica entre 700 a 2.800 m de altitude. Tem alta exigncia por P.K.S.Mo. B.
e Zn. quando cortada freqentemente para produo de feno.
4 - UTILIZAO - Forragem verde e conservada (feno e silagem), pastejo direto, concentrado,
alimento humano, adubo verde.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, herbcea, ereta, sistema radicular
profundo
6 - MANEJO - Plantio feito em Out/Nov, no Brasil Central, 90 a 120 dias aps j faz o
primeiro corte (estdio de florescimento), a 5-7 cm do solo. A cada 30-35 dias se fazem cortes
subsequentes (50% de florescimento - produo de feno), dando 5 a 8 cortes por ano. A durao
da cultura depende do manejo direto, s vezes, s possvel a utilizao aps a sua efetivao
no campo (1.5 a 2.0 anos). No Brasil Central ela cultivada sob irrigao.
7 - RENDIMENTO - Varivel em funo do solo, clima, tratos culturais, variedades, etc.
Podem-se citar os seguintes dados de produo: 5 a l8 ton/ha de MS, 18 a 30 t/ha/ano MV, 8 a
10 t/ha/ano de feno. Estas so provenientes de fecundao cruzada, sendo a atividade de insetos
polinizadores extremamente importantes. Floresce no outono e produz sementes no inverno.
8 - RESISTNCIA - Boa a temperatura baixas e geadas. Aps a fase de plntula ela resiste
bem seca desde que no muito prolongada. No tolera solos pobres, cidos, arenosos e mal
drenados. Tambm bastante atacada por pragas e doenas.
9 - MULTIPLICAO - Por sementes que devem ser escarificadas, inoculadas com
rhizobium, especifico e peletizadas com calcrio e hiperfosfato, Semeadura com semeadeira de
forragens (Terence, Natal, Brillion) em linhas espaadas de 20-30 cm e 2 a 5 cm de
profundidade. Neste caso gastam-se 15 a 25 kg/ha de sementes. Na consorciao a quantidade
de sementes que se usa de cerca de 5 kg/ha. Plantio em maro/abril e setembro na regio sul e
setembro/novembro no Brasil Central. O solo deve ser muito bem preparado.
10 - COMPOSIO QUMICA - 15 a 20% de PB na MS
11 - CULTIVARES - Crioula, Moapa. CUF-101, Florida -77
Leucaena leucocephala
1 - NOME COMUM - Leucena.
2 - ORIGEM - Amrica Tropical.
3 - EXIGNCIAS - Requer solos bem drenados. No tolera solos cidos.
4 - UTILIZAO - Pastoreio, Fenao e farinha de Leucena.
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Perene, arbustiva, ereta.
6 - MANEJO - O plantio da leucena geralmente feito no inicio da estao chuvosa e a
quantidade de sementes necessria ao plantio de 1 ha variar com o espaamento a ser adotado.
O plantio poder ser manual ou mecanizado e as sementes so distribudas em sulco ou
cova, na profundidade de 1.5 cm. Melhores resultados no estabelecimento da leucena so
obtidos quando se realiza o plantio de outubro a novembro, os plantios em janeiro resultam em
atraso no desenvolvimento das plantas.
Antes de se realizar o plantio sempre conveniente proceder ao teste de germinao. Se
for constatada uma percentagem de germinao inferior a 70% recomenda-se ento a
escarificao das sementes. Alguns mtodos existem, mas ainda poder ser recomendado aquele
17
em que as sementes so colocadas em gua quente (80oC), durante 2 minutos, e em seguida
proceder rpida secagem (quebra de dormncia).
A inoculao pratica que se segue a escarificao antes do plantio. A peletizao das
sementes poder ser feita principalmnete quando o plantio realizado em terras cidas e assim
se cria uma proteo s bactrias. Desde que se faa qualquer uma ou todas as prticas de
preparo, as sementes devem ser mantidas a sombra e semeados to logo seja possvel.
Com o propsito de se obter plantas com caules mais finos, recomenda-se aumentar a
densidade de plantio e ento pode-se usar covas distanciadas de 30 cm e espaamento de 1.0
entre linhas com 3 sementes por cova. Quando o plantio mecnico, deve-se colocar 8 a 10
sementes por metro de sulco. O corte das plantas dever ser feito quando o objetivo submeter
as plantas ao pastejo direto e assim se recomendam o espaamento de 2 a 3 m entre linhas, e
covas distanciadas de 1 m na linha e 3 sementes por cova. Neste segundo exemplo, gastar-se-a
menor quantidade de semente, 5 a 7 kg/ha. Espaamentos maiores podero ser usados (at 5
metros entre linhas) quando a leucena plantada em faixas em pastagens j formadas com
gramneas, visando a utilizao do pastejo de gramnea e leguminosa.
O mtodo de propagao mais fcil tem sido o semeio direto. Com a finalidade de se
evitar um possvel ataque de pragas as plantas muito novas, tem-se algumas vezes, optado pelo
transplante. Neste caso, as sementes so semeadas em sacos plsticos, e, quando as plantas
atingirem 15 a 20 cm, elas sero transplantadas para o campo. Em Banco de protena, onde o
pastejo ocorrer no perodo da seca, o espaamento de 3 metros entre linhas facilitar a
movimentao dos animais dentro da rea e as prticas culturais.
A utilizao de leucena, atravs do pastejo, requer um sistema racional de uso.
Geralmente, a leucena semeada em reas de pastagens j formadas de gramneas e ento
animais tero a oportunidade de, quando exercerem o pastejo, se alimentar de gramneas e
leguminosas. O consrcio gramneaxleucena tem sido recomendado desde muitos anos, todavia,
ainda hoje motivo de pesquisas e no Brasil muito pouco se sabe e se faz com repeito ao
manejo de leguminosas arbustivas. Os capins Guin, pangola e brachiaria so gramneas
adequadas para se consorciar com a leucena. A leucena pode ser utilizada como pasto de
suplemento para a produo de leite e carne, e nesse caso a ;rea semeada ser ento dividida e
quatro ou mais sub-areas, utilizadas em rotao com outra pastagem cultivada ou uma pastagem
natural.
A leucena dever ser pastejada levemente at que a planta se apresente com uma boa
estrutura. Inicialmente deve ser pastejada com 1.5 m de altura e novamente pastejada quando
atingir 75 cm com objetivo de provocar ramificaes laterais da base. No segundo ou terceiro
ano as plantas devem estar adequadas para o pastejo normal a ser realizado mum sistema
rotacionado. Os intervalos entre pastejos podem ser aumentados ou diminuidos conforme a
poca, e dependendo do desenvolvimento da planta.
Sendo o pastejo realizado no perodo da seca, torna-se conveniente, no inicio da estao
chuvosa, o corte das hastes deixadas pelos animais. O corte poder ser feito a 20 cm da
superfcie do solo para provocar rebrota. A fim de calcular a rea de leucena a ser plantada
necessrio estimar o rendimento de matria seca por ha e o consumo de matria seca por
animais/dia.
Os fatores que podem limitar a utilizao desta leguminosas podem ser resumidos em:
estabelecimento muito lento.
18
Cajanus cajan
1 - NOME COMUM - Guandu
2- ORIGEM - Amrica tropical
3 -EXIGNCIAS - no tolera geadas. Precipitao acima de 625 mm/ano. Solos bem drenados
e mdia fertilidade
4 - UTILIZAO - Pastoreio, feno e adubo verde
5 - PORTE E HBITO DE CRESCIMENTO - Bianual, ereto e arbustivo.
6 - MANEJO - O plantio do guandu dever ser feito em outubro/janeiro, sendo que o plantio
no deve ser retardado para evitar diminuio na altura das plantas.
A poca de plantio, a variedade, o tipo de solo e a finalidade da cultura diferenciaro na
densidade, espaamento e profundidade de plantio. Deve-se usar o espaamento de 2 a 3 metros
entre linha, com seis sementes por metro. Usando-se esta densidade, sero gastos 4,5 kg de
sementes por ha. O plantio com maior espaamento podero ser usados, principalmente quando
o objetivo cortar as plantas para serem fornecidas no cocho. Em plantios mais densos, com 1.5
m entre fileiras, sero gastos 8 a 10 kg de semente/ha. Os tratos culturais so sempre
importantes e feitos logo no inicio de estabelecimento. A semeadura poder ser feita em sulcos
ou em covas.
As sementes de guandu no apresentam problemas de dormncia. Apesar do guandu ser
do grupo das leguminosas promiscuas, ou seja, aqueles que nodulam com grande nmero de
estirpes de Rhizobium, recomendvel que se faa a inoculao atravs de inoculantes
comerciais, os quais possuem estirpes de bactrias selecionadas para guandu e eficientes na
fixao de nitrognio.
O guandu poder ser utilizado para pastejo conforme trabalhos que j vem sendo
conduzidos em diversos instituies de pesquisa de vrios pases. Porm apresenta baixa
sobrevivncia sob pastejo, mesmo quando sob baixa freqncia de desfolha. A utilizao desta
leguminosa como forragem verde cortada seria, provavelmente, mais vantajosa que o pastejo
direto. Novilhos com dois anos de idade, mantidos em pastagens de guandu durante o perodo
experimental de 100 a 120 dias, ganharam 22 a 45 por cabea a mais do que aqueles mantidos
em pastagens de gramneas.
A rebrota do guandu na primavera, aps o primeiro perodo de uso durante a seca,
considerada boa. Todavia aps o segundo perodo de uso da seca, considerada boa. Todavia
aps o segundo perodo de uso da seca, quando os caules do guandu j se apresentam lenhosos,
verifica-se que a rebrota da primavera seguinte muito fraca.
A legumineira de guandu pode ser estabelecida em partes de pastagem existente na
propriedade, com o propsito de fornecer alimento mais rico em protena, com os animais se
alimentando atravs do pastejo.
7 - CAPACIDADE DE SUPORTE - 20 bezerros/alqueire
8 - RENDIMENTO - 10 a 12 t/ha de MS
9 -RESISTNCIA - Boa a seca, pragas e doenas
10 - MULTIPLICAO - Sementes. 8 a 10 kg/ha de sementes
11 - COMPOSIO QUMICA - 11 a 13% de PB no florescimento e 45 a 50% de DIVMS
12- CULTIVARES - comum, IAC-comum, IAPAR-43-ARAT
3 - CORREO E ADUBAO DE PASTAGENS
19
AVALIAO DA FERTILIDADE DO SOLO
O primeiro passo para a avaliao da fertilidade do solo a realizao de anlises
qumicas de amostras de terra, com a finalidade de se determinar os nveis e ou as concentraes
dos diferentes nutrientes. Essas amostras de terra devem ser o mais representativas possvel da
rea em estudo, uma vez que serviro de base para todo o planejamento das adubaes de
correo, de manuteno e de produo que sero efetuadas.
Os critrios mais utilizados para a interpretao dos resultados de anlise de fertilidade
dos solos so:
a) Nvel de suficincia de nutrientes disponveis;
b) Proporo de ctions no complexo de troca do solo.
O critrio baseado no nvel de suficincia do nutriente no solo considera cada elemento
isoladamente, sem se preocupar com os nveis relativos dos demais nutrientes na soluo e ou
complexo de troca (CTC) do solo. Sabe-se que existe uma interao entre os elementos que
interfere na absoro de nutrientes pela planta. Portanto, existe um equilbrio ou proporo
adequada entre os mesmos, a qual dever ser mantida, a fim de que a absoro de nutrientes
possa ser efetiva. Assim sendo, o critrio de suficincia passa a ser vlido somente para solos de
fertilidade elevada, nos quais no h desequilbrio acentuado entre nutrientes, mas deficincia
em determinados elementos, como P, K
+
ou Mg
2+
. Esta condio rara no Brasil, cujos solos
so caracterizados por grandes desequilbrios e severas deficincias de nutrientes,
particularmente a do fsforo.
Por outro lado, o critrio baseado na proporo de ctions na CTC do solo procura criar
um meio inico, que apresente condies timas para se atingir o potencial de produtividade dos
solos de mais baixa fertilidade, tpicos de regies tropicais. Esse meio inico favorvel varia
com o tipo de cultura e com a intensidade de explorao, mas em termos gerais, situa-se dentro
das seguintes amplitudes: 65-85% de Ca
2+
; 6-12% de Mg
2+
; 2-5% de K
+
e 20% de H
+
(CORSI,
1994).
A capacidade de troca de ctions uma caracterstica particular e bastante importante
para cada solo. Essa CTC, atravs de suas cargas inicas, a responsvel pela reteno dos
nutrientes no solo e d, portanto, uma idia da capacidade de armazenamento de nutrientes e,
consequentemente, do potencial produtivo do solo. Alm disso, atravs dos ctions trocveis em
equilbrio com a soluo do solo, regula a disponibilidade de nutrientes para as plantas,
representando assim, um dos principais componentes do solo quando se usam fertilizantes em
pastagens, uma vez que define os nveis de nutrientes que o solo pode comportar sem perdas
excessivas por lixiviao e, ao mesmo tempo, orienta sobre intervalos ou freqncia, em que as
adubaes devem ser efetuadas. Dessa maneira, solos com CTC elevada so solos que
apresentam grande potencial de produo, uma vez que apresentam a capacidade de armazenar
grande quantidade de nutrientes.
A CTC resultado das cargas inicas fornecidas por diferentes componentes do solo
como a matria orgnica, os minerais de argila e os xidos hidratados de alumnio e ferro.
Trabalhos tm mostrado que a matria orgnica contribui decisivamente para a formao da
CTC do solo, principalmente, devido ao fato de que os minerais de argila predominantes na
grande maioria dos solos brasileiros (xidos hidratados de ferro e alumnio) fornece uma
quantidade muito pequena de cargas. Para cada aumento de 1% no teor de matria orgnica
pode ocorrer aumento correspondente a 2,4 meq na CTC do solo. Acrscimos dos nveis de
matria orgnica no solo s podem ser obtidos atravs da prpria produo e reciclagem de
20
matria seca produzida na pastagem, gerando uma cobertura morta sobre a superfcie do solo, a
qual traz vrios benefcios para a pastagem como: reduo nas taxas de evapo-transpirao,
possibilidade de crescimento de razes superficiais na interface solo/cobertura morta, maior
eficincia na absoro de nutrientes provenientes dos fertilizantes aplicados em cobertura e
recuperao mais rpida da planta aps desfolha. Em pastagens degradadas e de baixa
produtividade, os solos se encontram desnudos e com baixos teores de matria orgnica e,
consequentemente, estes benefcios no podem ser observados.
No entanto, estas cargas provenientes da matria orgnica apresentam uma caracterstica
prpria, a de serem dependentes de pH. O aumento em cargas negativas que compem a CTC
do solo, a partir da matria orgnica, s ocorre efetivamente com valores de pH acima de 5,5.
Abaixo deste valor a matria orgnica muito pouco efetiva na gerao de novas cargas no
complexo de troca do solo, independentemente de sua concentrao no solo.
Portanto, para se manejar intensivamente as reas de pastagens fundamental trabalhar
com o solo de maneira a se aumentar sua capacidade produtiva. Para tanto, necessrio o
conhecimento de suas deficincias e ou desequilbrios, a fim de que estes possam ser corrigidos
e o seu potencial otimizado. Fica claro tambm, que na maioria dos solos brasileiros, a matria
orgnica desempenha papel fundamental no desenvolvimento e otimizao do seu potencial
produtivo. No entanto, para que seja efetiva e possa exercer todos os seus efeitos benficos
como: liberao de minerais, melhoria da estrutura do solo, otimizao da vida microbiana,
aumento do poder tampo do solo, melhoria da CTC e da reteno de umidade, torna-se
necessrio a correo do solo, a fim de que um ambiente favorvel possa ser gerado e que a
decomposio e a mineralizao da matria orgnica possam ocorrer efetivamente. A no
observncia destes conceitos resultar, certamente, em grandes fracassos, invariavelmente
caracterizados por pastagens degradadas e de baixa produtividade.
ACIDEZ E CALAGEM DO SOLO
comum nas regies tropicais e subtropicais a ocorrncia de solos cidos, os quais
geralmente, apresentam baixos teores de clcio e de magnsio trocveis, teores elevados de
alumnio trocvel e de mangans disponvel e baixa porcentagem de saturao por bases. A
prtica de calagem, alm de fornecer Ca e Mg como nutrientes, eleva o pH do solo e, como
conseqncia, aumenta a disponibilidade de P e de Mo e reduz o Al, o Mn e o Fe, os quais em
excesso, tornam-se txicos para as plantas e para o rizbio nas leguminosas. Alm disso, exerce
papel fundamental sobre processos como decomposio e mineralizao da matria orgnica,
essenciais para a elevao da CTC e para a melhoria das propriedades fsicas e qumicas do solo.
Por outro lado, o excesso de calagem induz imobilizao de certos micronutrientes (Zn, B e
Cu), podendo causar suas deficincias.
Atualmente, para a correo do solo o melhor critrio e o mais recomendado aquele
baseado na elevao da saturao por bases. Este mais preciso por levar em considerao as
necessidades da planta. Assim, as pastagens so classificadas em trs grupos, em ordem
decrescente de exigncia em fertilidade do solo, como mostra a Tabela 1.
Tabela 1. Classificao dos capins de acordo com a exigncia em fertilidade.
Grupo I Grupo II Grupo III
Alta exigncia Mdia exigncia Baixa exigncia
Capins mais produtivos
exigem
Capins medianamente
produtivos exigem
Capins menos produtivos
exigem
21
V
2
= 60% V
2
= 50% V
2
= 40%
Elefante (napier)
Tanznia, Mombaa
Tifton-85, Coast-cross
Transvala
Braquiaro
Andropogon
Estrelas e Pesacola
Angola
Braquirias decumbens
e humidcola
Gordura
Setria
comum a ocorrncia de solos com desequilbrios entre as bases trocveis,
particularmente entre o Ca
2+
e o Mg
2+
. Nestas condies, a escolha do tipo certo de calcrio
passa a ser fundamental, pois a maneira mais adequada de se corrigir este problema. Assim
sendo, caso as propores timas mencionadas entre as bases no esteja presente no complexo
de troca, pode-se lanar mo dos diferentes tipos de calcrio para ajust-las. Em solos com
proporo muito alta de clcio em relao ao magnsio, pode-se utilizar calcrios com maior
concentrao de magnsio, como o dolomtico ou o magnesiano. Em situaes onde os nveis de
magnsio so mais elevados do que os de clcio, pode-se lanar mo do calcrio calctico para
corrigir este desequilbrio. importante lembrar que o uso indiscriminado de calcrio, em doses
e do tipo errado, pode resultar em problemas muito srios e afetar negativamente a pastagem.
Em pastagens estabelecidas, onde no h possibilidade de incorporao do corretivo no
solo, a aplicao deve ser feita lano e superficialmente. Nestas circunstncias, o calcrio
dever ser aplicado, preferencialmente, no final do perodo das guas, poca do ano em que
ainda existe umidade disponvel no solo e, tambm, a temperatura favorvel. O calcrio a ser
aplicado dever ser de granulometria o mais fina possvel, caracterstica esta que confere alta
reatividade (P.R.N.T.) ao corretivo, a fim de que seu efeito possa ser rpido e efetivo.
A aplicao de calcrio ao final do perodo das guas se deve ao fato de que, quando o
corretivo aplicado em superfcie, o pH superficial do solo torna-se bastante elevado, alcalino,
situao esta desfavorvel aplicao de certos fertilizantes, principalmente os nitrogenados,
normalmente aplicados durante a poca de maior disponibilidade dos fatores de crescimento
para as plantas como gua, temperatura e luminosidade. O pH elevado na superfcie do solo faz
com que boa parte do nitrognio aplicado seja perdido por volatilizao, o que reduz
drasticamente a eficincia e a economicidade da adubao nitrogenada. Assim sendo, aplicando-
se o corretivo no final das guas, haver tempo suficiente para que este complete sua reao com
o solo, durante a poca do ano em que normalmente no se adubam as pastagens, devido
ausncia de um ou mais fatores de crescimento, tornando possvel a aplicao de fertilizantes no
incio da nova estao das guas sem que ocorram perdas elevadas.
POCA E PROFUNDIDADE DA CALAGEM
Na formao de pastagens ou capineiras a aplicao de calcrio deve ser feita no
mnimo, 30 a 60 dias antes da adubao de plantio. Quanto maior a dose, maior dever ser o
prazo dado para a realizao do calcrio no solo. A incorporao feita com grades pesadas e
logo aps a aplicao, numa profundidade de 20 cm do solo.
DETERMINAO DA NECESSIDADE DE CALAGEM
Atravs de resultados de anlise do solo, da qualidade do calcrio e da maior ou menor
susceptibilidade das forragens acidez (Tabela 1), determina-se a quantidade de calcrio a ser
aplicado.
22
Atualmente, o mtodo mais recomendado para clculo de calagem o denominado
Elevao de Saturao em Bases, por constituir um critrio analtico mais seguro.
Para o clculo da necessidade de calagem utiliza-se a seguinte frmula:
NC(t/ha) = (V2 - V1) x T
P.R.N.T.
T = capacidade de troca de ctions
V1 = saturao por bases da anlise do solo
V2 = saturao em bases necessria para a planta forrageira a ser colocada na rea de pastagem.
Deve-se levar em considerao trs grupos de capins (veja tabela acima).
USO DO GESSO AGRCOLA EM PASTAGENS
O gesso agrcola um sulfato de clcio, e portanto no corrige a acidez do solo, apenas
fornece Ca e S ao solo. O SO
4
forma par inico com o Ca
+2
e Mg
+2
arrastando-os para
profundidades maiores que 30 cm. A frmula para o clculo a seguinte:
NG (kg/ha) = 300 + (20 x % de argila)
NG = necessidade de gessagem em kg/ha
Solos com menos de 15% de argila = no mximo 500 kg/ha
Solos com 15 a 35% de argila = 1,0 t/ha
Solos com 35 a 60% de argila = 1,5 t/ha
Solos com mais de 60% de argila = 2,0 t/ha
23
ADUBAO FOSFATADA
Os solos brasileiros, inclusive os de So Paulo, so extremamente pobres em fsforo
disponvel para as forrageiras, razo pela qual recomenda-se uma maior quantidade deste
elemento. Quando comparado um hidrognio ou potssio, apesar de as plantas forrageiras
necessitarem em maior quantidade destes dois ltimos macronutrientes. As pesadas
recomendaes de adubao fosfatada so tambm resultantes de baixo pH do solo e elevados
teores de sesquixidos de ferro e alumnio, resultando em reteno ou fixao do fsforo em
formas slidas, pouco solveis, no prontamente disponvel para as forrageiras.
O fsforo indispensvel s gramneas e leguminosas, estando intimamente relacionado
a fotossintese, a respirao, ao transporte de energia a sntese de protenas e carboidratos;
estimula tambm o enraizamento e perfilhamento destas plantas.
Geralmente, a absoro de fsforo mais intensa nos primeiros estgios de
desenvolvimento das forrageiras.
Um fato comprovado a diferena encontrada entre espcies e variedades de forrageiras
quanto a tolerncia a baixa disponibilidade de fsforo.
A analise de solo a maneira correta de se medirem os teores de fsforo disponvel,
cujos nveis se posicionam em funo da textura do solo.
Recomendao de adubao fosfatada (em kg/ha P
2
O
5
) em pastagens, para implantao e
em pasto formado.
Fsforo no solo Grupo da forrageira Implantao Formado
Muito baixo I 100 50
e II 80 30
baixo III 60 20
I 60 30
Mdio II 50 20
III 30 20
Alto I 30 -
e II 20 -
Muito alto III 20 -
Fonte: MONTEIRO (1995)
MTODOS DE APLICAO DO FSFORO
Aplica-se no plantio para favorecer o desenvolvimento das razes. Se o plantio das
pastagens for feito a lano, incorpora-se o fsforo antes da semeao e de preferencia no mesmo
dia do plantio. Se o plantio for feito usando plantadeiras mecanizadas, o fsforo ser
incorporado abaixo e ao longo da semente no momento do plantio; neste caso, a distribuio
ser feita em linha, favorecendo disponibilidade as plantulas, diminuindo tambm a fixao do P
(fsforo insolvel), alm de controlar melhor a quantidade do adubo fosforado a ser distribudo,
permitindo menor beneficiamento as invasoras que surgiro entre as linhas.
No caso de formao de capineiras, cujas espcies so comumente multiplicadas por
mudas, abrem-se sulcos e dentro deste faz-se adubao fosfatada.
24
Em pastagens j formadas, faz-se rebaixamento das forrageiras atravs de pastejo
intenso, posteriormente, distribui o adubo fosfatado a lano (manual ou atravs de distribuidora
de calcrio) e no h necessidade de incorporar com gradagem. A incorporao de P pela
gradagem apresenta incovenientes como no caso de fortes chuvas aps a gradagem de ocorrer
grandes perdas de P pela eroso; da gradagem aumentar a fixao do P devido ao maior contato
com as partculas do solo e no caso de ocorrer vernicos logo aps a gradagem, corre-se o risco
de termos a pastagem infestada por plantas invasoras.
Em pastagens com cobertura morta apresentam um intenso desenvolvimento de razes
ativas na superfcie do solo, onde a umidade conservada. Nesta condio, a absoro de P
muito eficiente, pois ocorre acmulos de fontes orgnicas de fosfatos provenientes do acmulo
de matria orgnica. Estas formas de P so mais mveis no solo do que as formas inorgnicas ou
minerais.
O calcrio aplicado na superfcie do solo reage com o P e forma carbonatos de P que so
mais solveis do que compostos de P ligado a Fe
+3
e ao Al
+3
.
Fontes de fsforo mais comuns no Brasil.
Fontes Teor de fsforo (% P
2
O
5)
Teor de fsforo (% P
2
O
5)
Total Solvel (citrato de amnio)
SOLVEIS
Superfosfato simples 20 18
Superfosfato triplo 48 45
Fosfato monoamnio 50 48
Fosfato diamnico 45 42
Termofosfato magnesiano 19 16
PARCIALMENTE SOLVEIS
Fosfato natural parcialmente
acidulado
26 12
Hiperfosfato natural 30 11
INSOLVEIS
Fosfato de Arax 36 4
Fosfato de Patos de Minas 24 4
ADUBAO POTSSICA
O potssio responsvel pela sntese de carboidratos e neutralizantes de cidos
orgnicos. Juntamente com o nitrognio e o fsforo, o potssio um nutriente altamente exigigo
pelas plantas.
POCA E DOSES DE APLICAO DO POTSSIO
Quando for baixo o nvel de potssio no solo, faz-se adubao na poca de plantio das
forrageiras. Havendo nvel mdio de potssio (% CTC = 4%) no solo, a melhor poca de
adubao seria no estgio de desenvolvimento e produo de plantas forrageiras (perodo
chuvoso) de preferncia junto com o nitrognio.
25
Recomendao de adubao potssica (em kg/ha K
2
O) em pastagens estabelecidas com
gramneas exclusivas.
Potssio no solo Grupo da forrageira kg/ha K
2
O
Muito baixa I 60
e II 50
baixa III 40
I 40
Mdio II 20
III -
Fonte: MONTEIRO (1995)
Principais adubos potssicos no Brasil.
Fonte Teor de potssio (% K
2
O)
Cloreto de potssio 58
Sulfato de potssio 48
ADUBAO NITROGENADA
O nitrognio um dos nutrientes que mais contribui para a produtividade dos pastos,
portanto est intimamente relacionado com o crescimento vegetal e o perfilhamento. As
gramneas tropicais respondem muito intensamente a doses crescentes de nitrognio. O
nitrognio atua na sntese de protena e enzimas, alem de ser constituinte da clorofila, nas
plantas forrageiras.
Na atmosfera, o nitrognio apresenta-se em forma de gs inerte, N
2
, em teor mdio de
78%, podendo ser levado ao solo por varias formas: atravs das descargas eltricas, que
transformam N
2
em NO
3
e levados pela chuva ou ainda so levados ao solo tambm pela chuva
em forma de NH
3
, NO
2
e combinao orgnica. Pode tambm haver fixao de nitrognio
atravs de organismos livres do solo, como as algas e certas bactrias. Entretanto, as formas
mais seguras e capazes de suprir as necessidades das gramneas e leguminosas forrageiras so:
fixao simbitica Rhizobium sp x leguminosas e Spirilim lipofereum x gramneas, e ainda o
emprego de adubos nitrogenados.
A introduo de leguminosas em pastagens oferece a grande vantagem de fixar
nitrognio simbioticamente, diminuindo, por conseguinte, o custo de produo das mesmas, j
que se pode eliminar ou minimizar adubaes nitrogenadas.
Resultados experimentais tm permitido concluir que, a cada kg de nitrognio aplicado
por hectare, ocorrem aumentos da ordem de 2,0 a 2,5 kg no ganho de peso vivo.
26
POCA E DOSES DE APLICAO DO NITROGNIO
No perodo das guas, durante o perodo de pastejo, visando produzir o mximo de
matria seca e conservar o excesso de forragem para ser utilizado no perodo seco. Esta ltima
recomendao exige infra-estrutura e planejamento para se colher com o mnimo de perdas a
forragem produzida; por conseguinte, havera uma superior resposta em produo de massa em
virtude do equilbrio entre componentes do sistema ecolgico.
Por outro lado, a recomendao de doses de nitrognio para reas com capins tem
variado de 50 a 300 kg/ha/ano de N. O menor valor mencionado, 50 kg/ha/ano de N,
considerado como uma dose mnima, inclusive para se evitar a degradao da forrageira na rea.
Doses em torno de 100 kg/ha/ano de N tem sido aconselhadas para forrageiras em que se deseja
ter aumento de produtividade, mas no em explorao intensiva. Por outro lado, as adubaes
mais elevadas, 150 a 300 kg/ha/ano de N, so recomendadas e utilizadas em exploraes bem
intensivas, particularmente em reas com capim-elefante, tanznia-1, Mombaa e tifton-85.
Deve-se destacar que, quanto maior a dose do fertilizante nitrogenado maior a necessidade de
adubaes parceladas.
MODO DE APLICAO DO NITROGNIO
Parceladamente, em funo das perdas por lixiviao. Em solos arenosos parcelar mais
ainda. O nmero de parcelamento e a quantidade de nitrognio em capineiras, deve ser maior (4
a 5 adubaes/ano e 100 a 200 kg de N/ha) do que em pastagens (3 a 4 adubaes/ano e 50 a
300 kg de N/ha).
Principais fontes de nitrognio no Brasil.
Fontes % de nitrognio (N)
Uria 45
Nitrato de amnio 32
Nitroclcio 20
Sulfato de amnio 20
Fosfato diamnioco (DAP) 16
Fosfato monoamnico (MAP) 9
Salitre do Chile 16
ENXOFRE
um macronutriente secundrio, de grande importncia para as plantas forrageiras.
O enxofre constituinte essencial da maior parte das protenas das forrageiras, sendo as
leguminosas mais exigentes do que as gramneas.
As necessidades de enxofre parecem ser da ordem de 10 a 40 kg de S/ha, mascando o
sulfato de amnio ou o superfosfato simples so usados, estas necessidades so usualmente
satisfeitas.
comum a ocorrncia de carncia de enxofre nas pastagens que, h anos, no recebem
adubos fosfatados, e onde as aplicaes de estercos no acontecem.
27
Dentre os macronutrientes, o enxofre o terceiro que mais limita o crescimento inicial
do campam colonio, perdendo em ordem decrescente de ao, para o fsforo e nitrognio.
MICRONUTRIENTES
Entre os elementos essenciais ao crescimento e desenvolvimento das plantas forrageiras
encontram os micronutrientes que, apesar de serem exigidos em quantidades bem menores que
os macronutrientes, so indispensveis vidas dessas plantas, contribuindo tambm para uma
maior produtividade.
So eles: molibdnio, boro, cobre, zinco, ferro, mangans e cloro.
RECOMENDAO DE MICRONUTRIENTE EM PASTAGENS
Recomenda-se 0,5 kg/ha de mobdnio de amnio ou sdio: 8 kg de borato de sdio
(brax): 7 kg/ha de sulfato de cobre e 7 kg/ha de sulfato de zinco, sendo talvez necessrio repetir
a aplicao destes elementos quatro a cinco anos aps o plantio. As adubaes foliares so
tambm eficientes. Recomenda-se tambm aplicar 40 kg/ha de FTE BR-12 ou BR-16 no plantio.
INTENSIFICAO DA PRODUO DE PASTAGENS
O aumento da produtividade das pastagens est diretamente ligado ao uso de corretivos e
fertilizantes, principalmente dos nitrogenados. Praticamente, 90% do aumento esperado de
produo de forragem ocorre durante o perodo de crescimento (guas). Portanto, quando se
aduba pastagens para obteno de alta produo, o aproveitamento da forragem tem que ser
maximizado atravs de taxas de lotao adequadas durante o perodo das guas.
Vamos considerar uma produo de forragem de 7500 kg de matria seca por ha/ano,
que pode ser mantida com correo do solo, adubao de manuteno com fsforo e potssio,
uso de gramneas adequadas e manejo racional. Mudando o manejo para utilizao intensiva
durante a estao das guas (aproximadamente 200 dias de durao) e considerando que 80%
dos 7500 kg ocorrem nesse perodo, haver uma disponibilidade mdia de 30 kg de MS por
ha/dia. Considerando uma perda de pastejo de 30% e consumo de 9 kg de MS por UA, a
capacidade de suporte estimada durante o perodo das guas ser de aproximadamente 2,3
UA/ha.
Em um manejo de adubao de pastagens no qual os nutrientes estejam adequadamente
balanceados, a expectativa de aumento de produo de 30 kg de MS/ha/ano por kg de N
aplicado. Considerando que 90% desse aumento de produo ocorre duarante o perodo das
guas e que a perda de pastejo nesse caso de 20%, pode-se estimar que a capacidade de
suporte durante o perodo das guas aumenta em aproximadamente 1,2 UA/ha para cada 100 kg
de N/ha.
28
4 - RECUPERAO DE PASTAGENS DEGRADADAS
Dentre as causas que tem levado as pastagens cultivadas degradao, o esgotamento da
fertilidade do solo e o manejo inadequado das plantas so as mais comuns. O esgotamento da
fertilidade natural tem conduzido os pecuaristas a uma cclica substituio das espcies
forrageiras, sempre no sentido de buscar aquelas tidas como menos exigentes em nutritentes e,
freqentemente, de menor valor nutritivo. Por exemplo: o capim-colonio cedeu lugar as
braquirias no Estado de So Paulo nas duas ltimas dcadas.
QUANDO INTERFERIR NUMA PASTAGEM DEGRADADA?
PRODUTIVIDADE DA PASTAGEM
A degradao das pastagens ocorre com a alterao do revestimento inicial do solo em
termos de espcie forrageira. Assim, a forrageira de interesse vai sendo eliminada da pastagem e
acaba sendo substituda por outras de baixo valor forrageiro. Geralmente, esta mudana
provocada pela m utilizao da pastagem e pelo esgotamento da fertilidade do solo. Pode ser
considerado, que em muitas situaes, o incio do declnio aos 4 anos, inicio da degradao aos
6 anos e degradao avanada aos 8 anos.
Uma pastagem est em processo de degradao quando as seguintes caractersticas:
1 - A produo de forragem diminui com a reduo da qualidade e quantidade, mesmo nas
pocas favorveis ao seu crescimento.
2 - H diminuio na rea do solo coberta pela pastagem e existe pequeno nmero de plantas
novas, provenientes da ressemeadura natural.
3 - H o aparecimento de espcies invasoras de folha larga, competindo por nutrientes e de
processos erosivos pela ao das chuvas.
4 - Existem grandes propores de espcies invasoras, colonizao da pastagem por gramneas
nativas e processos erosivos acelerados.
As causas da degradao das pastagens esto associados aos vrios procedimentos
incorretos tomados pelos pecuaristas. Estes procedimentos atuaro sobre a produtividade e
longevidade das pastagens e tem inicio na poca da sua implantao at a sua utilizao ao
longo dos anos.
ESPCIES INVASORAS
O grau de infestao em reas de pastagens importante na deciso da estratgia da
recuperao. Aps a avaliao das espcies, podem ser definidos o modo e o tempo necessrio
para se reformar a pastagem. O tipo da invasora no relevante quando esto crescendo nas
mesmas condies que as pastagens, isto , em solos de baixa fertilidade, falta de limpeza do
pasto e manejo inadequado.
29
ASPECTOS FSICOS E QUMICOS DO SOLO
Os aspectos fsicos dos solos mais importantes para a reforma das reas de pastagens
so: a compactao do solo e eroso. O efeito aparente da compactao do solo vai aumentando
a medida em que a pastagem vai perdendo o vigor de rebrota e, consequentemente seu sistema
radicular vai diminuindo. Com isso, o solo se apresenta com o aspecto de lavado devido a
intensa lixiviao e baixos teores de matria orgnica.
A baixa fertilidade do solo e o aspecto mais importante na reforma da pastagem. Os
nutrientes mais limitantes so o fsforo, nitrognio, clcio, magnsio, potssio e enxofre.
A deficincia do nitrognio ocorre pela queda da matria orgnica do solo, devido ao
manejo inadequado do sistema solo-pasto-animal. Solos que se apresentam com aparncia de
compactados, geralmente devido aos baixos teores de matria orgnica. Com isto somente a
adubao nitrogenada pode resolver o problema, proporcionando nesta forragem um grande
desenvolvimento vegetativo. Entretanto, no se pode esquecer que este efeito imediato,
devendo portanto, corrigir os demais nutrientes principalmente o fsforo.
MTODOS DE REFORMA
Pastagem degradada
RECUPERAO RENOVAO
(mesma forrageira) (substituio por outras forrageiras)
1. Direta - operaes mecnicas e/ou qumicas 1. Direta - operaes mecnicas e qumicas
(adubao e calagem, herbicidas)
2. Indireta - as mesmas operaes feitas em 1
mais operaes culturais, consorciao ou
rotao de lavouras.
2. Indireta - processos mecnicos e qumicos
citados em 1 mais rotao ou consorciao
com lavouras anuais.
A reforma de pastagens no pode ser entendida como uma atividade isolada, mas sim
fazendo parte de um conjunto de aplicaes tecnolgicas, as quais caminham juntas para
aumentar a produtividade das propriedades agrcolas. Esta deve visar o aumento de
produtividade, preservar o solo, consequentemente o ambiente, e ser vivel economicamente.
Para atender esses requisitos existem duas linhas de atuao. Antes disso, vamos definir dois
conceitos bsicos: recuperao e renovao de pastagens: o 1 consiste na recuperao da
pastagem mantendo o mesmo capim e, o 2 consiste no restabelecimento da produo do pasto
com a introduo de um novo capim.
As prticas agronmicas desenvolvidas para a recuperao ou renovao de pastagens,
objetivam o aumento da biomassa em perodo de tempo determinado, com viabilidade
econmica ao pecuarista. Elas podem ser divididas em dois sistemas: recuperao direta e
recuperao ou renovao com integrao agricultura-pecuria.
A primeira prtica trata da recuperao do prprio pasto, aps o pecuarista fazer uma
anlise da pastagem e verificar que ela satisfaz do ponto de vista da ocupao do terreno, mas
pouco produtiva. Neste caso, recomendada uma reforma atravs da correo, adubao e
manejo. Embora este tipo de reforma implique em gastos, importante do ponto de vista da
conservao do solo, j que no expe a terra aos riscos de eroso, alm de apresentar a
vantagem do retorno rpido do gado ao pasto (em torno de 80 dias).
30
Um exemplo disto o trabalho que conduzi com o objetivo de avaliar os efeitos de
diferentes estratgias na recuperao de uma pastagem degradada de capim-braquiria
decumbens estabelecida h dez anos. O trabalho foi conduzido na Regio de Marlia, municpio
de Herculndia, SP. Foram estudados quatro tratamentos: 1) testemunha; 2) adubao completa
em cobertura; 3) gradagem Rome pesada e 4) gradagem + adubao. A adubao completa
favoreceu a produo de matria seca da parte area e razes. J a gradagem prejudicou a
produo de matria seca da parte area e das razes, no recuperando a pastagem. A gradagem
+ adubao aumentou a produo de matria seca, no 1 ano, entretanto foi inferior no 2 ano.
A recuperao ou renovao com integrao agricultura-pecuria deve ser utilizada
quando o pasto apresenta elevado nvel de infestao de plantas invasoras (por exemplo:
gramo, agriozinho, assapeixe e outras) e presena de eroso. Neste caso, recomenda-se que
seja feita a integrao lavoura-pecuria, ou seja, introduza na propriedade os cultivos agrcolas,
atravs da utilizao de culturas anuais integradas entre si e complementadas, para que o solo
fique coberto o ano todo. Esta consiste no plantio de gros por um ou mais anos, e depois
retornar com a pastagem.
A rotao de culturas uma prtica que pode auxiliar a recuperao do solo, propiciando
seu equilbrio orgnico, favorecendo o controle da eroso e aumentando a produtividade,
interropendo o ciclo de pragas, doenas e diminuindo a infestao de plantas invasoras. A
infestao de invasoras torna-se problemtica, sobretudo nas pastagens do Centro-Oeste do
Estado de So Paulo, que possuem baixa produtividade, com lotaes menores que uma
cabea/hectare. Nesta regio, em funo do material de origem do solo, as pastagens tornam-se
debilitadas, sendo facilmente dominadas por espcies mais rsticas como a grama batatais. Os
pecuaristas da regio tm tentado a reforma de algumas reas, lanando mo de tcnicas
imprprias, que nem sempre surtem os efeitos esperados. Desta maneira o ciclo de reforma de
pastagens tem sido a cada 4 ou 5 anos.
Esse tipo de recuperao de pastagens tem como vantagem, o uso da terra por um ou
dois anos com lavoura anual proporcionando o retorno do capital investido e/ou arrendamento
da terra. Alm do fato de que o pecuarista ter novamente pastos mais produtivos, como o
capim-Brizanto, Tanznia-1, Mombaa e Tifton-85.
Os custos da reforma de pastagem iro variar conforme os nveis de fertilidade do solo,
exigncias da forrageira e o nvel de produtividade desejado. Para recuperao ou renovao
direta estima-se uma variao entre R$ 100 e R$ 250 por hectare. Na reforma da pastagem com
integrao lavoura-pecuria, os custos podem variar entre R$ 250 a R$ 450 por hectare, sendo
amortizados, parcial ou totalmente, atravs da produo de gros.
A adoo destes tipos de reforma de pastagens aumenta a perenidade dos pastos para em
torno de 8 a 10 anos, desde que se faa uma adubao de manuteno. possvel, em pastos
reformados, chegar a uma lotao de 6 a 8 cabeas por alqueire, quando a mdia da regio
Noroeste no passa de 3 cabeas.
31
VANTAGENS DA INTEGRAO LAVOURA-PECURIA:
1) recuperao mais eficiente da fertilidade do solo;
2) recuperao ou implantao de pastagens com custos baixos;
3) facilidade na renovao da pastagem;
4) melhoria nas propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do solo;
5) controle de pragas, doenas e invasoras;
6) reciclagem de nutrientes do solo;
7) aproveitamento do adubo residual;
8) aumento da produo de gros e resduos no sistema;
9) facilidade de aplicar prticas de conservao do solo;
10) diversificao do sistema produtivo;
11) aumento da produtividade e lucratividade.
5. ESTABELECIMENTO DE PASTAGENS
ASPECTOS A CONSIDERAR ANTES DE FORMAR UMA PASTAGEM
Para o sucesso no estabelecimento de pastagens devem ser levados em conta as
condies de solo e clima da propriedade, bem como o uso previsto para a pastagem e, em
funo destes fatores, escolher a espcie ou espcies adptadas a estas condies.
Uma vez feita a escolha da espcie ou espcies a serem utilizadas, outros fatores devem
ser considerados. Dentre estes, os que mais de evidenciam so: qualidade das sementes, preparo
do solo, poca e mtodo de plantio, taxa de semeadura e manejo de formao. Estes fatores, em
conjunto ou isoladamente, podero determinar o sucesso ou insucesso na formao de
pastagens, ou ainda afetar a produtividade da pastagem ao longo do tempo.
A deciso de formar uma nova rea de pastagem ou recuperar uma pastagem j existente
deve ser acompanhada de uma anlise criteriosa sobre a finalidade do investimento proposto e
com as caractersticas de solo e clima da rea em questo. Estas informaes so essenciais para
auxiliar na deciso sobre quais espcies introduzir e qual mtodo de formao adotar.
ESCOLHA DA ESPCIE
Para que uma pastagem possa ser persistente e produtiva, necessrio que a espcie
utilizada seja bem adaptada s condies climticas e edificas do local. Na regio Noroeste de
So Paulo generalizada a ocorrncia de um perodo seco, cuja a produo de forragem
seriamente reduzida por limitaes de ordem climtica, tais como umidade insuficiente e/ou
baixas temperaturas. Este fato tem determinado que a escolha de uma forrageira recaia
prioritariamente numa espcie ou cultivar que tenha um certo grau de tolerncia seca, embora
muitos casos o interesse seja tambm melhorar a produo total anual de forragem. Outras
caractersticas de importncia so a tolerncia geada e s inundaes peridicas. Contudo, nem
sempre possvel reunir toadas as caractersticas favorveis numa mesma espcie .
32
QUALIDADE DA SEMENTE
muito freqente o uso de sementes de m qualidade, principalmente no que se refere
pureza e germinao. Devido aos diferentes processos de colheita e, as diversas origens das
sementes utilizadas, comum encontrar sementes com excesso de resduos vegetais, terra ou
ainda mistura de sementes de outras forrageiras ou invasoras.
prtica comum a comercializao de sementes sem anlise laboratorial. Corre-se ento,
o risco de no se semear a quantidade ideal de sementes viveis por unidade de rea, o que
comum porque em geral, as recomendaes de densidade de semeadura no levam em conta a
pureza e germinao ou seu valor cultural.
Para superar este problema, o produtor deve procurar firmas idneas que comercializam
sementes fiscalizadas.
POCA DE PLANTIO
A poca de plantio tradicionalmente utilizada na implantao de pastagens bastante
ampla: vai desde as primeiras chuvas, no inicio de setembro at maro. So diversos os fatores
que levam os produtores a plantarem em diferentes pocas. Muitos plantios so feitos
tardiamente devido a impossibilidade de completarem o preparo do solo em tempo hbil ou falta
de sementes disponveis na poca mais adequada.
A poca de plantio importante e deve ser considerada para uma boa germinao de
semente e rpida formao da pastagem. Desta forma, ocorrem menores perdas de solo por
eroso e utilizao mais rpida da pastagem. Outra medida usada para reduzir a eroso o
plantio no final das chiavas, obtendo-se apenas um crescimento inicial da pastagem que
completar a sua formao no inicio da estao chuvosa seguinte, cobrindo rapidamente o solo e
evitando assim a eroso.
TAXA DE SEMEADURA
A quantidade de sementes utilizadas por unidade de rea tem sido outro fator limitante
no estabelecimento de pastagens. De um modo geral, estima-se que para as gramneas tropicais,
10 a 20 plantas/m
2
para sementes gradas (braquirias) e 30 a 40 plantas/m
2
para sementes
pequenas (colonio e setria) suficiente e dependendo do hbito da espcie. A germinao das
sementes viveis varia muito em funo das condies climticas e tambm em funo da
espcie, mas de um modo geral 20% das sementes viveis germinam a campo. Tendo em vista
estes fatores, recomendvel aumentar a taxa de semeadura para corrigir estas deficincia.
Sementes pequenas normalmente apresentam mais perdas que sementes maiores, ou seja, com
espcies de sementes pequenas necessita-se de um maior nmero de sementes viveis por m2,
para obter o mesmo numero de plantas com espcie de sementes maiores.
33
Algumas recomendaes de taxas de semeaduras de uso corrente so mostrados abaixo.
Recomendaes de taxa de semeadura.
___________________________________________________
Espcie forrageira sementes puras viveis (S.P.V. - kg/alq.)
___________________________________________________
Colonio 6.0
Tobiat 6.0
Tanznia-1 6.0
Mombaa 6.0
Vencedor 6.0
Brizanto 8.0
Decumbens 5.0
Humidicula 4.0
Dictionera 4.5
Setria 4.5
Andropogon 4.0
____________________________________________________
Frmula utilizada :
Q = S.P.V.- kg/alq.
VC
VC = Valor cultural (vc = pureza x germinao/100)
PROFUNDIDADE DE PLANTIO
crena generalizada que os plantios de forrageiras devem ser feitos na camada
superficial. Esta crena provavelmente se origina do fato de que realmente algumas capim-
jaragu, braquiria, colonio, andropogon, etc., estabelece-se bem em plantios superficiais.
Em geral a cobertura das sementes (principalmente 2 a 4 cm de profundidade) favorece a
emergncia e o estabelecimento da pastagem. Mas, trabalhos desenvolvidos no centro nacional
de Gado de corte - campo Grande - MS evidenciam a importncia da profundidade de
semeadura, que varia de acordo com a espcie, e mostram uma baixa eficincia quanto as
sementes plantadas e como tambm plantas estabelecidas nos plantios superficiais, prtica esta
tradicionalmente usada na formao de pastagens em nosso meio.
EQUIPAMENTO E MTODOS DE PLANTIO
Muitas falhas no plantio de pastagens so devidas ao uso de equipamentos inadequados,
ou mesmo devido a ausncia de equipamentos para o plantio de certas espcies.
A maioria dos equipamentos para o plantio desenvolvidos no Brasil so mquinas
destinadas ao plantio de cereais e , consequentemente no se prestam para o plantio de
forrageira, especialmente as de sementes de tamanho pequeno.
Espcies que se estabelecem bem em plantios superficiais podem ser distribudos
manualmente a lano na superfcie, posteriormente serem compactadas com rolo. Para este tipo
de plantio usado tambm as plantadeiras Terence e/ou Natal que, alm de distriburem a
34
semente, as compactam com os rolos compactados que j so acoplados. As espcies que se
estabelecem melhor em plantios mais profundos, normalmente so semeadas com a plantadora
de cereais ou ento distribudas a lano e cobertas com uma gradagem leve.
COMPACTAO DO SOLO
Esta uma operao em que aps o plantio passa-se um rolo compactador sobre o
terreno, de tal forma que o mesmo ir acomodar o solo sobre a semente, melhorando
consideravelmente as condies de germinao e emergncia. As vantagens que esta operao
oferece: a) acelera o incio da germinao das sementes; b) evita perdas de plantio por
assoreamento e c) uniformiza o stand de plantas.
A compactao do solo antes ou aps a semeadura tem maior importncia quanto mais
superficial for o plantio e quando a profundidade de semeadura for irregular. A compactao do
solo uma forma de se evitar o assoreamento de sementes ou enterrio demasiado devido a
eroso.
Em condies de chuvas bem distribudas, por tempo suficiente, no geral, tanto a
germinao das sementes quanto a dixao da plntula ao solo ocorre eficientemente,
independentemente da profundidade de plantio ou do contato da semente com o solo. Mas,
quando faltam chuvas regulares, o estabelecimento da pastagem melhor onde foi feito a
compactao do solo.
FORMAO DE PASTAGEM ASSOCIADA COM CULTURA ANUAL
O uso de uma cultura anual associada com o plantio de forrageiras, com a finalidade de
reduzir os custos de formao de pastagem, tem sido uma prtica recomendada, dada as
possibilidades de sucesso, desde que usada convenientemente. A deciso de quando o como
adot-la vai depender da viabilidade tcnica de se cultivar uma forrageira em determinada rea,
onde condies de clima, solo e topografia sejam favorveis ao cultivo de cereais cuja
expectativa de colheita proporcione rentabilidade suficiente para indenizar parcela significativa
dos gastos de formao. Um exemplo o Sistema Barreiro que preconiza o plantio das culturas
arroz e milho associado com o capim braquiria.
Dessa forma, nem todas as reas que se prestam para formao de pastagens compensam
a incluso de uma cultura anual.A associao entre a espcie forrageira para pastagem e uma
cultura anual muito especifica e dependendo de cada local devendo ser comprovada em cada
ecossistema, principalmente no que diz respeito a espcie forrageira, taxa de semeadura,
espaamento e espaamento e fertilidade do solo.
A maior vantagem esperada dessa associao o aproveitamento do preparo do solo e da
adubao exigida pela cultura anual, para estabelecer a espcie forrageira associada. Dessa
forma, a pastagem dever ficar formada com a retirada da cultura anual.
35
PLANTIO POR MUDAS
O plantio com mudas utilizado para algumas espcies, tais como o capim-elefante, a
cana-de-acar e as gramas estrelas.
O capim-elefante plantado usando-se mudas ou colmos, preferencialmente com cerca
de cem dias de idade, aps o ltimo corte (no recomendvel limpara palha lateral das
mudas). O plantio semelhante ao da cana-de-acar: fazem-se sulcos no solo, distanciados de
0,8 a 1,0 m e no fundo deles, primeiro, distribui-se o adubo fosfatado solvel (no caso de
superfosfato simples, 50 a 60 gramas por metro linear, em solos pobres em fsforo). Depois
colocam-se as mudas nos sulcos (em pares e na disposio p-com-ponta), cobrindo-se em
seguida. Elas no precisam ser picadas. Gastam-se ao redor de 10 toneladas de mudas por
hectare.
No caso das bermudas Tifton-85 e coast-cross, colocam-se as mudas em sulcos
distanciados de 0,5 a 1,0 m (j com adubo fosfatado solvel). A muda enterrada, mas um tero
dela fica exposta na superfcie do solo. Alternativamente, as mudas podem ser distribudas a
lano, incorporando-se logo aps, com uma grade niveladora + rolo compactador. Recomenda-
se logo aps o plantio fazer uma aplicao com herbicida Diuron (2,5 l/ha) para controlar as
plantas daninhas. Apesar dessa ltima operao de plantio ser mais rpida, traz maiores
problemas de uniformidade e velocidade de formao da pastagem, aps o plantio. Gastam-se ao
redor de 2 a 3 toneladas de mudas por hectare.
MANEJO DE FORMAO
O manejo de formao de uma pastagem resume-se na utilizao menos intensiva da
mesma na sua fase inicial, possibilitando desta forma, uma boa formao. Se o plantio for bem
feito e ocorrer boa emergncia de plantas, j aos 60 a 90 dias poder ser dado um pastejo leve na
maioria das espcies, para diminiuir a competio entre plantas, eliminar meristemas apicais e
estimular o perfilhamento para cobrir rapidamente o solo. Entretanto, no se deve impor o
pastejo durante a primeira estao chuvosa. Quando se tem uma densidade de plantas muito
baixa. desejvel deixar as plantas crescerem livremente para a produo de sementes e ento,
fazer Pastejo para os animais auxiliem na queda e distribuio das sementes em toda rea,
favorecendo a ressemeadura natural na estao seguinte.
6 - MANEJO DE PASTAGENS
A obteno de altos rendimentos forrageiros com satisfatrio valor nutritivo e a
manuteno do vigor e da perenidade do stand constituem o objetivo do manejo de pastagens e
reas de capineiras.
O manejo tem enorme efeito sobre o rendimento forrageiro, o qual ainda afetado pelo
clima (luz, temperatura e umidade), pelo solo (propriedades fsicas e qumicas).
Admitindo-se condies favorveis de clima e solo, as respostas das plantas forrageiras
ao manejo, podem ser determinadas pela sua morfologia (hbito de crescimento), ndice de rea
foliar e reservas orgnicas.
36
Um ponto relevante ao bom xito do manejo de pastagens o reconhecimento de que a
produo de forragem se concentra em 7 a 8 meses do ano, uma vez que no perodo das secas o
rendimento das pastagens se reduz praticamente a zero.
O Brasil Central apresenta duas estaes bem distintas: o vero e o inverno. Durante o
vero, quente e chuvoso, verificam-se condies favorveis para o rpido desenvolvimento
vegetativo das forrageiras; enquanto no inverno, seco e de temperatura baixa, verifica-se uma
quase suspenso do crescimento das forrageiras perenes.
Estas condies determinam um quadro cclico da explorao pecuria de corte ou de
leite, caracterizando por relativa fartura de pasto do perodo das guas, compreendido por
novembro a abril, e posteriormente falta de pasto no perodo da seca, de maio a outubro.
SISTEMAS DE PASTEJO
PASTEJO CONTNUO
o tipo primitivo e ainda mais utilizado. caracterizado pela presena dos animais em
determinado pasto, o ano todo. Geralmente utilizando grandes reas.
O pastoreio contnuo proporciona maior ganho de peso aos animais decorrente da
oportunidade de seleo da forragem. Todavia o pastejo seletivo prejudicial as pastagens,
ocasiona superpastejo dos capins mais palatveis alterando a composio botnica do stand. Por
ser reas grandes, os animais se concentram prximos dos cochos, aguadas e currais, pastando
excessivamente nestas partes e deixando outras em subpastejo, por serem mais altas ou distintas,
o que implica em perdas de forragem.
mais indicado para grandes reas e para fazendas com menor controle gerencial.
Apresenta baixas lotaes, cerca de 1,0 a 1,5 UA/ha durante o ano todo, se a carga animal for
constante. Se a carga animal for varivel, ou seja, ao final das guas, vende-se parte do rebanho.
Este sistema acaba suportando lotaes maiores, uma vez que o potencial produtivo da pastagem
durante o perodo das guas bem maior. O sistema contnuo com carga fixa o ano todo oferece
baixo risco sua lucratividade, apesar da menor produtividade animal, alm de ser adequado a
plantas de hbito de crescimento rasteiro (por exemplo braquiria decumbens).
PASTEJO ROTACIONADO
Neste sistema procura-se ajustar o pastoreio aos hbitos de crescimento das plantas,
permitindo perodos de descanso e recuperao dos pastos. Implica maior nmero de
subdivises da rea, tantos piquetes quanto forem necessrios. um sistema mais caro, exige
despesas de construo de cercas, bebedouros, abrigos, cochos de sal, etc. Os animais,
individualmente, podem at ganhar menos peso que no pastejo continuo. Os animais, neste
sistema, tm menos chance mas andam menos, pisoteiam menos o pasto e promovem uma
distribuio mais uniforme das dejees.
37
CONSIDERAES SOBRE PASTEJO ROTACIONADO
O pastejo rotacionado se caracteriza por subdiviso das pastagens em piquetes e rodizios
dos animais nesses piquetes, sendo que cada piquete tem um perodo de ocupao e um perodo
de repouso ou descanso (crescimento) tal, capaz de manter o equilbrio da produo e consumo
de forrageira.
tamanho (rea) de cada piquete funo do numero de animais em rodzio e da
espcie forrageira. O nmero de piquete calculado pela frmula.
N = Perodo de descanso + X
Perodo de ocupao
N = nmero de piquetes;
Pd = perodo de descanso em dias
Po = perodo de permanncia de um grupo de animais no piquete em cada rodzio
X = nmero de grupos.
O mtodo de pastejo rotacionado tem sido recomendado com base na pressuposio de
que as plantas necessitam de um perodo de descanso, a fim de se recuperarem dos efeitos da
desfolhao, possibilitando a reposio de folhas e o restabelecimento das reservas orgnicas. O
resultado prtico j pode ser observado em vrias fazendas fque comearam a utilizar tal mtodo
aumentando em 25% a sua produo de carne sem adubaes nitrogenadas, apenas com
correo do solo. As vantagens da utilizao do pastejo rotacionado so:
1) melhor controle da disponibilidade de forragem produzida e a sua adequao a demanda ao
longo do ano;
2) menores perdas de forragem, com o pisoteio e com excrees dos animais acumuladas,
quando permanecem por muito tempo na pastagem, como ocorre no pastejo contnuo;
3) maior oportunidade dada ao capim para a realizao de fotossntese e produo de reservas
orgnicas. provvel que estas condies confiram um maior vigor e desenvolvimento ao
sistema radicular, o que proporciona planta forrageira uma maior tolerncia seca, aos
veranicos e baixa temperatura;
4) maior uniformizao do pastejo, o que evita as perdas de forragem por super pastejo e sub
pastejo;
5) uma distribuio mais uniforme das excrees dos animais pela pastagem;
6) manuteno da composio botnica da pastagem das plantas mais apreciadas pelos animais
e evitando-se a infestao da pastagem por plantas invasoras;
7) manuteno da perenidade das pastagens, evitando o uso de tcnicas para a sua recuperao
e/ou renovao, que uma prtica de alto custo e de grande risco.
38
Recomendaes para Pastejo Rotacionado: perodos de descanso (em dias) e tempo de
ocupao dos piquetes, altura (em cm) das plantas quando os animais saem do pasto
estabelecidos com diferentes capins.
Espcie Perodo de descanso Tempo de ocupao Altura das plantas
Capim-elefante 40 a 45 1 a 3 40-50
Capim-tanznia 35 1 a 7 25 a 35
Capim-mombaa 35 1 a 7 30 a 35
Braquiria decumbens 30 a 35 1 a 7 15 a 20
Braquiria humidicola 25 a 30 1 a 7 10 a 15
Braquiaro 35 a 40 1 a 7 25 a 35
Capim-andropogon 35 a 40 1 a 7 25 a 35
Tifton-85/coast-cross 25 a 30 1 a 7 10 a 15
ROTACIONADO EM FAIXA
Consiste em dividir a rea em faixa atravs de cercas eltricas mveis. Estas faixas
contem pastos para um a dois dias. Elas so deslocadas atravs da rea sucessivamente, at
alcanarem o ponto final, onde voltam ao ponto de partida. A maior dificuldade para aplicao
deste sistema esta no uso da cerca eltrica.
PASTEJO DIFERIDO
No manejo de vedao de pastagens (diferido ou protelado), este sistema prev a
vedao de uma rea de pastagens da fazenda, em plena estao de crescimento das pastagens
(vero), para que no perodo seco, possa haver quantidade satisfatria de alimento, ou feno em
ppara os animais. Por exemplo, apartir de meados de fevereiro, vedam-se os pastos de
braquirias e os animais s tero acesso a eles apartir de julho.
Utilizar para vedao apenas espcies que perdem lentamente seu valor nutritivo ao
longo do tempo, tais como a braquiria decumbens, o braquiaro e as bermudas.
MANEJO DA VEDAO
Basicamente, existem trs formas de vedar os pastos:
a) Carga animal constante o ano todo
o mtodo mais simples, pois define-se uma lotao mdia durante o ano todo. Para
definio desta lotao mdia, realiza-se amostragens em pocas que reflitam as condies
mdias do pasto durante o ano, geralmente por volta de outubro/novembro ou em abril/maio.
Dessa forma, o que for subpastejado nas guas sobrar naturalmente para a seca. Como
exemplo, consideremos uma fazenda que apresente pastos de capim-colonio e de braquiaro:
Nas guas, utilizam-se os pastos de colonio intensivamente e o braquiaro subpastejado.
Na seca, o braquiaro (macegado) utilizado intensivamente e o colonio ser submetido a
pastejo leve, com baixa lotao.
b) Vedao do pasto nas guas
39
Impede-se o acesso dos animais aos pastos destinados ao diferimento, que devero
crescer e macegar em grande parte do perodo das guas. Exemplificando, a partir de janeiro,
vedam-se os pastos de braquiria e os animais s tero acesso a eles por volta de abril/maio. A
qualidade do capim neste perodo dever estar muito ruim, inferior obtida no mtodo anterior,
j que a sua idade bem mais avanada. Uma soluo o escalonamento da vedao.
c) Vedao escalonada
Veda-se uma certa parcela dos pastos em janeiro, para fornecimento em abril, outra em
fevereiro, para utilizao em maio e assim por diante.
SUPLEMENTAO COM MISTURA MLTIPLA
Uma das principais tcnicas que promovam a melhoria da qualidade dos pastos vedados
a utilizao de misturas mltiplas (energtico-protico-mineral), no cocho. O fornecimento
muito til para promover algum ganho de peso aos animais. O consumo varia de 200 a 300
gramas/animal/dia. Os ganhos variam de acordo com a categoria animal, mas vai desde a
mantena at ganhos ao redor de 250 gramas/cabea/dia.
RELAES ENTRE NMERO DE ANIMAIS NA REA E FORRAGEM DISPONVEL
Para a utilizao adequada de pastagens, sempre levamos em conta alguns aspectos para
ajustar o numero de animais a capacidade da pastagem.
TAXA DE LOTAO
Geralmente definida como o nmero de animais por unidade de rea. Este termo no
guarda relao com a quantidade de forragem disponvel aos animais; apenas uma relao
numrica. Ex.: no. de novilhas/ha ou no. de cabeas/ha, etc.
PRESSO DE PASTEJO
Numero de animais por unidade de forragem disponvel. Essa expresso nos mostra a
preocupao em colocar, em um pasto, um nmero de animais que esteja em equilbrio com a
produo forrageira, quer na poca seca, quer na poca das guas.
Quando se refere a presso ou intensidade de pastejo, trs situaes merecem ser
elucidadas: superpastejo, pastejo timo ou racional e subpastejo.
SUPER PASTEJO
Seria excesso de animais para pouco pasto. Alguns animais ficam prejudicados, uns
comem mais que os outros, a produo irregular, compromete a produo animal e desgasta a
pastagem.
No manejo em um superpastejo a produo por ha (leite ou carne) aumenta at certo
ponto, pelo aumento do nmero de animais; porem a produo de animal tende a cair pela falta
ou baixa qualidade da forragem. O superpastejo compromete tambm a pastagem, h um
40
rebaixamento excessivo das plantas: facilita a invaso por ervas daninhas, ocasiona um
definhamento da espcie forrageira por no conseguir armazenar reservas nutritivas e aumenta a
possibilidade de eroso.
PASTEJO TIMO
No manejo racional ocorre um equilbrio entre a produo de forragem e o numero de
animais em uma determinada rea. Compreende o ponto adequado de utilizao das pastagens,
permitindo uma produo animal tima sem prejudicar as plantas e o solo. A carga animal
adequada no s importante para a conservao da fertilidade do solo, como tambm para
manter o equilbrio entre as espcies que entegram a pastagem mais adequada para se obter do
mximo de ganho sem prejudic-la.
Em pastejo timo a produo por animal pode no ser mxima porque eles no tem sobra
de pasto que lhes proporcione melhor seleo como no subpastejo, porm, racionalmente, a
produo por ha mxima.
SUB PASTEJO
Poucos animais para muito pasto. Neste caso ocorre perda de forragem. A produo por
animal torna-se mxima pela oportunidade de seleo de alimento, mas a produo animal por
rea baixa pelo pequeno nmero de animais na pastagem. O animal aqui tem condies de
atingir o seu mximo potencial gentico da produo; porm a produo torna-se antieconmica,
visto que implicaria em perdas de forragem, e foraria a doao da queima para eliminar a
macela deixada pelos animais que andam mais para selecionar melhor.
CAPACIDADE SUPORTE
o nmero de animais por unidade de rea observando-se a presso de pastejo tima, ou
seja, a disponibilidade de forragem. Capacidade suporte sem dvida uma medida de avaliao
da forragem (caracterstica prpria da espcie).
CONSIDERAES GERAIS
As pastagens raramente esto em estado de equilbrio. Na maioria das vezes, os animais
consomem quantidade de forragem acima ou abaixo do que est sendo produzido. Da as
situaes de sub e superpastejo, ambas condies indesejveis: o superpastejo, alm de
promover decrscimos na produtividade e na qualidade da pastagem, e consequentemente,
decrscimos na produo animal, promove uma rpida degradao desta; o subpastejo permite
acmulo de forragem que rapidamente perde o seu valor nutritivo, por se tornar fibrosa, com
baixos teores de protena e baixa digestibilidade. Alm disso, pastagens subutilizadas, quando
expostas ao dos animais, esto sujeitas ao acamamento e ao desperdcio pelo excesso de
material no consumido que, de alguma forma, ter que ser removido. preciso ento, que o
produtor seja capaz de utilizar suas pastagens com taxas de lotao corretas, ou seja, ajust-las
de acordo com a quantidade de forragem disponvel.
O crescimento da pastagem influenciado pelas caractersticas qumicas e fsicas do solo
e pelas condies climticas. Portanto, a quantidade de forragem produzida, e sua qualidade,
41
variaro dentro e entre as estaes do ano. E a estabilidade do complexo clima-solo-planta-
animal importante para se obter mxima produo animal e persistncia das pastagens.
Se a inteno do pecuarista produzir em sua fazenda uma tal quantidade de carcaa ou
tantos quilos de carne, que lhe proporcionem lucros mximos, ele dever buscar produtividades
satisfatrias. A produtividade expressa o ganho de peso por unidade de rea. Mas o que
influencia essa produtividade?
Um dos fatores a lotao animal. Quanto maior a lotao (o nmero de cabeas por
unidade de rea), espera-se que ocorra uma maior produo de carcaa, ou de arrobas, por rea.
Outro fator o desempenho individual. fcil perceber que, quanto maior o
desempenho (ganho de peso por cabea), maior dever ser a produo de arrobas por ano e
maior ser a produtividade na fazenda.
Todos aqueles que desejam utilizar eficientemente as pastagens na produo animal
precisam ter em mente tais conceitos, relacionados na seguinte frmula:
Das variveis de manejo, a taxa de lotao a mais importante, pois ela determina a
taxa de rebrota, as composies botnica e morfolgica da pastagem, e consequentemente, a
qualidade da forragem disponvel.
Quando existe uma boa disponibilidade de forragem, a taxa de lotao tem pouco efeito
sobre a produo individual, uma vez que existe alimento suficiente para cada animal. medida
que a taxa de lotao aumenta, a produo por animal decresce, pois os animais comeam a
competir por alimento e tm menos oportunidades de selecionar a parte mais nutritiva da
pastagem (folhas). A produo mxima, por rea, ocorre quando cada animal est ganhando
menos do que seu potencial mximo para ganho de peso. A partir deste ponto, aumentos na taxa
de lotao diminuem gradativamente o ganho de peso, e os animais adicionais colocados nesta
pastagem no compensam a menor produo individual, e a produo por rea diminui. A taxa
de lotao tima a amplitude de utilizao que permite um equibrio entre os ganhos por
animal e por unidade de rea.
A seguir, um exemplo de manejo rotacionado do capim Tanznia, pois esta pode ser uma
alternativa para muitos produtores que possuem esta pastagem em sua propriedade e que no
exploram o seu potencial total de produo. O sistema de pastejo adotado ser com perodo de
descanso de 35 dias e perodo de ocupao de 1 dia em cada piquete. Os clculos foram feitos
considerando 36 piquetes de 2.500 m
2
(9,0 ha) separados pela cerca eltrica de 2 fios (0,70 e
1,10 m de altura) e limitados, externamente, pela cerca de arame liso. Deve ser reservado uma
rea central, onde os animais tm livre acesso ao saleiro e ao bebedouro. A produo anual de
matria seca de 25 t/ha, as perdas a serem consideradas so de 30% e, o perodo de pastejo no
vero de novembro a abril.
Custo de Formao (R$/ha)
Insumo Unidade Quant. Total
Calcrio dolomtico t 1,0 34,00
Super simples t 0,50 90,00
Anlise solo unid. 1,0 9,00
Produtividade animal = Lotao x Desempenho individual
(ganho por rea) (cabeas por rea) (ganho por cabea)
42
Cerca eltrica m 478 160,00
Sementes - 25%VC kg 10 28,00
SUBTOTAL 321,00
Preparo do solo e Semeadura
Arao h/ha 4,00 57,60
Gradeao h/ha 2,20 34,36
Calagem h/ha 1,00 15,00
Semeadura/adub. h/ha 0,85 12,75
SUBTOTAL 119,71
Custo de Formao (R$/ha) 440,71
Custo de Formao (depreciao/15 anos) 29,38
Manuteno a cada pastejo de vero
Insumo Unidade Quant. Total
20-05-20 t 0,25 62,50
Adubao(Vicon) h/ha 0,30 4,50
SUBTOTAL 67,00
Manuteno (R$/ha/pastejo) 67,00
Anual ( 4 adubaes) (R$/ha/ano) 268,00
Custo da Calagem (a cada 2 anos)
Insumo Unidade Quant. Total
Calcrio t 1,00 34,00
Calagem (Vicon) h/ha 0,30 4,50
SUBTOTAL 38,50
Custo Anual (R$/ha/ano) 19,25
Custo/Benefcio para Bovinos de Corte e Leite
R$/ha/ano Despesa Receita bruta
Formao 29,38
Manuteno 268,00
Calagem 19,25
Total 316,63
Prod. Carne 1.296 kg PV 1.036,80
Custo kg PV R$ 0,24
Custo @ prod. R$ 7,20
Prod. Leite 10.000 l leite 2.000,00
Custo kg leite 0,032
Preo da carne = R$ 0,80/ kg PV
Preo do leite = R$ 0,20/ litro leite.
importante informar que a adubao de manuteno apresentada deve ser dividida e
realizada logo aps cada pastejo. Na estao seca recomendvel a utilizao de suplementao
volumosa de inverno, como por exemplo, a cana-de-acar. Calcula-se que apenas 15% da
produo total do capim acontea neste perodo, o que obriga ao produtor planejar
adequadamente a alimentao de seu rebanho, durante esta poca do ano.
Com este manejo, a pastagem tem se mantido produtiva, sendo possvel obter, de
novembro a abril, uma lotao de 12 bezerros por hectare, com mdia de peso vivo de 230 kg e
ganhos de 600 a 700 gramas/dia/animal. A alta lotao animal equivalente a 6,0 unidades
43
animais/ha (1 unidade animal equivale a um bovino de 450 kg de peso vivo), aliada ao bom
desempenho individual, tem resultado em produtividade ao redor de 1.296 kg de PV/ha, durante
o vero. Para bovinos de leite, esta rea suficiente para 50 vacas em lactao (5,5 vacas/ha),
produzindo em mdia 10 litros/cab/dia, durante o vero, tendo como resultado uma
produtividade de 10.000 litros de leite/ha.
ENDEREO PARA CORRESPONDNCIA:
UNESP - CURSO DE MEDICINA VETERINRIA
RUA: CLVIS PESTANA, 793
CAIXA POSTAL, 533
CEP: 16.050-680
FONE(FAX): (018) 622.4542 R. 306
ARAATUBA - SP
Você também pode gostar
- Bônus 37 Receitas de Pizzas Com Recheios SaborososDocumento44 páginasBônus 37 Receitas de Pizzas Com Recheios SaborososEdu RomanoAinda não há avaliações
- TCC Faveni - Fabiano NevesDocumento21 páginasTCC Faveni - Fabiano NevesJuliana Costa Silva100% (1)
- Condução e Poda Mirtilo - ReformuladaDocumento50 páginasCondução e Poda Mirtilo - ReformuladaVitor MartinsAinda não há avaliações
- Cultura Da Mandioca PDFDocumento6 páginasCultura Da Mandioca PDFDenilson da Mata DaherAinda não há avaliações
- 25 PrismasDocumento4 páginas25 PrismasCirçoMancillaAinda não há avaliações
- Diretório para o Ministério e A Vida Dos PresbíterosDocumento95 páginasDiretório para o Ministério e A Vida Dos PresbíterosFábio AlmeidaAinda não há avaliações
- Plantas de Cobertura de SoloDocumento14 páginasPlantas de Cobertura de SoloJair Soares SilvaAinda não há avaliações
- Apostila MELANCIADocumento13 páginasApostila MELANCIAFX Fênix100% (1)
- Parte 1 Morfologia de Gramineas e LeguminosasDocumento57 páginasParte 1 Morfologia de Gramineas e LeguminosasIsabele Lima Oliveira100% (1)
- Questionário Pre ConsultaDocumento4 páginasQuestionário Pre ConsultaLuana CardosoAinda não há avaliações
- Cultura Da AlfaceDocumento3 páginasCultura Da Alfacevitor.vmAinda não há avaliações
- Ciências - Avaliação - 2º BimestreDocumento7 páginasCiências - Avaliação - 2º BimestreMARCIA AMORIM CARVALHOAinda não há avaliações
- Cultura Do MaracujáDocumento32 páginasCultura Do MaracujáEmerson ViniciusAinda não há avaliações
- A Nova Perspectiva Ecumênica Do Concílio Vaticano IIDocumento23 páginasA Nova Perspectiva Ecumênica Do Concílio Vaticano IISamurai AtemporalAinda não há avaliações
- Portfolio Cana de AcucarDocumento11 páginasPortfolio Cana de AcucarRainer Mathias LehAinda não há avaliações
- Brachiari Humidicola CartilhaDocumento9 páginasBrachiari Humidicola CartilhaprofaritamendoncaAinda não há avaliações
- Dilermando Parte 2Documento475 páginasDilermando Parte 2Michael Vinícius FicagnaAinda não há avaliações
- O Produtor PerguntamaracujaDocumento23 páginasO Produtor PerguntamaracujaJose dantasAinda não há avaliações
- Formação e Manejo de Pastagens UFLA - EvangelistaDocumento41 páginasFormação e Manejo de Pastagens UFLA - EvangelistaElaine Cristina TeixeiraAinda não há avaliações
- Megathyrsus Maximus Cv. Massai (Capim - Massai)Documento7 páginasMegathyrsus Maximus Cv. Massai (Capim - Massai)Nathã Pereira De OliveiraAinda não há avaliações
- 4 Eaaadce 5 Eb 7 CDocumento2 páginas4 Eaaadce 5 Eb 7 CkatiuciuaAinda não há avaliações
- Especies ForrageirasDocumento82 páginasEspecies ForrageirasgeraldoAinda não há avaliações
- Aula 6Documento57 páginasAula 6Jamily BrAinda não há avaliações
- FL 05458Documento9 páginasFL 05458Robert M. LourençoAinda não há avaliações
- Cultivo de Acácia PDFDocumento8 páginasCultivo de Acácia PDFOtto Z'rg100% (1)
- Apostila MilhoDocumento5 páginasApostila MilhoFabrício FiuzaAinda não há avaliações
- Formação e Manejo de Pastagens - Especialização Produção de Bovinos PDFDocumento78 páginasFormação e Manejo de Pastagens - Especialização Produção de Bovinos PDFcleomila21Ainda não há avaliações
- Capim ElefanteDocumento5 páginasCapim Elefanteypsantana09Ainda não há avaliações
- Cultura Do Umbuzeiro - WebDocumento4 páginasCultura Do Umbuzeiro - WebEliezer GouvêaAinda não há avaliações
- LlaneroDocumento4 páginasLlaneroGislaine Rosendo MartinezAinda não há avaliações
- O Capim-Elefante: Universidade Federal de Viçosa Centro de Ciências Agrárias Departamento de ZootecniaDocumento56 páginasO Capim-Elefante: Universidade Federal de Viçosa Centro de Ciências Agrárias Departamento de ZootecniaAlexandre CapelAinda não há avaliações
- Repolho VerdeDocumento12 páginasRepolho VerdeDiondevon Rocha de OliveiraAinda não há avaliações
- Agricultura0.8 SojaDocumento9 páginasAgricultura0.8 SojaAdilson BrandãoAinda não há avaliações
- Forragicultura - Os Tipos de Forragem PDFDocumento7 páginasForragicultura - Os Tipos de Forragem PDFcleomila21Ainda não há avaliações
- Livro - Unico 17 18Documento2 páginasLivro - Unico 17 18Luan SamuelAinda não há avaliações
- Aula 6 AbacaxiDocumento93 páginasAula 6 Abacaxilivia.angelicaAinda não há avaliações
- Como Plantar Maxixe PDFDocumento24 páginasComo Plantar Maxixe PDFAlan GabrielAinda não há avaliações
- Recomendaçoes TecnicasDocumento4 páginasRecomendaçoes TecnicasMário JúniorAinda não há avaliações
- Forragem e Pastagem 2Documento33 páginasForragem e Pastagem 2Vitória MelloAinda não há avaliações
- A Maravilhosa Cultura Ds BananeirasDocumento7 páginasA Maravilhosa Cultura Ds BananeirasVrohZhell TskAinda não há avaliações
- Revegetacao de Solos DegradadosDocumento8 páginasRevegetacao de Solos DegradadosMarx Herrera MachacaAinda não há avaliações
- Sericicultura AmoreiraDocumento0 páginaSericicultura AmoreirasaralaureAinda não há avaliações
- ALFACEDocumento10 páginasALFACEGabriely PereiraAinda não há avaliações
- Atriplex - Documentos IPADocumento22 páginasAtriplex - Documentos IPAapi-3807298Ainda não há avaliações
- Aula 7.batata RenoDocumento17 páginasAula 7.batata Renodércio nevesAinda não há avaliações
- AbobrinhaDocumento2 páginasAbobrinhamaramimorais6139Ainda não há avaliações
- Agrícultura Sintrópica 3Documento8 páginasAgrícultura Sintrópica 3Alejandra SahagúnAinda não há avaliações
- AmendoimDocumento6 páginasAmendoimLucas Guilherme QueirozAinda não há avaliações
- Folder Milho IntranetDocumento6 páginasFolder Milho IntranetCarlos SilvaAinda não há avaliações
- Cultivo Do MorangoDocumento4 páginasCultivo Do MorangoJoão Paulo Araujo SantosAinda não há avaliações
- Manejo de Pastagens de Arachis PintoiDocumento2 páginasManejo de Pastagens de Arachis PintoiNewton de Lucena CostaAinda não há avaliações
- Como Garantir A Formação de PastagensDocumento4 páginasComo Garantir A Formação de PastagensTiago LuersenAinda não há avaliações
- Adubação VerdeDocumento48 páginasAdubação VerdeEdineydiasAinda não há avaliações
- Trabalho MangaDocumento15 páginasTrabalho MangaJosias MendesAinda não há avaliações
- Capim GramãoDocumento4 páginasCapim GramãoGeniara SoaresAinda não há avaliações
- A Cultura Do CoqueiroDocumento9 páginasA Cultura Do CoqueiroSabrina MaiaAinda não há avaliações
- Laranja e Limão TaitiDocumento6 páginasLaranja e Limão Taitijames monteiroAinda não há avaliações
- Gramados e HidrossemeaduraDocumento67 páginasGramados e HidrossemeaduraKilha1Ainda não há avaliações
- Projeto Fruticultura - Avaliação 1Documento7 páginasProjeto Fruticultura - Avaliação 1alinefeerreiraAinda não há avaliações
- 2 Avaliação OlericulturaDocumento3 páginas2 Avaliação OlericulturaJose SantosAinda não há avaliações
- Cultivar Tifton 85Documento5 páginasCultivar Tifton 85Lucas De SouzaAinda não há avaliações
- Algumas Forrageiras Recomendadas para Ensilar 2022Documento24 páginasAlgumas Forrageiras Recomendadas para Ensilar 2022Pedro Batista da Silva JúniorAinda não há avaliações
- NR 18 - Manual Rompedor EletricoDocumento3 páginasNR 18 - Manual Rompedor EletricoCPSSTAinda não há avaliações
- História Da Arquitetura NomadeDocumento5 páginasHistória Da Arquitetura Nomadevbordinhon.arqAinda não há avaliações
- Guia Das Oficinas Tutoriais Da AAE Miolo Impressao ITEM 04 300 UNIDDocumento210 páginasGuia Das Oficinas Tutoriais Da AAE Miolo Impressao ITEM 04 300 UNIDkelvinAinda não há avaliações
- Linha PneumaticaDocumento34 páginasLinha PneumaticaDiogenes CostaAinda não há avaliações
- Artigo Original: Revista Saber Acadêmico #21 / Issn 1980-5950 - BARRETO, S. S, 2016Documento9 páginasArtigo Original: Revista Saber Acadêmico #21 / Issn 1980-5950 - BARRETO, S. S, 2016Joél CarlosAinda não há avaliações
- Manual Esteira CaloiDocumento8 páginasManual Esteira CaloiTiago Marson PoloAinda não há avaliações
- Apr 006 - Execução de Trabalhos em Altura Rev.00Documento5 páginasApr 006 - Execução de Trabalhos em Altura Rev.00Patrick Addison Barbosa jaskulskiAinda não há avaliações
- Apostila - Módulo 2 - TBDDocumento131 páginasApostila - Módulo 2 - TBDAndre FelipeAinda não há avaliações
- ExercíciosDocumento19 páginasExercíciosIgor LimaAinda não há avaliações
- Graça Irresistível Ou Graça EficazDocumento12 páginasGraça Irresistível Ou Graça EficazFernando BritoAinda não há avaliações
- Filosofia Da Religiao PDFDocumento83 páginasFilosofia Da Religiao PDFCleonaide PintoAinda não há avaliações
- Síntese Sobre Logística PT. 1Documento3 páginasSíntese Sobre Logística PT. 1Stephaniess CamilaAinda não há avaliações
- Principais Subfilos Os Mamíferos IIDocumento39 páginasPrincipais Subfilos Os Mamíferos IILiliane MirandaAinda não há avaliações
- Tratamentos Espirituais Mediúnicos (UERJ)Documento15 páginasTratamentos Espirituais Mediúnicos (UERJ)frpaimAinda não há avaliações
- Ficha 6 - Sismos Métodos e Biodiversidade - CópiaDocumento4 páginasFicha 6 - Sismos Métodos e Biodiversidade - Cópiaricardodasilvacastro2008Ainda não há avaliações
- Calculo de Areas e Volumes IIDocumento2 páginasCalculo de Areas e Volumes IIElisabete GarciaAinda não há avaliações
- Clichês em Rosa, Roxo e Azul - Box CompletoDocumento548 páginasClichês em Rosa, Roxo e Azul - Box CompletoPietra Matos100% (1)
- Tonalidade Afetiva em HeideggerDocumento14 páginasTonalidade Afetiva em HeideggerJoici ZieglerAinda não há avaliações
- Ebook AgrobrDocumento23 páginasEbook AgrobrFRANK ZHAOAinda não há avaliações
- Exame Físico AbdominalDocumento2 páginasExame Físico AbdominalAriadne MouraAinda não há avaliações
- PneumoniaDocumento35 páginasPneumoniaromeroidasAinda não há avaliações
- Chemlok 205 (29.08.18)Documento10 páginasChemlok 205 (29.08.18)kristfantiAinda não há avaliações
- João Calvino - Institutas Da Religião Cristã I.6.1-4 (A SufDocumento4 páginasJoão Calvino - Institutas Da Religião Cristã I.6.1-4 (A SufRoberio Pereira LimaAinda não há avaliações