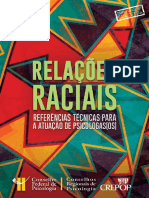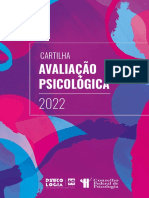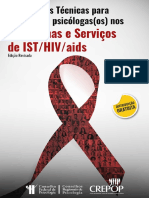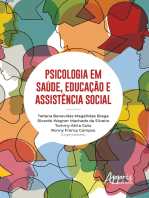Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Crepop Creas
Crepop Creas
Enviado por
Christiane Zanette Mondardo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações116 páginasTítulo original
CREPOP_CREAS_
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações116 páginasCrepop Creas
Crepop Creas
Enviado por
Christiane Zanette MondardoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 116
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
CONSELHOS REGIONAIS DE PSICOLOGIA
CENTRO DE REFERNCIA TCNICA EM PSICOLOGIA
E POLTICAS PBLICAS
Comisso de Elaborao do Documento
Mrcia Mansur Saadallah
Deborah Akerman
Rita de Cssia Oliveira
Vnia Baptista Nery
Vernica Morais Ximenes
Colaboradora: Solange Leite
Tcnica Regional: Silvia Giugliani
Referncias Tcnicas para a Prtica de Psiclogas (os) no Centro
de Referncia Especializado da Assistncia Social - CREAS
Braslia, fevereiro/2013
1 Edio
permitida a reproduo desta publicao, desde que sem alteraes e
citada a fonte. Disponvel tambm em: www.cfp.org.br e em crepop.pol.org.br
1 edio 2013
Projeto Grfco IDEORAMA
Diagramao IDEORAMA
Reviso Positive Idiomas
Coordenao Geral/ CFP
Yvone Duarte
Coordenao de Comunicao Social/CFP
Cristina Bravo
Andr Almeida/Editorao
Equipe Tcnica do Crepop/CFP
Monalisa Barros e Mrcia Mansur Saadallah /Conselheiras responsveis
Natasha Ramos Reis da Fonseca/Coordenadora Tcnica
Cibele Cristina Tavares de Oliveira /Assessora de Metodologia
Klebiston Tchavo dos Reis Ferreira /Assistente administrativo
Equipe Tcnica/CRPs
Renata Leporace Farret (CRP 01 DF), Thelma Torres (CRP 02 PE), Gisele
Vieira Dourado O. Lopes (CRP 03 BA), Luciana Franco de Assis e Leiliana
Sousa (CRP04 MG), Tiago Regis (CRP 05 RJ), Ana Gonzatto, Edson
Ferreira e Eliane Costa (CRP 06 SP), Carolina dos Reis (CRP 07 RS),
Ana Ins Souza (CRP 08 PR), Marlene Barbaresco (CRP09 GO/TO),
Letcia Maria S. Palheta (CRP 10 PA/AP), Djanira Luiza Martins de Sousa
(CRP11 CE/PI/MA), Juliana Ried (CRP 12 SC), Katiska Arajo Duarte
(CRP 13 PB), Keila de Oliveira (CRP14 MS), Eduardo Augusto de Almeida
(CRP15 AL), Patrcia Mattos Caldeira Brant Littig (CRP16 ES), Zilanda
Pereira de Lima (CRP17 RN), Fabiana Tozi Vieira (CRP18 MT), Lidiane de
Melo Drapala (CRP19 SE), Vanessa Miranda (CRP20 AM/RR/RO/AC)
Conselho Federal de Psicologia
Referncias tcnicas para Prtica de Psiclogas(os) no Centro de
Referncia Especializado da Assistncia Social - CREAS / Conselho
Federal
de Psicologia. - Braslia: CFP, 2012.
58 p.
ISBN: 978-85-89208-56-7
1. Psiclogos 2. Polticas Pblicas 3. Proteo especial
I. Ttulo.
Referncias bibliogrfcas conforme ABNT NBR 6022, de 2003, 6023, de
2002, 6029, de 2006 e10520, de 2002.
Direitos para esta edio Conselho Federal de Psicologia: SAF/SUL Quadra
2,Bloco B, Edifcio Via Offce, trreo, sala 104, 70070-600, Braslia-DF
(61) 2109-0107 /E-mail: ascom@cfp.org.br /www.cfp.org.br
Impresso no Brasil Dezembro de 2011
Catalogao na publicao
Fundao Biblioteca Nacional
Biblioteca Miguel Cervantes
XV Plenrio
Gesto 2011-2013
Diretoria
Humberto Cota Verona Presidente
Clara Goldman Ribemboim Vice-presidente
Deise Maria do Nascimento Secretria
Monalisa Nascimento dos Santos Barros Tesoureira
Conselheiros efetivos
Flvia Cristina Silveira Lemos
Secretria Regio Norte
Aluzio Lopes de Brito
Secretrio Regio Nordeste
Heloiza Helena Mendona A. Massanaro
Secretria Regio Centro-Oeste
Marilene Proena Rebello de Souza
Secretria Regio Sudeste
Ana Luiza de Souza Castro
Secretria Regio Sul
Conselheiros suplentes
Adriana Eiko Matsumoto
Celso Francisco Tondin
Cynthia Rejane Corra Arajo Ciarallo
Henrique Jos Leal Ferreira Rodrigues
Mrcia Mansur Saadallah
Maria Ermnia Ciliberti
Mariana Cunha Mendes Torres
Marilda Castelar
Sandra Maria Francisco de Amorim
Tnia Suely Azevedo Brasileiro
Roseli Goffman
Psiclogas convidadas
Angela Maria Pires Caniato
Ana Paula Porto Noronha
Conselheiros responsveis:
Conselho Federal de Psicologia:
Mrcia Mansur Saadalah e Monalisa Nascimento dos Santos Barrros
CRPs
Carla Maria Manzi Pereira Baracat (CRP 01 DF), Alessandra de Lima
e Silva (CRP 02 PE), Alessandra Santos Almeida (CRP 03 BA),
Paula ngela de F. e Paula (CRP04 MG), Analcia Martins de Sousa
(CRP 05 RJ), Carla Biancha Angelucci (CRP 06 SP), Vera Lcia
Pasini (CRP 07 RS), Maria Sezineide C. de Melo (CRP 08 PR),
Wadson Arantes Gama (CRP 09 GO/TO), Jureuda Duarte Guerra
(CRP 10 PA/AP), Adriana de Alencar Gomes Pinheiro (CRP 11 CE/
PI/MA), Marilene Wittitz (CRP 12 SC), Carla de Santana Brando
Costa (CRP 13 PB), Elisngela Ficagna (CRP14 MS), Izolda de
Arajo Dias (CRP15 AL), Danielli Merlo de Melo (CRP16 ES),
Alysson Zenildo Costa Alves (CRP17 RN), Luiz Guilherme Araujo
Gomes (CRP18 MT) Andr Luiz Mandarino Borges (CRP19 SE),
Selma de Jesus Cobra (CRP20 AM/RR/RO/AC)
APRESENTAO
12
13
Apresentao
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) apresenta categoria
e sociedade em geral o documento de Referncias Tcnicas
para a Prtica de Psiclogas(os) no Centro de Referncia
Especializado da Assistncia Social CREAS, produzido a partir
da metodologia do Centro de Referncia Tcnica em Psicologia
e Polticas Pblicas (Crepop), este documento busca construir
referncia slida para a atuao da Psicologia na rea.
As referncias construdas tm como base os princpios
ticos e polticos norteadores do trabalho das(os) psiclogas(os),
possibilitando a elaborao de parmetros compartilhados e
legitimados pela participao crtica e refexiva da categoria.
As referncias refetem o processo de dilogo que os
Conselhos vm construindo com a categoria, no sentido de se
legitimar como instncia reguladora do exerccio profssional. Por
meios cada vez mais democrticos, esse dilogo tem se pautado
por uma poltica de reconhecimento mtuo entre os profssionais
e pela construo coletiva de uma plataforma profssional que
seja tambm tica e poltica.
Esta publicao marca mais um passo no movimento recente
de aproximao da Psicologia com o campo das Polticas Pblicas.
Aborda cenrio delicado e multifacetado de nossa sociedade, no
contexto da violao de direitos e violncias diversas na qual
intervm a Poltica Nacional de Assistncia Social.
A opo pela abordagem deste tema refete o compromisso dos
Conselhos Federal e Regionais de Psicologia com a qualifcao
da atuao das(os) psiclogas(os) em todos os seus espaos de
atuao.
Nesse sentido, aproveito para agradecer a parceria do
Ministrio de Desenvolvimento Social e Combate Fome, que a
partir da experincia de implementao do CREAS, se props a
contribuir com a construo desta referncia tcnica para atuao
das(os) Psiclogas(os) na Poltica Nacional de assistncia social.
HUMBERTO VERONA
Presidente do Conselho Federal de Psicologia
14
Introduo 17
EIXO 1 - Dimenso tico-Poltica para a Prtica das(os)
Psiclogas(os) no Centro de Referncia Especializado
da Assistncia Social - CREAS 27
O Centro de Referencia Especializado de Assistncia
Social CREAS 31
A Psicologia e o paradigma da cidadania 33
Desafos e potencialidades no trabalho do CREAS 37
EIXO 2: Psicologia e a Poltica de Assistncia Social 43
Psicologia, SUAS e Polticas Pblicas 45
Psicologias o trabalho com famlias e pessoas em
situao de vulnerabilidade e risco social e pessoal por
violao de direitos 48
EIXO 3: Atuao da(o) Psicloga(o) no CREAS 57
Construindo Prticas 62
EIXO 4: Gesto do Trabalho na Poltica de Assistncia
Social 81
O trabalho na Assistncia Social 83
Os cotidianos profssionais na Proteo Social Especial 92
Desafos a serem enfrentados 99
Consideraes Finais 101
Referncias 105
Sumrio
16
17
INTRODUO
18
19
Introduo
O Centro de Referncia Tcnica em Psicologia e Polticas
Pblicas consiste em uma etapa na construo da presena
social da Psicologia como profsso no Brasil que d continuidade
ao projeto Banco Social de Servios em Psicologia do Sistema
Conselhos de Psicologia. Constituiu-se em uma maneira
de observar a presena social da(o) psicloga(o) e do seu
Protagonismo Social.
Nesse sentido, a ideia fundamental do Crepop produzir
informao qualifcada para que o Sistema Conselhos possa
implementar novas propostas de articulao poltica visando
maior refexo e elaborao de polticas pblicas que valorizem o
cidado enquanto sujeito de direitos, alm de orientar a categoria
sobre os princpios ticos e democrticos para cada poltica
pblica.
Dessa forma, o objetivo central do Crepop se constituiu em
garantir que esse compromisso social seja ampliado no aspecto da
participao das(os) psiclogas(os) nas polticas pblicas. Dentre
as suas metas esto a ampliao da atuao da(o) psicloga(o)
na esfera pblica, contribuindo para a expanso da Psicologia
na sociedade, a promoo dos Direitos Humanos, bem como a
sistematizao e disseminao do conhecimento e da prtica da
Psicologia no mbito das polticas pblicas, a partir da construo
de referncias para essa atuao profssional.
Cabe tambm ao Crepop identifcar oportunidades, estratgias
e a participao ativa da Psicologia nas polticas pblicas, com
intuito de promover a interlocuo da Psicologia com as esferas
de formulao, gesto e execuo em polticas pblicas.
SUAS e CREAS
O Sistema nico de Assistncia Social, criado a partir da Poltica
de Assistncia Social, se organiza em dois nveis de proteo: a
Proteo Social Bsica - PSB e Proteo Social Especial - PSE.
A PSB oferta um conjunto de servios, programas, projetos e
benefcios da Assistncia Social que visa prevenir situaes
20
de vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais, a partir do
desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vnculos
familiares e comunitrios.
A PSE destina-se a famlias e indivduos em situao de
risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou
ameaados por ocorrncia de violncia fsica ou psicolgica, abuso
ou explorao sexual; abandono, rompimento ou fragilizao de
vnculos ou afastamento do convvio familiar devido aplicao
de medidas.
As atividades da Proteo Especial so diferenciadas de
acordo com nveis de complexidade (mdia ou alta) e conforme a
situao vivenciada pelo indivduo ou famlia. Os servios de PSE
atuam diretamente ligados com o Sistema de Garantia de Direito -
SGD, exigindo uma gesto mais complexa e compartilhada com o
Poder Judicirio, o Ministrio Pblico e com outros rgos e aes
do Executivo. Cabe ao Ministrio do Desenvolvimento Social e
Combate Fome - MDS, em parceria com governos estaduais e
municipais, a promoo do atendimento s famlias ou indivduos
que enfrentam adversidades.
O CREAS a unidade pblica estatal de abrangncia
municipal ou regional que tem como papel constituir-se em
lcus de referncia, nos territrios, da oferta de trabalho social
especializado no SUAS a famlias e indivduos em situao de
risco pessoal ou social, por violao de direitos.
O papel do CREAS no SUAS defne suas competncias que,
de modo geral, compreendem:
ofertar e referenciar servios especializados de carter
continuado para famlias e indivduos em situao
de risco pessoal e social, por violao de direitos,
conforme dispe a Tipifcao Nacional de Servios
Socioassistenciais;
a gesto dos processos de trabalho na Unidade,
incluindo a coordenao tcnica e administrativa da
equipe, o planejamento, monitoramento e avaliao
das aes, a organizao e execuo direta do
trabalho social no mbito dos servios ofertados, o
relacionamento cotidiano com a rede e o registro de
informaes, sem prejuzo das competncias do rgo
21
gestor de assistncia social nessa direo, a oferta de
servios especializados pelo CREAS deve orientar-
se pela garantia das seguranas socioassistenciais,
conforme previsto na PNAS e na Tipifcao Nacional
de Servios Socioassistenciais QUE inclui os seguintes
servios, nominados a seguir:
Servio de Proteo e Atendimento
Especializado a Famlias e Indivduos
(PAEFI);
Servio Especializado em Abordagem
Social;
Servio de Proteo Social a
Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa de Liberdade
Assistida (LA), e de Prestao de
Servios Comunidade (PSC);
Servio de Proteo Social Especial
para Pessoas com Defcincia, Idosas
e suas Famlias;
Servio Especializado para Pessoas
em Situao de Rua.(BRASIL/MDS,
2011b)
Metodologia
A proposta de investigar a atuao de psiclogas(os) em
polticas pblicas especfcas ou transversais visa entender o
ncleo da prtica profssional da(o) psicloga(o), considerando a
exclusividade de cada rea, sade, educao, Assistncia Social,
e assim de cada Poltica Pblica. Todas as reas so eleitas a partir
de critrios como: tradio na atuao da Psicologia; abrangncia
territorial; existncia de marcos lgicos e legais e o carter social
ou emergencial dos servios prestados.
Dessa forma o Centro de Referncia Especializado de Assistncia
Social CREAS emergiu como tema de investigao do Crepop logo
aps a sua implementao pelo Sistema nico de Assistncia Social
- SUAS e da publicao das Referencias Tcnicas para Atuao de
Psiclogos no CRAS (CFP, 2007), pois a experincia de construir
referencias para o CRAS apontou para o Sistema Conselhos a
necessidade de uma maior qualifcao e orientao para a prtica
22
profssional da Psicologia na rea da Proteo Social Especial.
A Pesquisa do CREPOP/CFP
O processo investigativo da Rede CREPOP implica na construo
e atualizao de um banco de dados para comportar informaes
referenciadas, inclusive geografcamente, sobre profssionais de
Psicologia, legislaes, documentos, programas e entidades que
desenvolvem aes no campo das Polticas Pblicas.
Sendo assim, a pesquisa sobre atuao de psiclogas(os) no
CREAS foi realizada no ano de 2009, entre os meses de setembro a
novembro, tendo sido realizada em duas etapas, uma etapa nacional,
do tipo descritiva, a partir de um instrumento on-line; e uma etapa
qualitativa, realizada pelas unidades locais do Crepop, localizadas
nos Conselhos Regionais de Psicologia. Ressalta-se que, poca,
o Sistema Conselhos contava com apenas 17 CREPOPs Regionais.
O Sistema Conselhos de Psicologia, por meio do Crepop ao
longo dos ltimos anos implementou uma srie de pesquisas
na rea da Assistncia Social, como pesquisa sobre atuao de
Psiclogos na proteo especial de crianas e adolescentes (o
antigo Programa Sentinela, a Pesquisa sobre Psiclogas(os) em
Medidas Socioeducativas em Unidades de Internao, Pesquisas
sobre Programas de Ateno a Mulher em Situao de Violncias,
pesquisas essas que antecederam aa Pesquisa sobre o CREAS e
contriburam para construo e escolha dessa rea de investigao
de atuao do Psiclogo).
Assim, em 2009, o conjunto de psiclogas(os) respondentes
da primeira etapa da pesquisa totalizaram 522 profssionais que
j atuavam no CREAS. Faz parte da metodologia a participao
voluntria de psiclogas(os) na pesquisa, tanto na primeira etapa,
descritiva como na qualitativa.
Os dados descritivos permitiu que se pudesse construir o perfl
sciodemogrfco destes profssionais que so em sua maioria de
mulheres 88,1%, de cor branca 66,4%, com idade entre 23 e 31 anos
(54%), ps graduadas 54,4%, com pouco tempo de atuao como
psicloga(o) 31% trabalhavam como psiclogas(os) h menos de 2
anos.
O perfl nos mostra tambm a sua insero no trabalho do
23
CREAS dos respondentes destes 40% era recm contratados,
pois trabalhavam no CREAS a menos de 1 ano, 92% eram
contratadas(os) como Psiclogas(os), atuavam em organizaes
pblicas 88,1%, com contratos temporrios 32% e 52,2%
ganhavam at R$ 2.000,00.
Os resultados da pesquisa qualitativa identifcaram que a
implantao dos CREAS ocorria de maneira distinta nas diferentes
regies do Brasil, apontando que os principais problemas eram
relativos ausncia de polticas locais (estaduais e municipais).
Sobre a prtica profssional do psiclogo, a anlise dos dados
demonstrou que, em geral, aparecem difculdades de diversas
ordens, desde a falta de profssionais, ausncia de superviso,
falta de formao continuada, alm da difculdade de articular
uma rede de referncia na regio para ampliar as possibilidades
de atendimento das famlias de forma integral, para transformar
e fortalecer os vnculos e convvio familiar e comunitrio no
enfrentamento do risco social. Outras difculdades apontam para
Rede de ateno a ao do Estado, que deveria ser de oferecer
polticas e garantia de sustentabilidade s famlias, para fortalec-
las e proporcion-las outras formas de incluso, no observa s
necessidades e o contexto em que vivem o pblico atendido.
O Processo de elaborao de Referncia Tcnica
Os Documentos de Referncias Tcnicas so recursos que
o Conselho Federal de Psicologia oferece s psiclogas(os)
que atuam no mbito das polticas pblicas, como recurso para
qualifcao e orientao de sua prtica profssional.
Sua redao elaborada por uma Comisso Ad-hoc composta
por um grupo de especialistas reconhecidos por suas qualifcaes
tcnicas e cientfcas, por um Conselheiro do CFP mais um
Conselheiro do Comit Consultivo e um Tcnico do CREPOP.
O convite aos especialistas feito pelo CFP e no implica em
remunerao, sobretudo, porque muitos desses so profssionais
que j vinham trabalhando na organizao daquela poltica
pblica especfca, e recebem o convite como uma oportunidade
de intervirem na organizao da sua rea de atuao e pesquisa.
24
Nesta perspectiva, espera-se que esse processo de
elaborao de referncias tcnicas possa gerar refexes de
prticas profssionais, que possibilite visualizar o trabalho que
vem sendo desenvolvido por muitas psiclogas(os) e tambm
possa ser compartilhado, criticado e aprimorado, para uma
maior qualifcao da prtica psicolgica no mbito das Polticas
Pblicas.
1
(CFP, 2012)
Para construir o Documento de Referncias Tcnicas para a
Prtica de Psiclogas(os) no Centro de Referncia Especializado
da Assistncia Social - CREAS, foi formada uma Comisso em
2009, com um grupo de especialistas indicado pelos plenrios
dos Conselhos Regionais de Psicologia e pelo plenrio do
Conselho Federal. Assim, esta Comisso foi composta por
quatro especialistas que voluntariamente buscaram qualifcar
a discusso sobre Prtica de Psiclogas(os) no Centro de
Referncia Especializado da Assistncia Social - CREAS
O Processo de Consulta Pblica
A metodologia de elaborao de referncias tcnicas do
Sistema Conselhos de Psicologia/Rede CREPOP se utiliza
do processo de consulta pblica como uma etapa do processo
de referenciao e qualifcao da prtica profssional das (os)
psiclogas em polticas pblicas.
A Consulta Pblica um sistema criado e utilizado em vrias
instncias, inclusive governamentais, com o objetivo de auxiliar
na elaborao e coleta de opinies da sociedade sobre temas de
importncia. Esse sistema permite intensifcar a articulao entre
a representatividade e a sociedade, permitindo que esta participe
da formulao e defnio de politicas pblicas. O sistema de
consulta pblica permite ampliar a discusso da coisa pblica,
coletando de forma fcil, gil e com baixo custo as opinies da
sociedade.
1. Para conhecer toda metodologia de elaborao dos documentos de referncias
tcnicas do Sistema Conselhos/Rede Crepop, ver Documento de Metodologia
do Crepop 2011, in http://crepop.cfp.org.br
25
Para o Conselho Federal de Psicologia o mecanismo de
Consultas Pblicas se mostra til para colher contribuies,
tanto de setores especializados quanto da sociedade em geral
e, sobretudo, das(os) psiclogas(os), sobre as polticas e os
documentos que iro orientar as diversas prticas da Psicologia
nas Polticas Pblicas.
Para o Sistema Conselhos de Psicologia/ Rede Crepop,
a ferramenta de consulta pblica abriu a possibilidade de uma
ampla discusso sobre a Prtica de Psiclogas(os) no Centro
de Referncia Especializado da Assistncia Social - CREAS,
permitindo a participao e contribuio de toda a categoria na
construo sobre esse fazer da(o) Psicloga(o). Por meio da
consulta pblica o processo de elaborao do documento torna-se
democrtico e transparente para a categoria e toda a sociedade.
Com relao ao Documento de Referncias Tcnicas para a
Prtica de Psiclogas(os) no Centro de Referncia Especializado
da Assistncia Social - CREAS, a Consulta Pblica foi realizada
no perodo de 04 de junho a 15 de julho de 2012 e contou com
a participao de 503 psiclogas(os) que tiveram acesso ao
documento, tendo o texto em consulta recebido, ao todo, 28
contribuies. Junto a esse processo foi realizado um debate on
line, no dia 29 de junho de 2012, sobre o mesmo tema com a
participao de profssionais, gestores, professores e alunos de
Psicologia.
O sistema conselhos acolheu todas as contribuies
encaminhadas no processo de consulta pblica, o que levou a
Comisso ad-hoc de especialistas a aprimorar o texto que vai
referenciar a Prtica de Psiclogas(os) no Centro de Referncia
Especializado da Assistncia Social - CREAS. Aps a consulta
pblica e o debate on line, esta Comisso contou tambm com
a colaborao na discusso sobre o texto de uma psicloga, por
sua insero na poltica do CREAS, exercendo seu trabalho no
CREAS.
26
Organizao do Documento
O documento de referencias tcnicas para a prtica de
psiclogas(os) no centro de referncia especializado da
assistncia social - CREAS, est divido da seguinte forma:
Eixo I A proposta deste eixo analisar o signifcado da
Poltica de Assistncia Social, a partir de seu marco legal e
seu compromisso tico-poltico enquanto poltica pblica. Visa
apresentar e refetir sobre as questes ticas que permeiam a
atuao da(o) psicloga(o) em seu trabalho no CREAS - Centro
de Referncia Especializado da Assistncia Social, uma unidade
pblica estatal da Proteo Social Especial, estabelecida na
Poltica Nacional de Assistncia Social (BRASIL, 2004).
Eixo II O objetivo deste eixo buscar compreender a relao
entre a Psicologia e a Poltica de Assistncia Social, a partir da
anlise do signifcado das polticas pblicas e de uma psicologia
comprometida com a garantia de direitos da populao brasileira.
Os resultados da pesquisa (CFP/CREPOP/2009) apontam
questes importantes sobre essa relao e que sero discutidas
no decorrer deste eixo.
Eixo III Pretende-se neste eixo trazer refexo a atuao
de psiclogas(os) nos Centros de Referncia Especializado de
Assistncia Social CREAS, abordando os desafos a serem
enfrentados pelos profssionais de psicologia no campo em
questo, a fm de apontar diretrizes para a atuao das(os)
psiclogas(os) neste servio.
Eixo IV O objetivo deste eixo analisar as relaes e os
processos de trabalho no mbito da Poltica de Assistncia Social
e os desafos para sua efetivao, retratando as atuais refexes
desenvolvidas pela Psicologia, particularmente por psiclogas(os)
que atuam nos Centros de Referncia Especializado de
Assistncia Social CREAS. Neste contexto, fundamental
reconhecer que o debate sobre a gesto do trabalho no SUAS
afeta o conjunto amplo das categorias profssionais envolvidas
com a implementao do Sistema nico de Assistncia Social.
27
EIXO 1 - Dimenso tico-Poltica para
a Prtica das(os) Psiclogas(os) no
Centro de Referncia Especializado da
Assistncia Social - CREAS
28
29
EIXO 1 - Dimenso tico-Poltica para a Prtica
das(os) Psiclogas(os) no Centro de Referncia
Especializado da Assistncia Social - CREAS
A proposta deste eixo analisar o signifcado da Poltica de
Assistncia Social, a partir de seu marco legal e seu compromisso
tico-poltico enquanto poltica pblica. Visa apresentar e
refetir sobre as questes ticas que permeiam a atuao da(o)
psicloga(o) em seu trabalho no CREAS - Centro de Referncia
Especializado da Assistncia Social, unidade pblica estatal da
Proteo Social Especial, estabelecida na Poltica Nacional de
Assistncia Social (BRASIL, 2004).
At 1988, a assistncia social
2
no Brasil no era considerada
poltica pblica de garantia de direitos do cidado e dever do
Estado. Apesar de existir desde o Brasil Colnia, por meio de
aes de amparo e da flantropia aos abandonados, a sua ao
era pautada por valores e interesses que se confundiam com
dever moral, vocao religiosa ou sentimento de comiserao
(PEREIRA, 2007). No incio da repblica, a assistncia social
era compreendida a partir da higiene pblica e foi criado um
complexo trip mdico-jurdico-assistencial de interveno na
vida familiar, que propunha controle e segregao daquelas
famlias que no se adaptavam ao projeto civilizatrio moralista
que se desenhava no pas (RIZZINI,1997). Nos perodos
seguintes, assistiu-se na rea a hegemonia de aes e polticas
compensatrias que pudessem apenas minimizar as carncias
da populao, a partir de concepes populistas e clientelistas
que visavam ganhos eleitorais. Na dcada de 70, com a ditadura
militar, o modelo de atendimento na assistncia social seguia a
ideologia da Doutrina de Segurana Nacional, uma estratgia de
aproximao de lideranas comunitrias e polticas a partir de
sua obra social, incentivando em larga escala, aes ofertadas
atravs de convnios com organizaes no governamentais,
2. Usa-se a letra minscula para tratar de aes fragmentadas de assistncia
social que no eram organizadas enquanto uma Poltica de Assistncia Social,
regulamentada somente em 1993, atravs da Lei Orgnica de Assistncia Social.
30
sem preocupao com a qualidade do atendimento, mas com o
controle das comunidades (ROSEMBERG, 1997, p.142).
As concepes de assistncia social, brevemente apresentadas
acima, caracterizaram o que se convencionou chamar de
assistencialismo, o uso distorcido e perverso da assistncia
ou a desassistncia, nas palavras de Pereira (2007, p.64). Seu
objetivo no era atender as necessidades ou muito menos os
direitos da populao, mas perpetuar posies sociais. A partir de
1986, aps a abertura poltica no pas, h uma forte mobilizao
popular pela ampliao do Estado, por meio da oferta de polticas
pblicas que viessem garantir direitos sociais j prescritos em
Convenes Internacionais. Com a promulgao em 1988 da
Constituio Federal vigente, a Assistncia Social passa a fgurar
como poltica pblica no contributiva, ao lado da Sade e da
Previdncia, confgurando um paradigma centrado na noo de
cidadania: direito de todos os cidados que dela necessitarem.
No incio da dcada de 90, apesar da retrao do Estado,
proposto pelo projeto neoliberal que se instalava no pas, um
amplo movimento nacional em prol da implementao da poltica
de Assistncia Social impulsiona a aprovao da Lei Orgnica
de Assistncia Social (LOAS), em 1993. Esta nova lei vem
regulamentar os artigos 203 e 204 da Constituio Federal e criar
as condies para a institucionalidade da Assistncia Social como
poltica de garantia de direitos no pas. A prescrio na LOAS de
implantao de Conselhos e Conferncias de Assistncia Social
nas trs esferas de governo, articulado com um forte movimento da
sociedade civil, consegue promover um processo de construo
da gesto pblica e participativa da Assistncia Social. Mas foi
em 2004, com a organizao da poltica em forma de Sistema
nico de Assistncia Social (SUAS)
3
, que o novo modelo de
3. O SUAS teve suas bases para implantao na Poltica Nacional de Assistncia
Social PNAS em 2004, por meio da Resoluo CNAS n 145/2004 e sua
operacionalizao sendo materializada pela Resoluo CNAS n 130/2005, que
trata da Norma Operacional Bsica do SUAS. Este acmulo de construo da
poltica pblica de Assistncia Social foi referendado pela Lei n 12.435, DE 6 DE
JULHO DE 2011 que alterou assim a LOAS- Lei n 8.742/1993. O CNAS aprovou
em dezembro de 2012 a nova NOBSUAS 2012 atravs da resoluo 33/2012.
31
4. Os principais marcos legais so a Lei Orgnica de Assistncia Social (com as
novas redaes dadas pelas Lei n. 12.435 e Lei n. 12.470); a Poltica Nacional de
Assistncia Social- PNAS de 2004, as Normas Operacionais Bsicas - NOB/SUAS
2012 e NOB/ RH de 2006; a Tipifcao Nacional de Servios Socioassistenciais
de 2009; as Orientaes sobre a Gesto do Centro de Referncia Especializado
de Assistncia Social - CREAS - 1 Verso de 2011, as Orientaes tcnicas do
Centro de Referncia Especializado de Assistncia Social de 2011, alm das
leis e normativas que tratam dos segmentos atendidos nos CREAS : Estatuto da
Criana e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Poltica Nacional para a Incluso da
Pessoa com Defcincia, Lei Maria da Penha, Sistema Nacional de Atendimento
Scioeducativo , entre outros
gesto organiza os servios, programas, projetos e benefcios,
tendo como base o territrio e a centralidade na famlia, para sua
concepo e implementao.
fundamental que a (o) psicloga (o) que trabalhe no CREAS
conhea bem os marcos legais da Poltica de Assistencial Social,
em especial aqueles que tenham relao direta com a proteo
especial. Recomenda-se a leitura e discusso em equipe de
todos os documentos legais e suas atualizaes
4
, pois as
referncias aqui colocadas pelo Conselho Federal de Psicologia,
no substituem a regulamentao j produzida.
O Centro de Referencia Especializado de Assistncia Social
CREAS
O CREAS se materializa dentro do SUAS como uma
unidade pblica estatal da Proteo Social Especial de mdia
complexidade, capaz de promover a superao das situaes
de violao de direitos tais como violncia intrafamiliar, abuso
e explorao sexual, situao de rua, cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, trabalho infantil, contingncias
de idosos e pessoas com defcincia em situao de dependncia
com afastamento do convvio familiar e comunitrio, discriminao
em decorrncia da orientao sexual e/ou raa/etnia, dentre
outros. (BRASIL, 2011).
No SUAS o CREAS defnido como:
32
[...]a unidade pblica de abrangncia e gesto municipal,
estadual ou regional, destinada prestao de servios a
indivduos e famlias que se encontram em situao de risco
pessoal ou social, por violao de direitos ou contingncia
e que demandam intervenes especializadas da proteo
social especial (BRASIL, 2011, artigo 6).
Os fenmenos sociais que perpassam os sujeitos que chegam
ao CREAS no so prerrogativas de populaes pobres. A violao
de direitos, o agravamento de situaes de risco pessoal e social,
o afastamento do convvio familiar, a fragilizao ou rompimento
de vnculos e a violncia intrafamiliar ou domstica acontecem em
todas as classes sociais. A excluso social e/ou a vulnerabilidade
social est presente nas muitas histrias que se ouve nos CREAS.
Entre a excluso e a integrao social existe uma vasta zona de
vulnerabilidade social (FILGUEIRAS, 2004, p.28). So situaes
que representam a no participao do sujeito no usufruto dos
bens sociais, a solido e/ou a estigmatizao social. Outras
situaes tambm podem estar relacionadas aos eventos que
causam a violao de direitos, como o abuso de lcool e drogas,
transtorno ou sofrimento mental, ou a repetio de padres de
comportamentos familiares, s vezes intergeracionais, como a
violncia domstica e o trabalho infantil. Portanto, so dimenses
do vnculo social e de acesso aos bens sociais que se expem
para confgurar uma situao de violao de direito.
O pblico chega ao CREAS encaminhado por juzes,
promotores ou conselheiros tutelares, a partir de denncias,
eventos de violncia intrafamiliar, ato infracional ou por busca
ativa. O CREAS compe assim o Sistema de Garantia de Direitos
- SGD. Esse Sistema foi caracterizado na Resoluo 113/2006
do Conselho Nacional dos Direitos da Criana e do Adolescente
(CONANDA) para a efetivao dos direitos voltados para a infncia
e adolescncia. Entretanto essa forma de organizao da poltica,
atravs de um conjunto articulado de aes governamentais e
no governamentais da Unio, Estados e Municpios nos eixos de
promoo, defesa e controle de direitos, tambm est presente
na Poltica Nacional do Idoso, da Pessoa com Defcincia e em
outras polticas de defesa de direitos de segmentos especfcos.
33
O SGD composto pelos rgos judiciais, defensorias pblicas,
polcias, conselhos tutelares, ouvidorias, conselhos de direitos,
conselhos setoriais e de maneira transversal e intersetorial,
articula todas as polticas pblicas. Um Sistema como esse
deve funcionar em rede, mas articular rgos to distintos em
competncias e vinculao institucional, sem hierarquia de
gesto entre si, no tarefa simples e muitas vezes as aes so
fragmentadas, superpostas ou contraditrias (AKERMAN, 2012).
A superao da situao de direito violado no CREAS exige,
portanto, intervenes complexas e singulares, com articulao
de toda a rede do SGD. Sendo o trabalho no CREAS de natureza
interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional, consideramos que
um compromisso tico do psiclogo no CREAS contribuir para
melhorar os fuxos e a articulao das instituies que compem
o SGD, evitando que as famlias e indivduos referenciados nos
CREAS sofram o que Santos (2010) nomeia como dupla opresso,
pois alm de j terem experienciado uma trajetria de violao
de direitos, so submetidos a uma violncia provocada por um
itinerrio dentro do SGD com muitos obstculos (AKERMAN,
2012, p .6).
A Psicologia e o paradigma da cidadania
Apesar dos avanos da legislao e da implementao do
SUAS, ainda permanece o peso da herana histrica da relao
do Estado brasileiro com famlias pobres, vulnerveis e/ou
excludas. Essa promessa toma contornos complexos, devido
enorme desigualdade social existente no pas. O discurso dos
direitos se contrape a outras representaes que naturalizam
a vulnerabilidade social, causadas por vontade prpria da
populao.
Como vimos anteriormente, essa herana ainda traz para
a poltica de Assistncia Social, prticas assistencialistas,
clientelistas e preconceituosas, que reforam uma cultura
poltica que precariza a gesto da poltica. Essa concepo
que ainda persiste em vrios municpios do pas, se materializa
no CREAS atravs da baixa institucionalidade em relao s
34
determinaes prescritas nos marcos legais. A concepo da
poltica de Assistncia Social com vistas garantia dos direitos e
ao desenvolvimento humano se expressa na noo de cidadania,
tomada aqui como um direito a ter direitos. Conforme nos
ensina Bobbio (1992) a cidadania um valor tico que exige
um posicionamento constante para almejar consonncia entre o
reconhecimento do direito e sua efetiva proteo. Dessa forma,
consideramos a poltica de Assistncia Social em processo de
consolidao. Concordando com Silvia Telles, (1999, p.175) os
direitos so uma herana da modernidade, uma promessa de
igualdade e justia.
Em consonncia com esta perspectiva, a atuao da(o)
psicloga(o), pautada na concepo dos direitos fundamentais
est explicitada no nosso Cdigo de tica:
O psiclogo basear o seu trabalho no respeito e na
promoo da liberdade, da dignidade, da igualdade e
da integridade do ser humano, apoiado nos valores que
embasam a Declarao Universal dos Direitos Humanos.
(CFP, 2005).
A rigor, no existe uma prtica profssional sem um
posicionamento poltico. No existe imparcialidade, no existe
neutralidade. Podem-se encontrar trabalhos alienados, mas,
mesmo eles, esto objetivando e subjetivando uma posio em
relao concepo de direitos humanos. O posicionamento tico
aqui proposto se coaduna com a institucionalidade da psicologia
como profsso que considera a relevncia dos direitos humanos
para a consolidao e o exerccio da cidadania (...) e para o
exerccio de toda e qualquer atividade profssional, notadamente
para a Psicologia e os psiclogos. (Resoluo do CFP N. 011
de 1998).
Na Norma Operacional Bsica de Recursos Humanos do
Sistema nico de Assistncia Social - NOB/RH/SUAS (BRASIL,
2006), a noo de cidadania apresentada como um princpio
tico do/a trabalhador/a do SUAS, defnida como defesa
intransigente dos direitos socioassistenciais. A Psicologia em
sua histria da profsso atuou mais de uma vez em processos
35
de ajustamento do sujeito ou de conformidade com a realidade,
que hegemonicamente buscava colocar no indivduo a
responsabilidade por sua condio social. Esse passado, que
precisa ser compreendido criticamente dentro de um processo
histrico geralmente descontnuo, vem sendo reconstrudo em
consonncia com a construo de uma sociedade de direitos.
A psicologia, por meio de seus profssionais, pela academia e
entidades, vem se constituindo como uma fora crtica bastante
presente na desconstruo de prticas e paradigmas anacrnicos
existentes no campo socioassistencial. No novidade a atuao
da psicologia em defesa de direitos de crianas e adolescentes;
no repdio a toda forma de discriminao; na crtica s instituies
totais, judicializao da vida, medicalizao da sociedade e
criminalizao da pobreza e a vrias outras situaes de violao
de direitos. Essas questes atravessam todas as polticas
pblicas, mas tem especial relevncia na construo da poltica de
Assistncia Social entendida como proteo social para garantia
e/ou reparao de direitos.
A poltica de Assistncia Social foi defnida a partir das suas
trs funes: a proteo social, a vigilncia socioassistencial e
a defesa social e institucional. A prtica da psicologia discutida
acima, nos remete funo de defesa social e institucional
defnida pela PNAS/2004 reafrmado na NOB/SUAS/2005, a
partir, dentre outras, da seguinte concepo:
O direito cidadania no s declaratrio, isto , no
depende s de palavras ou texto de lei. Ele precisa ter
processualidade, precisa procedimentalizar o acesso aos
direitos na gesto da poltica. Esses direitos precisam
estar presentes na dinmica dos benefcios, servios,
programas e projetos socioassistenciais. O paradigma
da universalizao do direito proteo social supe a
ruptura com idias tutelares e de subalternidade, que
identifcam os cidados como carentes, necessitados,
pobres, mendigos, discriminando-os e apartando-os do
reconhecimento como sujeitos de direito. NOB/SUAS
(BRASIL, 2005, p.21).
36
Referendado por nosso cdigo de tica, a refexo sobre a prtica
da(o) psicloga(o) no CREAS deve permitir a constante reviso de
seus posicionamentos diante das situaes e dilemas com as quais
vai se defrontar no exerccio de seu trabalho cotidiano.
Um Cdigo de tica profssional, ao estabelecer padres
esperados quanto s prticas referendadas pela respectiva
categoria profssional e pela sociedade, procura fomentar a auto-
refexo exigida de cada indivduo acerca da sua prxis, de modo
a responsabiliz-lo, pessoal e coletivamente, por aes e suas
conseqncias no exerccio profssional. A misso primordial de
um cdigo de tica profssional no de normatizar a natureza
tcnica do trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de valores
relevantes para a sociedade e para as prticas desenvolvidas, um
padro de conduta que fortalea o reconhecimento social daquela
categoria. (CFP, 2005, p.1).
Posto isso, cabe a(o) psicloga(o) avaliar continuamente suas
concepes a respeito das histrias de excluso que muitas
vezes se ouve e vivencia nos CREAS. A citao abaixo retirada
da pesquisa CREPOP/CFP/2009 explicita o quanto o pblico
da Assistncia Social traz uma complexidade que precisa ser
refetida, sob o risco de reforar a excluso a que ele j est
exposto:
[...] pblico que a escola no d conta, que a unidade de
sade no d conta [...] que a prpria assistncia no
d conta . Alguns casos, (...) extrapola os nveis de
complexidade (...) conhecidos. (CFP/CREPOP/2009).
Em contrapartida, esse bordo a respeito do pblico que
atendido no CREAS deve ser o incentivo a uma posio
permanente e frme de tolerncia, resilincia. Portanto, requer
profssionais qualifcados para um atendimento s situaes
complexas que demandam um trabalho articulado, integrado,
democrtico e participativo.
A seguir apontaremos algumas referencias de como a
psicologia pode contribuir no trabalho social interdisciplinar com a
defesa da cidadania e construo de novos projetos de vida para
as famlias e indivduos em seu trabalho no CREAS.
37
Desafos e potencialidades no trabalho do CREAS
A pesquisa sobre atuao da(o) psicloga(o) nos CREAS,
realizada pelo CREPOP (CFP/CREPOP/2009), revelou alguns
desafos na dimenso tico-poltica da atuao da(o) psicloga(o)
que sero analisados a seguir com apontamentos de referncias
para o enfrentamento desses desafos.
Um primeiro grupo de desafos se refere a questes relacionadas
ao princpio tico do sigilo. Nota-se que as (os) psiclogas (os)
se preocupam com essa questo e buscam garanti-lo, de uma
forma ou de outra, demonstrando ser esse um princpio que foi
assumido pela categoria. Entretanto, manifestam preocupao
com a garantia do sigilo devido precariedade dos locais onde
fcam guardados os pronturios de atendimento e a organizao
das salas de atendimento, que muitas vezes no isolam o som
e permitem a quem est de fora ouvir o que se fala do lado de
dentro. Outra preocupao apontada, diz respeito divulgao de
informaes em reunies de estudos de caso com profssionais
da rede ou em relatrios enviados ao Judicirio ou Conselhos
Tutelares. Assim, cabe esclarecer aqui algumas dvidas a esse
respeito, bem como discutir estratgias de garantia do sigilo
prescrito no nosso Cdigo de tica.
Cabe lembrar que os Conselhos Profssionais tm a atribuio
de orientar e fscalizar os profssionais e as instituies quanto ao
exerccio da profsso
5
. Na resoluo do CFP n 01 de 2009, fca
explicitado que o registro documental em papel ou informatizado
sobre a prestao de servios das(os) psiclogas(os) tm carter
sigiloso. A guarda do registro documental de responsabilidade
compartilhada entre a(o) psicloga(o) e a Instituio. O pronturio
deve conter informaes sucintas sobre o trabalho prestado, a
descrio e a evoluo da atividade e os procedimentos tcnico-
cientfcos adotados (CFP, 2009). importante lembrar que,
conforme essa resoluo citada, o usurio ou seu representante
legal tem a garantia de acesso integral s informaes registradas
pela (o) psicloga (o) no seu pronturio. Outro aspecto tratado
5. Esse tema ser aprofundado no Eixo IV.
38
nessa resoluo diz respeito equipe multiprofssional do mesmo
servio, pois nesse caso, quando o atendimento for conjunto, o
registro deve ser realizado em um nico pronturio.
Como j foi discutido neste texto, o CREAS se organiza a partir
de um trabalho em rede com outras instituies e requer, portanto,
aes integradas. Assim, nos estudos de caso realizados em
rede, deve ser observado o princpio do sigilo e tambm o do
compartilhamento de informaes de forma tica, conforme
descrito na cartilha elaborada conjuntamente pelos Conselhos
Federais de Psicologia e de Servio Social:
O Cdigo de tica Profssional de assistentes sociais e
psiclogos(as) estabelece direitos e deveres que, no
mbito do trabalho em equipe, resguardam-lhes o sigilo
profssional, de modo que estes(as) no podem e no
devem encaminhar, a outrem, informaes, atribuies e
tarefas que no estejam em seu campo de atuao. Por
outro lado, s devem compartilhar informaes relevantes
para qualifcar o servio prestado, resguardando o seu
carter confdencial, assinalando a responsabilidade, de
quem as receber, de preservar o sigilo. Na elaborao
conjunta dos documentos que embasam as atividades em
equipe interdisciplinar, psiclogos/as e assistentes sociais
devem registrar apenas as informaes necessrias para
o cumprimento dos objetivos do trabalho.
(CFESS, CFP, 2007. p.38).
Outro grupo de desafos apontados na pesquisa se confgura
na realizao de atividades que no so de competncia
do CREAS, ou mesmo da Poltica de Assistncia Social que
demonstram que a identidade do CREAS ainda tem muito a
avanar. Na concepo da assistncia social como caridade e
assistencialismo, onde o sujeito e sua famlia, abandonados
pelo Estado, e responsabilizados assim, pela sua condio, a
assistncia visa apenas minimizar a situao. Com o rompimento
dessa concepo, a partir do paradigma da cidadania, o Estado
reconhece uma situao de violao de direitos e convoca este
cidado e sua famlia para promover junto com ele a superao
da situao em que se encontra. Neste chamado est implcito
39
um acolhimento, atravs de vnculo com o profssional que o
recebe no CREAS. Assim, muitas psiclogas (os) acreditam que
esse vnculo que estabelecem com o pblico deve ser trabalhado
atravs da psicoterapia. Na pesquisa realizada pelo CREPOP, a
psicoterapia aparece como atividade no CREAS, por um lado,
porque alguns psiclogos crem que essa a sua funo, e por
outro, por que no conseguem vagas ou encaminhamentos para
a poltica de sade e, percebendo a importncia deste tratamento,
se propem elas mesmas a realiz-los. Destaca-se que esta
no deve ser uma atividade desenvolvida no SUAS . Ela deve
ser ofertada pela poltica de sade, e por outros servios, como
clinicas-escolas ligadas s Universidades, clinicas sociais, etc.
Torna-se importante afrmar que o atendimento psicossocial
realizado no CREAS tambm tem um efeito teraputico na
medida em que busca a compreenso do sofrimento de sujeitos
e suas famlias nas situaes de violao de direito, e visa a
promoo de mudana, autonomia, superao. Entretanto, na
poltica de assistncia social, o vinculo estabelecido entre o
profssional e o pblico do CREAS deve ser construdo a partir do
reconhecimento de uma histria de vida, imersa em um contexto
social, sem uma perspectiva individualizante. Para isto, vrias
atividades combinadas so importantes para provocar refexes
e novos pertencimentos sociais, que podem produzir esse efeito
teraputico que apontamos acima, tais como a realizao de
grupos psicossociais, a incluso em novas sociabilidades, o
retorno escola, o apoio fnanceiro ou material, o acolhimento,
entre outros.
6
A pesquisa do CREPOP (CFP/CREPOP/2009) aponta
ainda desafos em relao articulao com a rede de Sade
e tambm com outras polticas e instituies que estabelecem
interfaces com o trabalho nos CREAS, tais como: a burocracia
dos encaminhamentos, a desarticulao da rede, a morosidade
do judicirio, a precariedade dos Conselhos Tutelares, entre
outros. Um posicionamento tico poltico da(o) psicloga(o) no
CREAS passa pelo incentivo, fortalecimento e articulao da rede
6. Estas atividades sero apresentados no Eixo III
40
que ir acolher o pblico encaminhado.
Em relao s atividades realizadas pelas (os) psiclogas (os)
nos CREAS, que so determinadas por gestores ou juzes , tais
como a obrigao de realizao de laudos psicolgicos para o
Judicirio, averiguao de denncias, trabalho concomitante
em outras polticas
7
, e outras prticas fora dos critrios
regulamentados, parecem caracterizar uma situao de abuso de
autoridade ou posicionamentos assistencialista ou clientelista. O
que recomendamos, em relao a todas as situaes apontadas
acima, o desenvolvimento de aes polticas que possibilitem o
exerccio do controle social sobre a execuo da poltica, a partir
dos preceitos do SUAS. Portanto, os espaos dos Conselhos de
Assistncia Social, bem como fruns de trabalhadores, dentre
outros so lugares legtimos para o debate sobre os limites e
possibilidades de atuao.
Como vimos na histria da Assistncia Social, muitas
concepes clientelistas, tutelares e assistencialistas ainda
disputam posies. Portanto necessrio romper com essas
prticas nos servios e ocupar os espaos institucionais j
previstos na poltica como conselhos, conferncias, mesas de
negociaes, capacitaes, entre outras. Essas atividades, como
j apontadas anteriormente fazem parte da funo de defesa
social e institucional prevista nas normativas do SUAS. Promover
a defesa de direitos representa confrontar posies polticas.
Ressaltamos que a iniciativa da(o) psicloga(o) deve ter a direo
do coletivo, de um movimento poltico que busque a mudana
social, a quebra de paradigmas e o rompimento com prticas
conservadoras e dominantes. Essas atividades no podem ser
vistas como uma perda de tempo em detrimento das atividades
prescritas na funo de proteo social ao pblico.
Na pesquisa (CFP/CREPOP/2009) verifcou-se tambm que
alm dos desafos, as(os) psiclogas(os) tm encontrado tambm
7. Este contexto foi explicitado na pesquisa CREPOP/CFP/2009, cujos relatos
confguravam diversas situaes de precarizao da atuao de psiclogas (os) :
municpios nos quais os profssionais dividem-se entre as diferentes polticas, ou at
mesmo, na Poltica de Assistncia Social, divididos nos servios da proteo social
bsica e da proteo social especial dentre outros.
41
muitas potencialidades no trabalho nos CREAS, evidenciadas em
muitas inovaes implementadas e consideradas exitosas pelas
mesmas. As prticas descritas em relao ao pblico, equipe,
aos gestores, rede, mdia e sociedade em geral
8
, envolvem
trabalhos com grupos variados de famlias, jovens e pessoas
atendidas, formao da equipe, superviso de casos, parcerias
com universidades, modalidades inovadoras de visita familiar
e de busca ativa, construo de fuxos de encaminhamentos,
entre outras; enfm, uma diversidade quase to grande, quanto
o nmero de psiclogas(os) que trabalha no CREAS. Essa
constatao indica o quanto a psicologia j avanou em sua
compreenso no campo da poltica pblica de Assistncia Social.
O caderno da coleo Capacita SUAS I, volume 3, publicada pelo
Ministrio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS,
com o objetivo de assessorar os gestores de Assistncia Social
do pas na elaborao de planos municipais, reafrma essa idia,
ao acolher experincias inovadoras:
Ideias originais nem sempre podem ser colocadas em
cronogramas rgidos. Elas tm que estar livres para
surgir a qualquer hora e em qualquer lugar e fuir no
agir e nas situaes de difculdade e confito. Essas
inovaes, geralmente fruto do aprendizado informal,
no so contraditrias ao carter de ordenamento do
Plano. Pelo contrrio, a criatividade, a ousadia, a abertura
sensibilidade so bsicas renovao da prtica de
planejar. (...) A criatividade fundamental para a gesto
do social. preciso construir um enfoque prprio de
planejamento e gerenciamento social, caracterizado por
marcos conceituais especfcos e instrumentos tcnicos
de execuo, monitoramento e avaliao adequados.
(BRASIL, MDS, 2010).
Em um campo to aberto a inovaes, a perspectiva da
avaliao de seus impactos deve estar sempre presente. Como
8. As praticas referidas encontram-se no Relatrio de Pesquisa Atuao dos
Psiclogos no CREAS e outros servios especiais de acolhida e atendimento
domiciliar do SUAS, disponvel no stio do CREPOP: http://crepop.pol.org.br/novo/.
42
nos lembra Oliveira (CFP/MDS, 2010), inovar criar e no
improvisar. A criao realizada a partir das condies dadas, mas
deve representar um avano verdadeiro, autntico, genuno, vivo.
Os desafos que se apresentam para o exerccio da psicologia
no campo da Assistncia Social trazem tanto a oportunidade de
criao, quanto o risco de manter a precariedade das situaes
problemas, atravs da resoluo individual e paliativa desses.
Citando o Msico Geraldo Vandr: quem sabe faz a hora, no
espera acontecer, consideramos que as inovaes so muito
bem vindas, e devem ser gestadas, compartilhadas, monitoradas,
avaliadas e divulgadas coletivamente, contribuindo assim para o
desenvolvimento da psicologia enquanto profsso no campo da
Assistncia Social.
43
EIXO 2: Psicologia e a Poltica
de Assistncia Social
44
45
EIXO 2: Psicologia e a Poltica de Assistncia Social
O objetivo deste eixo buscar compreender a relao entre
a Psicologia e a Poltica de Assistncia Social, a partir da
anlise do signifcado das polticas pblicas e de uma psicologia
comprometida com a garantia de direitos da populao brasileira.
Os resultados da pesquisa (CFP/CREPOP/2009) apontam
questes importantes sobre essa relao e que sero discutidas
no decorrer deste eixo.
Psicologia, SUAS e Polticas Pblicas
Segundo relatam os dados da pesquisa (CFP/CREPOP/2009),
83,9% das(os) psiclogas(os) consideram a sua atuao
profssional inserida no campo das polticas pblicas. Este
um dado relevante, que aponta o compromisso da categoria
com questes mais coletivas, com a defesa de direitos e o
reconhecimento do mbito pblico como espao de atuao.
Esse fato aponta para um novo perfl profssional, j que a
profsso foi historicamente caracterizada como elitista, sem
atuao no espao pblico e com uma viso descontextualizada
dos fenmenos sociais.
Para se compreender a presena da Psicologia na Poltica
de Assistncia Social necessrio um debate mais amplo
sobre as polticas pblicas. Essas surgem como um dever do
Estado e direito do Cidado, tendo como base os princpios da
universalidade e da equidade na consolidao da justia social.
Segundo Silveira et al. (2007, p. 21), por meio delas, os bens e
os servios sociais so distribudos, redistribudos, de maneira a
garantir o direito coletivo e atender s demandas da sociedade.
Quando se fala em poltica pblica, precisa-se esclarecer o
termo pblico. Na cultura brasileira, muitas vezes ele utilizado
como algo que no tem dono, que no precisa de cuidado, que
pertence ao poder executivo, legislativo ou judicirio. Mas no
se pode esquecer que essa falta de sentimento de pertena e
de identidade de lugar (GIS, 2005) um fato que no algo
natural e sim construdo por uma histria. No Brasil, os anos de
46
ditadura militar e de pouca participao popular enfraqueceram a
fora e a conscientizao (FREIRE, 1980) do cidado brasileiro
frente aos seus direitos e deveres. Atualmente, faz-se necessrio
ressignifcar o termo pblico e incorpor-lo como algo da nossa
vida, da nossa realidade e do nosso pas. Assim, torna-se
importante a construo de um sentimento de pertena e de
apropriao das polticas e unidades pblicas que so nossas,
enquanto cidados e cidads.
O termo pblico, associado poltica, no uma
referncia exclusiva ao Estado, como muitos pensam,
mas sim coisa pblica, ou seja, de todos, sob a gide
de uma lei e apoio de uma comunidade de interesses.
Portanto, embora as polticas pblicas sejam reguladas
e frequentemente providas pelo Estado, elas tambm
englobam preferncias, escolhas e decises privadas
podendo (e devendo) ser controladas pelos cidados. A
poltica pblica expressa, assim, a converso de decises
privadas em decises e aes pblicas, que afetam a todos.
(PEREIRA, 1994 apud CUNHA e CUNHA, 2003, p. 12).
Como j apontado no eixo anterior uma nova realidade poltica
teve incio com a mobilizao de trabalhadores, estudantes,
comunidades e outros movimentos sociais populares da dcada
de 1970 que defendiam o retorno da democracia e a melhoria
das condies de vida. Nesse processo de redemocratizao no
Brasil, a Constituio Brasileira de 1988 defniu os direitos sociais
da populao brasileira que foram traduzidos em deveres do
Estado por meio das polticas pblicas.
As construes e efetivao das polticas pblicas so ento
legitimadas a partir da promulgao da Constituio Brasileira de
1988, trazendo consigo a consolidao e institucionalizao dos
direitos sociais e a participao popular, articulando democracia
representativa com a democracia participativa. Segundo Amman
(1978, p.61), a participao popular o processo mediante o qual
as diversas camadas da sociedade tomam parte na produo, na
gesto e no usufruto dos bens de uma sociedade historicamente
determinada. Esta acontece nas instncias de controle social,
47
como nos Conselhos, espao que aglutina o Estado e a sociedade
civil para deliberar, fscalizar e avaliar a execuo das polticas
pblicas; nas Conferncias especfcas, em que o governo e a
sociedade civil, em suas representaes por segmentos, discutem
na esfera municipal, estadual e federal, os rumos das polticas
pblicas; nos Fruns que contribuem com refexes e propostas
para formulao de polticas sociais e pblicas. Alm destes,
existem outras formas de participao, tais como: manifestaes
de rua, documentos de abaixo-assinado, referendos, plebiscitos,
eleies, audincias pblicas, entre outras. Ressaltamos que
todas as categorias profssionais, cidados, cidads, movimentos
sociais, Organizaes No-Governamentais (ONGs) e demais
grupos que atuam nas polticas pblicas precisam apropriar-
se destes espaos de participao, contribuindo para que as
polticas pblicas realmente cumpram o seu papel na melhoria da
qualidade de vida da populao ou mesmo que sejam inovadas,
alteradas e melhoradas. A partir da consolidao da atuao da
psicologia na esfera pblica, fundamental a participao da
categoria nos espaos de regulamentao das polticas pblicas.
Segundo Saadallah (2007), a participao da psicologia nestes
espaos passa por duas vias importantes: a primeira atravs da
representao institucional da Psicologia, por meio das instancias
representativas da categoria, como os conselhos regionais e
federal de psicologia, as entidades sindicais, as associaes de
ensino e pesquisa em psicologia, dentre outras. J a segunda, se
d atravs da participao direta da(o) profssional psicloga(o),
envolvida nestes espaos de participao.
Podemos afrmar que a atuao da Psicologia na Poltica de
Assistncia Social est sendo construda, a partir de uma refexo
crtica sobre seu potencial e papel. Segundo Sawaia (2009), a
insero da Psicologia nas polticas pblicas acontece de forma a
tensionar alguns paradigmas vigentes reforadores da concepo
de que as polticas pblicas, por seu carter abrangente, se fazem
antagnicas subjetividade e singularidade (SAWAIA, 2009, p.
365). Nessa perspectiva, a Psicologia tem o desafo de contribuir
para os processos subjetivos de emancipao e autonomia dos
sujeitos em situao de violao de direitos. Para Saadallah
48
(2007), a participao da psicologia nas polticas pblicas deve
ser pautada na garantia dos direitos humanos, na emancipao
humana, na cidadania e a servio das lutas contra as injustias,
pobreza e violncia. No deve reforar a tutela do Estado, a viso
da caridade e a submisso dos sujeitos s polticas pblicas.
Nas prximas sees, discutiremos um pouco mais sobre as
possibilidades e potencialidades da psicologia no CREAS.
Psicologias o trabalho com famlias e pessoas em situao
de vulnerabilidade e risco social e pessoal por violao de
direitos
As discusses da pesquisa realizada pelo Crepop (CFP/
CREPOP/2009) apontam difculdades que as(os) psiclogas(os)
afrmam enfrentar na pratica cotidiana. As discusses indicaram que
para muitas(os) psiclogas(os) que atuam no campo da Assistncia
Social ainda no est bem delimitado o seu papel. Alguns/mas
apontaram, tambm, que a atuao dos profssionais da Psicologia
se confunde com a atuao dos/as assistentes sociais e os papis
profssionais no esto bem defnidos no CREAS.
De fato as orientaes tcnicas sobre o trabalho no CREAS no
distingue as funes dos profssionais que compem a equipe de
referncia, mas consideramos que, apesar desses profssionais
exercerem a mesma funo, cada categoria profssional no CREAS
trabalha a partir de teorias e metodologias relacionadas com a
sua rea de conhecimento. No caso da Psicologia, consideramos
que esta tem muito a contribuir com a proteo social especial
de famlias e/ou indivduos tendo como foco a subjetividade e os
processos psicossociais.
A partir da histria da psicologia, podemos perceber que a
regulamentao da profsso de psicloga(o) no Brasil em 1962
teve como objetivo principal o atendimento das demandas oriundas
das classes dominantes. Os refexos da ditadura militar no meio
acadmico repercutiram de forma preponderante na consolidao
de teorias e metodologias psicolgicas que assegurassem
um perfl de profssional liberal e elitista que no trabalhava o
sujeito no seu contexto social. Essas caractersticas da profsso
49
contriburam para a formao de um profssional que focava suas
aes em espaos privados e quase no tinha insero no mbito
das polticas pblicas, dos movimentos sociais e do terceiro setor.
Segundo Bock (2003), trs aspectos marcaram a construo
deste perfl profssional: naturalizao e universalizao dos
fenmenos psicolgicos sem contextualiz-los com o social,
falta de participao poltica da categoria e a responsabilizao
unicamente das pessoas por seu desenvolvimento.
Neste contexto histrico, a atuao da(o) psicloga(o) esteve
marcada pela clnica tradicional e privada, tendo um nico modelo
de interveno: a psicoterapia. Importava (o) psicloga(o) olhar
para o sujeito a partir de suas questes privadas, intra psquicas,
individuais, na sua busca pelo crescimento e conhecimento. Este
modelo de interveno tornou-se uma referencia para a atuao
das(os) psiclogas(os) em geral. A reproduo deste modelo
clnico tradicional em muitos casos, pode se transformar em uma
prtica normativa e reguladora de comportamentos sociais.
Nesses 50 anos da profsso no Brasil, muitas mudanas e
transformaes aconteceram na insero das(os) psiclogas(os)
na direo de uma atuao comprometida e contextualizada
com a realidade social. No fnal da dcada de 80, comearam
novos movimentos de mudana na atuao profssional e adotou-
se o lema do compromisso social como norteador da atuao
psicolgica (CFESS/CPF, 2007, p. 20). Em consonncia com
esta viso, a interveno do Profssional da Psicologia apontou
para prticas voltadas para a promoo dos sujeitos, a partir de
sua prpria participao e envolvimento nas aes realizadas,
de acordo com o seu contexto, histria e vivncias, buscando
alternativas para sua insero social na direo da garantia de
direitos. Segundo Vasconcelos (2011, p.4), as(os) psiclogas(os)
se permitiram a ousadia de experimentar novas prticas que
julgavam mais adequadas ao novo contexto, e foram fexibilizando
a identidade profssional aprendida no passado .
Vasconcelos (2011) analisou as tendncias detectadas na
prtica profssional da(o) Psicloga(o) e as caracterizou como
prticas convencionais ou prticas emergentes, considerando
as primeiras como aquelas que historicamente a psicologia
50
desenvolveu na sua viso clnica tradicional e as segundas
como aquelas que possibilitam uma atuao em consonncia
com os propsitos das polticas pblicas. Assim, classifca a
prtica convencional como centrada no plano individual, onde o
individuo visto como a-histrico, isolado de seu contexto social.
A perspectiva terica que embasa sua prtica unidisciplinar e
a natureza da interveno : intra-psi, com carter curativo,
remediativo, sendo que as abordagens tericas e metodolgicas
so originrias basicamente no mbito da prpria psicologia. Em
contraponto, a perspectiva emergente, prioriza prticas centradas
em contextos e grupos, com aes de carter mais preventivo,
onde encontra-se uma pluralidade de abordagens, oriundas
tambm de reas afns com a psicologia.
Complementarmente ainda, considera-se que a psicologia
deve atuar a partir da viso interdisciplinar, tendo em vista que
uma profsso complementa a outra ou constituem novos saberes
conjuntos. A atuao no deve ter como foco o atendimento
psicoterpico, e sim psicossocial. A demanda de tratamentos
psicoterpicos, como j citada, identifcada pelo profssional de
psicologia na Assistncia Social, em casos que necessitem de
atendimento, ser encaminhada para outros equipamentos da
rede local ou regional, vinculados poltica pblica de sade,
como recomendado pelo CFP (2007).
Tambm tarefa da(o) psicloga(o) aprender a reconhecer o
sofrimento psquico no somente como demanda de psicoterapia,
mas o exerccio e o desafo que se coloca para a psicologia na
Assistncia Social justamente o de construir outras respostas
que considerem as caractersticas do territrio de origem do
usurio e que possam incidir na melhoria das condies de vida
desse sujeito.
De acordo com os apontamentos acima, alguns autores tem se
debruado em pensar as contribuies da psicologia no SUAS em
uma perspectiva no tradicional. Senra e Guzzo (2012) discutem
a atuao das/os psiclogas(os) e apontam refexes sobre o
compromisso social da profsso, propondo um posicionamento
crtico dos profssionais diante das contradies existentes
na sociedade e na profsso. Para aprofundar a formao
51
profssional da Psicologia e a implantao do SUAS, Romagnoli
(2012) apresenta a insero micropoltica da(o) psicloga(o) e a
importncia de trabalhos transdisciplinares, como um elemento
importante no SUAS. As polticas sociais e a Psicologia so
discutidas por Yamamoto e Oliveira (2010) no Brasil ps-1985
com a insero da(o) psicloga(o) no campo do bem-estar
social. Os autores apresentam um histrico dessa relao e
problematizam a formao profssional que no est preparada
para trabalhar com pessoas em situao de pobreza, o que exige
novos conhecimentos e mudanas de postura profssional. As
discusses de Ximenes, Paula e Barros (2009) direcionam-se
para as contribuies e tenses entre a Psicologia Comunitria e
Assistncia Social, apontando para eixos norteadores da prtica
profssional a partir de metodologias participativas.
Essas temticas pontuam questes desafadoras para
a Psicologia e precisam estar presentes no dia-a-dia como
impulsionadoras de uma prtica profssional comprometida
tica e politicamente com a transformao social. Conceitos
como vulnerabilidade social, desigualdade social, pobreza,
violao de direitos precisam ser trabalhados a fm de que
possamos compreender como as pessoas que se encontram
nessas situaes fortalecem suas potencialidades para o
enfrentamento desses problemas. Os desafos de enfrentar os
processos de fortalecimento, de participao, de emancipao,
de autonomia e de libertao contribuem para a construo de
prticas e saberes psicolgicos que visem garantia dos direitos
e ao desenvolvimento humano dos indivduos e das famlias que
procuram o CREAS.
Para compreender esse sujeito que chega ao CREAS,
a(o) profssional de Psicologia precisa ter elementos para
apreender tanto as relaes complexas presentes no contexto
de vulnerabilidade social associado a violao de direitos, quanto
a maneira como esse sujeito percebe e vivencia esse contexto.
Para Sawaia (2002), o sofrimento humano tico e poltico e no
tem origem somente no indivduo, mas tambm nas relaes
construdas socialmente. Est relacionado com aspectos histrico,
poltico, social e econmico de excluso social presente no Brasil.
52
Segundo a PNAS :
[...] a vulnerabilidade social materializa-se nas situaes
que desencadeiam ou podem desencadear processos de
excluso social de famlias e indivduos que vivenciem
contexto de pobreza, privao (ausncia de renda, precrio
ou nulo acesso a servios pblicos) e/ou fragilizao
de vnculos afetivos, relacionais e de pertencimento
social, discriminaes etrias, tnicas, de gnero ou por
defcincia, dentre outras.(BRASIL, PNAS, 2004)
Na prtica, as (os) psiclogas (os) tm lanado mo de vrias
teorias produzidas no campo da psicologia. Os participantes
dos Grupos de Psiclogos da pesquisa (CFP/CREPOP/2009)
relataram a diversidade terica e metodolgica que utilizam
para a sua prtica profssional. Dentre as mais utilizadas esto:
Psicologia Social, Psicanlise, Psicoterapia Breve, Teoria
Sistmica, Psicologia Social Comunitria, Psicodrama, Gestalt,
Psicologia Humanista, Teoria Cognitivo-Comportamental e
Psicologia Analtica, dentre outras. O que se pretende no
defnir uma nica teoria para a atuao profssional, mas sim,
apontar para princpios que devem nortear a sua prtica, tais
como: respeito aos direitos humanos, democracia, emancipao
e autonomia dos sujeitos. Pensamos que estes princpios esto
em consonncia com as tendncias no convencionais da prtica
da psicologia discutidas acima, buscando a contextualizao
das teorias e metodologias realidade prpria na qual so
desenvolvidas as polticas pblicas. Segundo Barros (2007), a
atuao do profssional de Psicologia deve levar em conta trs
dimenses: Terica em que deve utilizar conceitos e categorias
da teoria que funcionem como uma lente para poder aprofundar o
conhecimento da realidade; tico-poltica que considera aspectos
ticos, princpios, viso de homem e de mundo que ajudam o
profssional a determinar sua forma de atuao; e Metodolgica
- que possui um conjunto de tcnicas, de instrumentos, de
estratgias que favoreceram questes tais como:
53
[...] insero no modo de vida comunitrio, acesso,
sensibilizao e mobilizao das pessoas e dos grupos
ali existentes, formas de abordar determinados temas,
disponibilidade de recursos materiais e organizao das
pessoas para realizar determinada ao (BARROS, 2007,
p. 22).
A partir dessas dimenses proposta por Barros (2007),
possvel contextualizar a atuao dos profssionais do CREAS a
fm de que possam desempenhar suas funes tendo como foco
os objetivos preconizados no Guia de Orientaes Tcnicas do
CREAS :
O fortalecimento da funo protetiva da famlia;
A construo de possibilidades de mudana e
transformao em padres de relacionamento
familiares e comunitrios com violao de direitos;
A potencializao dos recursos para a superao
da situao vivenciada e a reconstruo de
relacionamentos familiares, comunitrios e com o
contexto social, ou construo de novas referncias,
quando for o caso;
O empoderamento e a autonomia;
O exerccio do protagonismo e da participao social;
O acesso das famlias e indivduos a direitos
socioassistenciais e rede de proteo social; e
A preveno de agravamentos e da institucionalizao.
(BRASIL, 2011, p. 51)
Os dilogos entre a Psicologia e o SUAS so importantes
no desenvolvimento de marcos terico-metodolgicos
contextualizados na realidade social de excluso, vulnerabilidade
e violao de direitos.
O novo cenrio da formao em Psicologia com a aprovao
das Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduao em
Psicologia (CNE/CES 62/2004), amplia o olhar para essa nova
forma de atuao, exigida nesse contexto social. As Diretrizes
afrmam que a Formao em Psicologia dever ser composta por
um ncleo comum que estabelece uma base homognea para
54
a formao no pas e uma capacitao bsica para lidar com os
contedos da Psicologia, no sentido de campo de conhecimento
e de atuao (Art. 7) e por nfases curriculares, entendidas
como um conjunto delimitado e articulado de competncias e
habilidades que confguram oportunidades de concentrao de
estudos e estgios em algum domnio da Psicologia (Art. 10)
Essas mudanas na formao da psicologia incorporaram a
viso generalista da/o psicloga/o e redefniram que as reas
da Psicologia presentes nos cursos de graduao passam pelas
nfases curriculares, que agregam vrias reas. Tem como
princpios e compromissos indicados no Art. 3 das Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduao em
Psicologia, dotando o profssional dos conhecimentos requeridos
para o exerccio das competncias e habilidades gerais que esto
especifcadas abaixo:
I. Construo e desenvolvimento do conhecimento
cientfco em psicologia;
II. Compreenso dos mltiplos referenciais que buscam
apreender a amplitude do fenmeno psicolgico
em suas interfaces com os fenmenos biolgicos e
sociais;
III. Reconhecimento da diversidade de perspectivas
necessrias para a compreenso do ser humano e
incentivo interlocuo com campos do conhecimento
que permitam a apreenso da complexidade e
multideterminao do fenmeno psicolgico;
IV. Compreenso crtica dos fenmenos sociais,
econmicos, culturais e polticos do pas, fundamentais
ao exerccio da cidadania e da profsso;
V. Atuao em diferentes contextos considerando as
necessidades sociais, os direitos humanos, tendo em
vista a promoo da qualidade de vida dos indivduos,
grupos, organizaes e comunidades;
VI. Respeito tica nas relaes com clientes e usurios,
com colegas, com o pblico e na produo e
divulgao de pesquisas, trabalhos e informaes da
rea da Psicologia;
VII. Aprimoramento e capacitao contnuos. (CNE/CES
5/2011).
55
Como vimos, a psicologia tem muito a contribuir como
profsso, que juntamente com outras, desenvolve prticas que
potencializem a mudana social preconizada pelo SUAS. Os
desafos de construir uma atuao profssional da psicologia
alicerada na teoria, prtica e no compromisso social, impulsionam
a busca incessante por novos caminhos que auxiliem no exerccio
da cidadania na Poltica Nacional de Assistncia Social.
56
57
EIXO 3: Atuao da (o)
Psicloga (o) no CREAS
58
59
EIXO 3: Atuao da (o) Psicloga (o) no CREAS
Pretende-se neste eixo trazer refexo a atuao de psiclogas
(os) nos Centros de Referncia Especializado de Assistncia
Social CREAS, abordando os desafos a serem enfrentados
pelos profssionais de psicologia no campo em questo, a fm de
apontar diretrizes para a atuao das(os) psiclogas(os) neste
servio.
Produzir referncias implica em deparar-se com os desafos
apontados para a psicologia na atualidade. Estes desafos no
tm sido poucos, afnal falamos de uma prtica que vem sendo
construda no fazer, e muito tem sido exigido dos profssionais.
Portanto, a base dessa construo deve ser a anlise e o dilogo
constantes. A refexo do fazer traz para os profssionais da
psicologia inmeras indagaes, mas tambm aponta para
prticas que se diferenciam no sentido de romper processos de
fragilizao instalados na sociedade nas mais diferentes formas
de relaes.
Para discutir a atuao de psiclogas (os) junto ao CREAS,
faz-se necessrio retomar, ainda que sucintamente, algumas
bases conceituais importantes da Poltica de Assistncia Social: a
centralidade na famlia enquanto espao privilegiado de proteo
e cuidado, e os territrios, como base de organizao dos servios,
com suas especifcidades, particularidades, singularidades,
complexidades e dinmicas. A perspectiva territorial vem
reconhecer que nestes espaos se originam tenses, mas
tambm as possibilidades de superao. Essa dimenso deve
trazer a compreenso do territrio enquanto espao de interao,
mas exige cuidado para no criar estigmas para a populao,
produzindo segregao. O territrio deve ser incorporado
enquanto espao de articulao, considerando seu potencial para
alternativas de enfrentamento das situaes de violao e melhor
compreenso do publico atendido, na perspectiva de aproximar
os servios da populao. J o reconhecimento da importncia
da famlia na construo das polticas pblicas se apresenta
como central nas discusses. A matricialidade sociofamiliar
aponta para a famlia enquanto espao de proteo e eixo central
60
das intervenes pblicas. O conceito de famlia incorporou as
transformaes que ocorreram e esto ocorrendo em seu interior
ao longo do tempo. Essa famlia precisa ser compreendida
em suas singularidades e potencialidades, demandando dos
profssionais uma reviso do seu trabalho e construo de formas
de abordar e compreender esse espao de relaes.
Deter-se nestes aspectos amplia para o profssional de
Psicologia as possibilidades de identifcao e trabalho com as
potencialidades individuais, familiares e comunitrias das/os
destinatrias/s da ao. importante que a(o) psicloga(o) saia
do lugar de identifcao de problemas, de culpabilizao ou
busca de responsveis, para o lugar de viabilizadores de espaos
criativos e geradores de alternativas individuais e coletivas na
perspectiva da superao das situaes de violao.
Dessa forma, a Poltica de Assistncia Social neste momento
de consolidao e implementao traz o desafo da mudana de
paradigma na constituio do fazer. Agrega ao desenvolvimento
das metodologias de trabalho, a necessidade da construo
participativa, trazendo aqueles que eram objeto da ao do
outro, para o lugar de sujeitos. Neste sentido, exige anlises
mais aprofundadas dos contextos singulares das famlias e dos
coletivos em que esto inseridos. A interveno da psicologia
deve contribuir para a ressignifcao, pelos sujeitos, de suas
histrias, ampliando sua compreenso de mundo, de sociedade
e de suas relaes, possibilitando o enfrentamento de situaes
cotidianas.
Na lida cotidiana compreende-se que as situaes com as quais
nos deparamos podem ser decorrentes de condies e estruturas
sociais violadoras de direitos. Essa compreenso faz com que
os profssionais envolvidos lancem mo de novas estratgias
de interveno, sem perder suas referncias tcnico-cientifcas,
assim como a especifcidade de cada rea de formao. Como
j discutido no Eixo anterior, o cenrio requer dos profssionais
da Psicologia a necessidade de considerar os processos de
sofrimento instalados nas comunidades e territrios, lugar onde as
famlias estabelecem seus laos mais signifcativos (CFESS/CFP,
2007). Desse modo, a Psicologia comprometida com a promoo
61
de direitos sociais deve romper com prticas culpabilizadoras,
considerando a experincia de sujeitos, enquanto seres capazes
de implicar-se e contribuir para respostas s situaes de violaes
de direitos que vivenciam, construindo novos signifcados para
sua vida, da famlia e da comunidade.
Assim, ao defnir a interveno a ser adotada na poltica,
preciso considerar tanto a dimenso subjetiva como a objetiva
dos fenmenos sociais. Sawaia (2001) apresenta a subjetividade
enquanto questo poltica, processo de converso do social e
poltico ao psicolgico e vice versa, tendo como eixo a humanidade
na sua historicidade. preciso considerar o sujeito em sua relao
com a sociedade e pensar sobre as infuncias que esta tem em
cada individuo e/ou grupos, considerando assim sua constituio
histrica. fundamental construir uma prtica que venha romper
com diagnsticos onde se pretende identifcar o funcionamento
psquico, sem compreend-lo enquanto parte de um sujeito que
interfere e vivencia interferncias do contexto social, sujeitos
de capacidades e fragilidades, que so construdas a partir das
relaes, das condies e valores sociais.
[...]falar do fenmeno psicolgico obrigatoriamente falar
da sociedade. Falar da subjetividade humana falar da
objetividade em que vivem os homens. A compreenso do
mundo interno exige a compreenso de mundo externo,
pois so dois aspectos de um mesmo movimento, de um
processo no qual o homem atua e constri/modifca o
mundo e este, por sua vez, propicia os elementos para a
constituio psicolgica do homem (BOCK, 2007, p.22).
A psicologia, ao compor as equipes de referencia dos CREAS,
contribui para um olhar na perspectiva do sujeito em sua relao
na famlia e na sociedade. Ao refetir sobre a dimenso subjetiva
dos fenmenos sociais tenta superar a dicotomia existente
em que historicamente apenas aspectos individuais eram
considerados. Mudanas na qualidade de vida, superao de
fragilidades e situaes de violncia e outras violaes de direitos
e so possveis ao se considerar o enfrentamento cotidiano da
realidade vivida, construindo solues que podem ser individuais
62
e/ou coletivas.
Ao profssional de psicologia cabe revisitar seu fazer, traduzir
e transmitir seu compromisso, apontar para um posicionamento
tico-politico. Cabe ainda romper com pressupostos tericos
que servem manuteno da desigualdade posta, partindo
para novas concepes no campo dos conceitos, metodologias
e intervenes, abrindo espao para ao contextualizada
na vivncia de pessoas e grupos. Faz-se importante tambm
agregar um olhar crtico e de posicionamento frente realidade
social. Isso implica em romper com intervenes superfciais e
fragmentadas, que sem aprofundar nos contextos em que se
aplicam atribuem aos sujeitos a responsabilidade pelo que lhe
ocorre e pela soluo dos problemas. Algumas prticas, que por
vezes so apresentadas como inovadoras, podem ser na verdade
perpetuadoras de uma realidade social de segregao e violao
de direitos, e nada contriburem para transformao social e
insero dos sujeitos.
Construindo Prticas
A interveno da psicologia no campo social requer a
construo de estratgias que exige da (o) psicloga (o) ir alm
dos modelos tericos, assumindo a funo poltica e social da
ao, ou seja, perceber-se enquanto sujeito desta prtica.
Ao considerar a prtica das (os) psiclogas (os) no CREAS e as
contribuies da Psicologia nesse espao importante observar
alguns dados trazidos pelo Relatrio Descritivo da Pesquisa Crepop
(CFP/CREPOP/2009). Inicialmente, as(os) participantes so em sua
maioria mulheres (88,1%), sendo a maior concentrao na faixa
etria de 24 a 31 anos (54,9%), ou seja, trata-se de profssionais
jovens. Com relao ao tempo e atuao como psicloga(o) 28,3%
possuem entre 5 a 10 anos de experincia, seguido de 24,2% com
2 a 4 anos de experincia. Podemos ento considerar que h um
numero expressivo de psiclogas(os) com insero recente na
prtica, construindo fazeres numa poltica que tambm recente e
vem sendo constituda. Com relao formao temos um grande
nmero de profssionais com especializao (86,5%), podendo ser
63
um aspecto importante para a construo de prticas diferenciadas.
Outro dado relevante apontado em diversos relatos foi a ausncia de
defnio do papel das(os) psiclogas(os), sendo este identifcado
como um importante desafo do trabalho no CREAS. Os dados
nos mostraram ainda uma poltica que vem se constituindo nos
municpios nas mais diferentes condies e com profssionais que
por sua vez tem buscado contribuir com seu fazer e formao.
Outro dado importante identifcado foi sobre a refexo do trabalho:
74,3% dos entrevistados apontam no trabalhar com indicadores de
acompanhamento/avaliao de sua interveno. preciso refetir
sobre esse dado, uma vez que os resultados das intervenes
constitudas contribuem para a construo da Vigilncia Social
9
,
funo fundamental para subsidiar a defnio da poltica de ateno
para a Proteo Social Bsica e Especial a ser desenvolvida,
respectivamente nos CRAS e CREAS nos municpios.
A compreenso de que a ao dos profssionais envolvidos
na Poltica de Assistncia Social passa por um processo
de transformao, onde a ao tcnica deve romper com o
assistencialismo e a benemerncia, sair da escuta apenas do
explcito, da demanda manifesta. Signifca ir para alm, buscar a
escuta comprometida com uma refexo provocativa, revelando
contextos e suas tenses. Neste sentido, imprescindvel rever
a prtica, criando novos arranjos e avaliando com o que de fato
estamos comprometidos.
Lembramos novamente que a Psicologia pode contribuir de
maneira diferenciada em sua interveno, trazendo para anlise
9. Vigilncia Social: refere-se produo, sistematizao de informaes,
indicadores e ndices territorializados das situaes de vulnerabilidade e risco
pessoal e social que incidem sobre famlias/pessoas nos diferentes ciclos da
vida (crianas, adolescentes, jovens, adultos e idosos); pessoas com reduo de
capacidade pessoal, defcincia ou abandono; crianas e adultos vitimas de formas
de explorao, de violncia e de ameaas; vitimas de preconceito por etnia, gnero
e opo pessoal; vitimas de apartao social que lhes impossibilite sua autonomia e
integridade, fragilizando sua existncia; vigilncia sobre os padres de servios de
assistncia social em especial aqueles que operam na forma de albergues, abrigos,
residncias, semi-residncias, moradias provisrias para os diversos segmentos
etrios. Os indicadores a serem construdos devem mensurar no territrio as
situaes de riscos sociais e violao de direitos. (PNAS, 2004, p.39).
64
a subjetividade presente nos fenmenos sociais, incluindo os
refexos de contedos sociais, culturais e histricos na constituio
desse sujeito e de suas relaes. preciso aprofundar o
conhecimento e compreenso de pessoas, famlias e/ou grupos
inserindo os diferentes aspectos de constituio individual e grupal
e seus refexos na sociedade. Esta contribuio da Psicologia
coaduna com os objetivos da ateno ofertada no CREAS, que
deve orientar-se pela garantia das seguranas socioassistenciais,
viabilizando intervenes especializadas no mbito do SUAS,
na busca de romper com situaes de violao e promover o
fortalecimento da funo protetiva da famlia, a partir das aes
desenvolvidas no seu acompanhamento.
Metodologias de trabalho e a prtica da psicologia no CREAS
Na busca de metodologias e estratgias, a atuao dos
profssionais deve respeitar as singularidades de cada caso,
priorizando a deciso conjunta com famlias e indivduos. Os
resultados da pesquisa do Crepop (CFP/CREPOP/2009), no que
diz respeito atuao profssional de psiclogas (os) no CREAS,
permitiram identifcar aes que se diferem muito entre si, sendo
que o pblico atendido com maior frequncia composto por
crianas, adolescentes, mulheres e idosos que tiveram os direitos
violados.
Cabe apontar que a Tipifcao Nacional de Servios
Socioassistenciais descreve os servios a serem ofertados
nos CREAS, a saber: Servio de Proteo e Atendimento
Especializado a Famlias e Indivduos (PAEFI), Servio
Especializado de Abordagem Social assegurado tambm em
unidade referenciada da rede socioassistencial, Servio de
Proteo Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestao de
Servios a Comunidade (PSC) e Servio de Proteo Social
Especial para Pessoas com Defcincia, Idosas e suas Famlias
que pode ser ofertado no Domicilio do Usurio do servio, em
Centro-Dia, no CREAS ou Unidade Referenciada. (BRASIL, 2011,
p.19 a 26(b))
65
As principais aes descritas para o trabalho social essencial a
ser desenvolvido junto aos Servios de Proteo Social Especial
Mdia Complexidade so: acolhida; escuta; estudo social,
diagnostico socioeconmico, monitoramento e avaliao do
servio; orientao e encaminhamentos para a rede de servios
locais; construo do plano individual e/ou familiar de atendimento;
orientao scio-familiar; atendimento psicossocial; orientao
jurdico-social; referncia e contra-referncia; informao,
comunicao e defesa de direitos; apoio famlia na sua
funo protetiva; acesso a documentao pessoal; mobilizao,
identifcao da a famlia extensa ou ampliada; articulao da
rede de servios socioassistenciais; articulao com servios
de outras polticas setoriais; articulao interinstitucional com
demais rgos do Sistema de Garantia de Direitos; elaborao de
relatrios e/ou pronturios; estimulo ao convvio familiar, grupal e
social; mobilizao e fortalecimento do convvio e de redes sociais
de apoio (BRASIL, 2009, p. 20).
Nos dados da pesquisa do Crepop (CFP/CREPOP/2009)
as aes realizadas por psiclogas(os) com maior frequncia
foram: Acolhimento, Entrevista Inicial e Triagem; Atendimentos
Individuais, Plantes; Grupos; Elaborao de Plano de
Acompanhamento Individual e/ou Familiar; Visitas Domiciliares,
Acompanhamento dos usurios nos diversos servios do sistema
judicirio; Relatrios Tcnicos, Laudos e Avaliaes; Aes
integradas com a rede; Atuao em equipes multidisciplinares;
Atividades educativas e de esclarecimentos para a populao em
geral e Coordenao dos servios.
Cabe ento uma refexo acerca dos apontamentos
levantados na pesquisa. Observamos que no s h diversidade
nos fazeres, mas tambm a realizao de atividades que no
se encontram descritas nos documentos de referncia, tais
como: planto; triagem; laudos; atendimento s demandas
do sistema judicirio, dentre outras. Acreditamos que esta
questo precisa ser problematizada e discutida internamente
pela equipe tcnica e tambm com o rgo gestor e outras
instncias polticas. Discutir os processos de trabalho
fundamental para a defnio de aes alinhadas s normativas
66
e objetivos do SUAS, especialmente do CREAS.
Conforme j descrito anteriormente a ateno ofertada
pelos servios do CREAS tem como objetivos propiciar:
acolhida e escuta qualifcada visando o fortalecimento da
funo protetiva da famlia; a interrupo de padres de
relacionamento familiares e comunitrios com violao de
direitos; a potencializao dos recursos para superao
da situao vivenciada e reconstruo de relacionamentos
familiares, comunitrios e com o contexto social ou construo
de novas referncias; o acesso aos direitos socioassistenciais
e rede de proteo; o protagonismo e participao social; a
preveno do agravamento da violao e da institucionalizao
(BRASIL, 2011, p. 51(b)).
Ainda com relao atuao profssional, o relatrio
descritivo da pesquisa(CFP/CREPOP/2009) nos apresenta
dados referentes ao conhecimento dos marcos tericos e
legais da Poltica de Assistncia Social. Estes devem ser
referncia para a estruturao do trabalho tcnico no CREAS,
trazendo subsdios para o processo de discusso e defnio
das aes tcnicas a serem incorporadas, de maneira a
atender os objetivos do servio e as demandas de indivduos
e famlias. Os cinco principais documentos consultados pelas/
os psiclogas/os foram: Estatuto da Criana e do Adolescente
(50,8%), Lei Orgnica da Assistncia Social (38,2%), CREAS-
Guia de Orientao n. 1 (38%), Poltica Nacional de Assistncia
Social (37,3%), Declarao Universal dos Direitos Humanos
(28,9%) e Constituio Federal do Brasil (28,7%). Alm disso,
50% afrmam conhecer parcialmente o Guia de Orientaes do
CREAS/MDS 1 verso (BRASIL, 2005). Ao considerarmos o
perodo em que se deu a pesquisa do CREPOP e a publicao
das normativas pelo MDS, isso pode apontar para profssionais
que vem buscando apropriar-se do conhecimento sobre os
processos de trabalho. Entretanto, ainda h o que se avanar
no que tange capacitao e apropriao de conhecimento
com relao rea de atuao. Tem-se aqui uma tarefa
que no cabe apenas aos profssionais, mas tambm aos
gestores, que devem investir na capacitao de suas equipes
67
e na viabilizao de espaos de debate e refexo sobre a
Poltica de Assistncia Socia. Os desafos postos pratica dos
profssionais envolvidos devem ser partilhados e trabalhados
coletivamente, assim como a refexo sobre a contribuio que
diferentes reas podem trazer para a constituio do trabalho
em equipe. de fundamental importncia que os documentos
sejam discutidos tanto nos servios e nos espaos diretos de
formao e estudo dos profssionais no campo, como tambm
pelos cursos de graduao preparando o profssional em
formao para sua pratica futura.
Apresentamos a seguir algumas atividades que so
fundamentais para o desenvolvimento do trabalho tcnico.
Pretende-se apresentar alguns aspectos da prtica, tentando
apontar as atividades fns, ou seja, aquelas voltadas diretamente
para o atendimento populao, e tambm as atividades
meio, que fazem parte do processo de trabalho, mas no esto
relacionadas ao atendimento direto.
Destaca-se ainda, que a Tipifcao Nacional de Servios
Socioassistenciais (BRASIL, 2009) e o documento de
Orientaes Tcnicas: Centro de Referncia Especializado
de Assistncia Social (BRASIL, 2011) apontam atribuies
para o trabalho dos tcnicos de nvel superior nos servios
a serem ofertados pelo CREAS sem fazer distino por
reas de formao. Entretanto possvel identifcar algumas
contribuies e especifcidades que o olhar da psicologia pode
trazer a estas atividades
As principais atividades relacionadas ao atendimento direto,
atividades fns, da populao no CREAS so:
Acolhida - o contato inicial com a pessoa e/ou famlia que
ser atendida e inserida no acompanhamento. Momento de
estabelecimento de vnculos, exige do profssional escuta sensvel
das demandas. o momento tambm de apresentar o servio
e fornecer informaes sobre o que ofertado, esclarecendo
possveis dvidas. Deve possibilitar a aproximao do usurio
com o servio.
fundamental a postura acolhedora dos profssionais, livre
68
de preconceitos e concluses prvias, tornando o ambiente
receptivo. Afnal trata-se de famlias e/ou indivduos que trazem
complexidades decorrentes de situaes de violncia e/ou violao
de direitos que podem ter sido ocasionadas por fatos isolados
ou se vir manifestando ao longo de anos. Neste momento de
acolhida fundamental o olhar atento para as especifcidades de
cada caso, reconhecendo a dimenso subjetiva presente, criando
condies para o vnculo.
A escuta sensvel aponta para a atuao profssional livre
de preconceitos ou concluses no decorrer do atendimento/
acompanhamento. Esta acolhida demanda ao profssional
disponibilidade para de fato entrar em contato com realidades
complexas e diferenciadas, tentando compreender as diferentes
maneiras que cada famlia tem de lidar com as situaes
vivenciadas importante entender que a privao em suas
diversas formas impe diferentes reaes e limites aos indivduos
e grupos na interao com a realidade.
Acompanhamento Psicossocial Diz respeito atuao
conjunta de profssionais cujo objetivo direcionar a ao de
maneira mais abrangente com conhecimentos e habilidades
especifcas de diferentes reas, sem que com isso acontea uma
justaposio das prticas profssionais e com isso possa existir
a construo de alternativas junto com a famlia (Simionato et
al. 2002). Exige frequncia e sistematizao dos atendimentos,
utilizando-se de diferentes metodologias e instrumentais.
Nessa interveno o foco est em conhecer o individuo e/ou
famlia identifcando demandas explicitas e implcitas, levando
em conta seu contexto social, cultural, a rede que acessa e/ou
conta, as difculdades vivenciadas, expectativas dentre outros
aspectos. tambm o espao onde ser possvel estabelecer
vinculo favorecendo uma relao de discusso e refexo
sobre as difculdades encontradas no cotidiano, promovendo o
fortalecimento de potenciais e autonomia, mantendo um olhar
para os aspectos que constituem fenmenos sociais e interferem
na vida de indivduos, famlias e grupos.
No decorrer do acompanhamento se dar a elaborao do
69
Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar
10
, com a
defnio das estratgias de interveno a serem utilizadas,
propiciando, a partir das aes, as seguranas de acolhida,
de convvio ou vivncia familiar, comunitria e social, de
desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. Essa
construo deve ser feita em conjunto com indivduos e/ou
famlias, de forma democrtica e participativa, e a rede envolvida
no acompanhamento, contemplando refexes e avaliaes
peridicas de forma a permitir redefnies quando necessrio.
Cabe apontar que no atual contexto se impe uma nova
prtica, em que a interveno se prope em novas dimenses
do conhecimento, ainda no defnitivamente construdo, mas que
vem se constituindo num processo contnuo. A palavra e a escuta
se constituem em ferramentas fundamentais que permitem um
aprofundamento no conhecimento da famlia e no estabelecimento
de vnculos entre o profssional, a famlia e seus membros.
preciso superar a abordagem tecnicista nas quais diferentes reas
tm aes especfcas de maneira independente, e desenvolver
percepes que se integram e se complementam, potencializando
a ao. O objetivo , a partir de um processo objetivo, trazer a
compreenso de indivduos e grupos atravs de seus processos
subjetivos, num contexto que se constitui histrica e socialmente,
em que a luta de foras antagnicas est presente. da troca
cotidiana que surge a ao psicossocial, com o compromisso
de levantar competncias e estabelecer responsabilidades, num
processo de compartilhamento, viabilizando a soma de saberes
e o estabelecimento de estratgias de interveno, sem perder
as especifcidades das formaes, mas criando competncias
10. Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar Conforme documento de
Orientaes Tcnicas: Centro de Referncia Especializado de Assistncia Social
CREAS (BRASIL, 2011), compreende o atendimento ofertado de forma continuada
atendendo as demandas apresentadas, que envolve atendimentos individuais,
familiares e em grupo; orientao jurdico-social; visitas domiciliares dentre outras
estratgias de interveno. Deve ser construdo em conjunto com cada famlia/
indivduo, apontando as estratgias a serem adotadas; encaminhamento e
periodicidade dos atendimentos, proporcionando escuta qualifcada e refexo e
construo de novas possibilidades de interao a familiares e com contexto social
e o enfrentamento das situaes de violao.
70
profssionais no campo social.
As estratgias aplicadas para o acompanhamento psicossocial
podem ser diversas, partindo do atendimento individual, para a
utilizao de tcnicas grupais, visitas domiciliares, dentre outras,
constituindo espaos coletivos de socializao, trocas, informao
e fortalecimento de indivduos, famlias e comunidades. No
trabalho psicossocial a interveno profssional aponta para a
construo de um novo fazer, bem como pressupe a constituio
de um campo do conhecimento que, a partir do saber especfco
de cada formao, deve permitir uma leitura ampliada do contexto
a que se aplica e das relaes sociais ali estabelecidas. Neste
sentido, a psicologia agrega aspectos do campo subjetivo, ou
seja, as relaes que se estabelecem entre pessoas e espaos e
a repercusso na famlia e sociedade, considerando a interveno
em realidades dinmicas que se alteram a partir destas relaes,
gerando transformao.
Entrevista Procedimento de coleta de dados e orientao,
mas tambm de continuidade da acolhida para aquele que
chega e busca insero no servio. Este procedimento integra
o acompanhamento psicossocial. Este um momento de
estabelecer um contato individualizado e atento s demandas
e potencialidades da famlia e seus membros, priorizando o
registro das informaes coletadas, assegurando a privacidade
e a apropriao das singularidades da famlia e seus membros,
assim como da dinmica das relaes em seu interior. Tambm
o momento de levantar informaes para construo do pronturio
no servio e/ou registro do cadastro informatizado. A entrevista
contribui tambm para o aprofundamento de aspectos relevantes
na compreenso de indivduos e famlias, dinmicas de relaes
estabelecidas, percepo de mundo, motivaes para a busca
do servio ou nos casos de encaminhamento e tambm sobre o
motivo gerador do referenciamento ao CREAS.
A entrevista no se esgota num nico momento, sendo
tambm uma oportunidade de interao com o servio e suas
aes/atividades, bem como de estabelecer vnculos favorecendo
confana e segurana. Visa ampliar conhecimento sobre o sujeito
71
e/ou sua famlia, trazendo a luz sua historia e relaes sociais,
rede informal com que conta e demandas apresentadas.
Visita Domiciliar A visita domiciliar se constitui em uma das
estratgias de aprofundamento do acompanhamento psicossocial.
uma forma de ateno com o objetivo de favorecer maior
compreenso a respeito da famlia, de sua dinmica, valores,
potencialidades e demandas, orientaes, encaminhamentos,
assim como de estabelecimento de vnculos fortalecedores do
processo de acompanhamento.
Este um momento mais concreto que pode estimular a famlia
para a busca e construo conjunta de meios para romper com
o quadro de violao. Deve pautar-se no respeito privacidade
da famlia, tendo seu foco previamente defnido, sendo utilizada
sempre que houver a compreenso de sua necessidade. Por
ser um momento de ateno individualizada, permite visualizar
a famlia e sua dinmica em seu espao de convivncia e
socializao, alm de aproximar-se de sua realidade.
Intervenes grupais - Dentro das estratgias de interveno
utilizadas, diferentes denominaes de grupos so descritas.
Segundo Pichon-Rivire, grupo se caracteriza como um conjunto
de pessoas movidas por necessidades semelhantes, que se
renem em torno de uma tarefa, um objetivo mtuo, onde cada
um exercita a fala, expressa opinies, preservando as diferenas.
Neste espao o indivduo constri sua identidade, na relao
com o outro (PICHON-RIVIRE, 1980). A partir do grupo novas
aquisies so possveis. atravs desse espao de expresso
que resignifcaes se do, a experincia de cada um pode ser
recriada, repensada, ou seja, as relaes que se estabelecem a
partir da troca e da comunicao podem trazer a superao de
situaes vivenciadas.
Tambm no grupo que se d a convivncia de indivduos
e/ou famlias, apoio e refexo, a aquisio de novos
conhecimentos, a comunicao, a troca, o desenvolvimento de
habilidades e potencialidades, fortalecendo e resignifcando
os vnculos familiares e comunitrios, a construo de projetos
72
individuais e para a famlia, a preveno de agravamento na
situao de violao, promovendo a transformao nos padres
de relacionamento familiares e comunitrios de violao de
direitos. Os grupos podem constituir-se em espao de vnculos e
identifcao de condies e situaes similares, estimulando um
conjunto de pessoas na busca de solues a partir de potenciais
individuais e coletivos.
Esta estratgia de interveno pode ser utilizada no processo de
acompanhamento de diferentes formas, considerando situaes
e demandas que se pretende focar: grupo composto por membros
de diferentes famlias, grupos de famlias, grupos intergeracionais,
grupos especfcos para adolescentes, mulheres, dentre outros.
Trabalhar a famlia como grupo ou trabalhar com grupos de famlias
signifca considerar as relaes, a convivncia entre pessoas que
trazem histrias e experincias diversas. O trabalho com grupos
propicia a construo e troca de conhecimento, oportunidade de
construir enfrentamento de situaes vivenciadas, fortalecimento
e identifcao de potencias, fortalecimento de autonomia e
vnculos. Podem ser de refexo, de convivncia, temticos, focais
e pontuais ou perodos prolongados, potencializando o direito
convivncia familiar e comunitria.
Articulao em Rede - Importante para a completude dos
objetivos estabelecidos no atendimento e no acompanhamento.
Viabiliza o acesso do destinatrio aos direitos e insero em
diferentes servios e programas, incluindo outras polticas,
no apenas os servios socioassistenciais. Favorece a viso
integrada, articulada, intersetorial e a construo de respostas
conjuntas no enfrentamento das situaes de violncia, assim
como viabiliza o acesso a direitos socioassistenciais, integrando
as polticas sociais, buscando romper com a fragmentao no
acompanhamento e ateno s famlias.
Cabe destacar a relevncia do estabelecimento e defnio
dos fuxos no processo de trabalho e atendimento do CREAS,
apontando a rede de servios e suas conexes. Assim que
se defne o processo de referncia e contra-referncia, evitando
aes de mero encaminhamento. preciso haver defnio das
73
responsabilidades no processo de interveno junto aos indivduos
e/ou famlias, garantindo a complementaridade e articulao,
permitindo a refexo conjunta e a co-responsabilizao dos
envolvidos. Na articulao da Rede destacam-se os rgos de
defesa de direitos: Conselho Tutelar, Poder Judicirio, Ministrio
Pblico, Defensoria Pblica, Delegacias Especializadas e
Organizaes da Sociedade Civil (Centros de Defesa, Fruns de
Defesa de Direitos), dentre outros.
Segundo Akerman (2012) o SUAS traz para o Sistema de
Garantia de Direitos muitos questionamentos sobre quais so
as atribuies e competncias de cada uma das instituies
que o compem. Os vrios rgos buscam trabalhar de forma
integrada, mas articular uma rede como essa, com caractersticas
to diversas, no tarefa simples e muitas vezes as aes so
fragmentadas, superpostas ou contraditrias. Dessa forma,
as famlias e pessoas atendidas convivem com vrios atores
sociais que muitas vezes expedem orientaes divergentes.
Como vimos, o pblico j chega ao CREAS com uma histria de
excluso social, e submet-los aos fuxos burocrticos da rede
representa uma dupla opresso. Praticar a articulao da rede
pressupe agendas em comum, para construo, de consensos,
sobre os desafos e as propostas de enfrentamento destes, tanto
no nvel da organizao, acompanhamento e avaliao de fuxos,
quanto no estudo de casos particulares. Esses encontros sero
frutferos se o clima for de compartilhamento de difculdades e
potencialidades de cada uma das instituies da rede, sem se
transformar em espaos de disputas de posies.
A articulao de rede tem como princpios a fexibilidade
e a horizontalidade e quanto mais dinmica for, mais atrai
novas conexes. Assim, os pactos e acordos, que devero
ser formalizados pelos gestores, j estaro costurados pelos
profssionais da rede e desta forma, tm mais chance de serem
compreendidos e institudos.
Novas temticas e demandas apontam para reorganizao
no processo de desenvolvimento das polticas publicas e sociais,
trazendo a compreenso de que nenhuma poltica se encerra
em si. As respostas s demandas sociais exigem a articulao
74
e complementariedade de diferentes polticas, a saber: sade,
educao, assistncia social, habitao, esporte, lazer e cultura.
Somente a partir dessa compreenso os resultados podem ser
alcanados.
Para a articulao de diferentes polticas a Assistncia Social
tem papel preponderante.
O rgo gestor de assistncia social tem papel preponderante
na interlocuo com outras polticas e rgos de defesa de
direitos e na institucionalizao da articulao do CREAS
com a rede, inclusive, por meio da construo e pactuao
de fuxos de articulao e protocolos intersetoriais de
atendimento. (BRASIL, 2011(b)).
Na Norma Operacional Bsica do SUAS (2005) est explicitado
como um dos princpios organizativos do SUAS, as aes de
gesto de interface que a Assistncia Social deve promover
para a garantia do cumprimento de seus preceitos. A noo de
articulao aparece detalhadamente descrita na referida Norma,
como uma importante estratgia para a efetivao do direito ao
acesso s outras polticas pblicas e sociais e a integrao com
rgos que compem o Sistema de Garantia dos Direitos:
Articulao interinstitucional entre competncias e
aes com os demais sistemas de defesa de direitos,
em especfco com aqueles de defesa de direitos
de crianas, adolescentes, idosos, pessoas com
defcincia, mulheres, negros e outras minorias; de
proteo s vtimas de explorao e violncia; e a de
adolescentes ameaados de morte; de promoo do
direito de convivncia familiar;
Articulao intersetorial de competncias e aes
entre o SUAS e o Sistema nico de Sade SUS por
intermdio da rede de servios complementares para
desenvolver aes de acolhida, cuidados e protees
como parte da poltica de proteo s vtimas de danos,
drogadio, violncia familiar e sexual, defcincia,
fragilidades pessoais e problemas de sade mental,
abandono em qualquer momento do ciclo de vida,
75
associados a vulnerabilidades pessoais, familiares e
por ausncia temporal ou permanente de autonomia
principalmente nas situaes de drogadio e, em
particular, os drogaditos nas ruas;
Articulao intersetorial de competncias e aes
entre o SUAS e o Sistema Nacional de Previdncia
Social gerando vnculos entre sistemas contributivos
e no-contributivos;
Articulao interinstitucional de competncias e
aes complementares com o Sistema Nacional e
Estadual de Justia para garantir proteo especial a
crianas e adolescentes nas ruas, em abandono ou
com defcincia; sob deciso judicial de abrigamento
pela necessidade de apartao provisria de pais e
parentes, por ausncia de condies familiares de
guarda; aplicao de medidas socioeducativas em
meio aberto para adolescentes;
Articulao intersetorial de competncias e aes
entre o SUAS e o Sistema Educacional por intermdio
de servios complementares e aes integradas para
o desenvolvimento da autonomia do sujeito, por meio
de garantia e ampliao de escolaridade e formao
para o trabalho. (BRASIL, MDS, 2005)
Portanto, no encontro, nas potencialidades de interfaces,
nas trocas de experincias, na consolidao dos entendimentos
acerca das competncias e atribuies de cada uma das
instituies que a identidade do CREAS e da equipe de referncia
vo sendo construdas.
Temos ainda dentre as atividades e responsabilidades
tcnicas aquelas voltadas para o trabalho interno decorrente da
interveno tcnica junto populao atendida no CREAS, ou
seja, atividades meio, mas que tambm so importantes para
efetivao do pretendido com a ao tcnica.
Registro de Informao - Procedimento presente em todo
processo de funcionamento do CREAS e do acompanhamento
s famlias e/ou indivduos, imprescindvel para a construo de
informaes e para subsidiar a defnio e construo das aes.
O registro das informaes refere-se especifcamente ao
76
acompanhamento da famlia e/ou indivduo no servio, onde
ser necessrio avaliar quais informaes so importantes
e pertinentes para compreenso do caso em tela, revelando
acompanhamento, resultados, intercorrncias e consideraes
tcnicas, alm contribuir para organizao e sistematizao do
trabalho. Para tanto, necessrio a defnio de instrumentais para
esse registro. Sero essas informaes que instrumentalizaro o
monitoramento, avaliao e a gesto para a individualizao do
acompanhamento s famlias e/ou indivduos. Destacamos dois
instrumentais de registro: os pronturios e os relatrios tcnicos.
1. Pronturios Nos pronturios estaro registradas as
informaes de cada indivduo/famlia contendo especifcidades
de cada caso. Devem ser registrados todos os procedimentos
adotados, estratgias e dados referentes a cada famlia/
indivduos. importante constar informaes referentes
evoluo e progressos do caso, bem como demandas e desafos
identifcados, discusses de caso e planejamentos. Tambm
dever conter o Plano de Acompanhamento Individual e/ou
Familiar. no pronturio que ser apontada a anlise de cada
caso, que considerar as especifcidades e singularidades de
cada indivduo e/ou famlia, apontando demandas, objetivos,
estratgias e evoluo. Deve considerar as intervenes e
metodologias adotadas, os resultados alcanados e a maneira de
lidar com as experincias de cada individuo e/ou famlia.
2. Relatrio Tcnico A elaborao de relatrios uma das
atividades desenvolvidas pelas/os psiclogas/os, apontadas na
pesquisa realizada pelo Crepop (CFP/CREPOP/2009). Estes
devem conter informaes sobre as aes desenvolvidas
no atendimento aos indivduos e/ou famlias acompanhadas
pela equipe no CREAS. Atravs do relatrio deve ser possvel
observar o processo do atendimento e acompanhamento da
famlia ao longo do tempo, trazendo informaes relevantes
para compreenso do caso em tela. No caso dos psiclogas(os)
preciso observar o disposto na Resoluo do CFP n 07 de
2003, que dispem sobre a produo de documentos. Segundo a
77
referida Resoluo, os relatrios devem conter uma redao bem
estruturada e apropriada ao que se destina. Nele as afrmaes
devem apresentar sustentao em seu corpo, com anlise do que
apresentado e uma concluso decorrente do que foi desenvolvido
no atendimento e acompanhamento. O relatrio deve ter como
referncia o Plano de Acompanhamento individual e/o familiar, e
deve considerar e analisar os condicionantes histricos e sociais
e seus efeitos na constituio dos sujeitos, trazendo para refexo
os aspectos subjetivos que se implicam na relao indivduo e
seu contexto social e que por vezes constituem dinmica de
violaes. Na elaborao de documentos a(o) psicloga(o) deve
tambm observar os princpios e dispositivos do Cdigo de tica
Profssional do Psiclogo.
Observa-se ainda, que Os relatrios do CREAS no devem
se confundir com a elaborao de laudos periciais, relatrios ou
outros documentos com fnalidade investigativa que constituem
atribuio das equipes interprofssionais dos rgos do sistema
de defesa e responsabilizao (BRASIL, 2011, p.43 e 70(b)).
Reunio de Equipe Tem como objetivo debater e
problematizar o trabalho articulado e integrado, avaliar e defnir
caminhos possveis para seu desenvolvimento. Traz para refexo
questes operacionais e referentes s relaes e articulaes
da equipe. Momento em que o trabalho desenvolvido deve ser
debatido e avaliado, possibilitando rever o planejamento e metas
estabelecidas. Deve manter uma periodicidade, com pauta
estabelecida e presena de toda equipe. A partir do monitoramento
das aes a equipe poder avaliar as estratgias utilizadas, as
responsabilidades estabelecidas no processo, encaminhamentos
efetivados no perodo, referncia e contra-referncia, articulaes
e parcerias com a rede. De forma objetiva, avaliar o trabalho do
servio, da equipe (interno-externa) e demandas para atingir
objetivos propostos no servio. Este espao deve contemplar o
debate de questes operacionais e conceituais, conjunturas e
dilemas, contradies vivenciadas viabilizando a articulao e
integrao da equipe.
Na reunio de equipe possvel criar um momento de estudo e
78
leitura de textos, dividindo o espao de reunio em aprimoramento
terico, discusso, construo e avaliao objetiva do trabalho
planejado, possibilitando, ainda, superviso tcnica com
presena, inclusive, de profssionais externas ao equipamento,
como por exemplo integrantes de Instituies de Ensino Superior
ou especialistas que possam contribuir no desenvolvimento e
qualifcao da equipe.
Reunio para Estudo de Caso Espao para estudo e
anlise dos casos em acompanhamento no servio. O objetivo
ampliar a compreenso de indivduos e famlias em suas relaes,
particularidades e especifcidades, na busca de estratgias
e metodologias de interveno para alcance dos resultados
identifcados e apontados no Plano de Acompanhamento individual
e/ou familiar, avaliando resultados alcanados e demandas, assim
como necessidade de readequaes.
Deve manter periodicidade e contar com todos os envolvidos
no caso atendido, contemplando no apenas a equipe do CREAS,
mas tambm profssionais da rede conforme pertinncia. A troca
entre profssionais de diferentes reas privilegiada neste espao
contribuindo para o trabalho multi ou interdisciplinar.
Nesse processo de registro da prtica e construo de
referncias, indagaes se destacam e apontam para as
urgncias no processo de implementao da poltica, bem
como na construo de referncias para o fazer tcnico. Afnal
trabalhamos com realidades dinmicas, que falam e traduzem
estruturas, relaes de poder, saberes, trocas, vivncias e
realizaes. Mas se tem o desafo de construir o novo sem
abandonar ou desqualifcar o que vem sendo realizado e sim
avaliar o que melhor atende as demandas contemporneas da
sociedade. As indagaes do cotidiano trazem maior clareza
percepo de que o objeto do trabalho na Poltica de Assistncia
Social so as relaes individuais, coletivas e institucionais.
No se trata apenas de atender a questes materiais, mas as
implicaes da falta de condies na vida dessas famlias e da
comunidade em geral.
Constata-se aqui, a provocao que o cotidiano nos
79
impe: construir prticas que agreguem diferentes campos de
conhecimento para a interveno psicossocial, intersetorial,
em rede e em equipe, mantendo exaustivo debate sobre o
fazer, resultados e potenciais futuro. preciso construir uma
prtica profssional pautada na anlise de contextos culturais,
sociais, econmicos e polticos que estabelecem relaes de
poder e confito que interferem profundamente em indivduos
e famlias e sua maneira de relacionar-se com o externo,
uma vez que reagem ao que lhe afeta, como em situaes
de desemprego, violncia, falta de acesso a bens e direitos,
discriminao, dentre outros. Isso exige dos profssionais a
construo de um fazer tcnico diferenciado, que, sem perder
as especifcidades de cada rea do conhecimento, somem
entre si para reconhecer os sujeitos das polticas de ateno
em sua integralidade e especifcidade.
Tem-se como mais um dos desafos problematizar a
formao que deve estar embasada na realidade de atuao do
profssional de Psicologia, apontando a complementariedade e
singularidade em relao ao trabalho em equipe nas polticas
pblicas. A atuao traz o questionamento de como constituir
um fazer apropriado da trajetria histrica das polticas no
pas, incorporando os princpios e diretrizes das legislaes da
Assistncia Social.
80
81
EIXO 4: Gesto do Trabalho na
Poltica de Assistncia Social
82
83
EIXO 4: Gesto do Trabalho na Poltica de
Assistncia Social
O trabalho na Assistncia Social
O objetivo deste eixo analisar as relaes e os processos
de trabalho no mbito da Poltica de Assistncia Social
e os desafos para sua efetivao, retratando as atuais
refexes desenvolvidas pela Psicologia, particularmente
por psiclogas(os) que atuam nos Centros de Referncia
Especializado de Assistncia Social CREAS. Neste contexto,
fundamental reconhecer que o debate sobre a gesto do
trabalho no SUAS afeta o conjunto amplo das categorias
profssionais envolvidas com a implementao do Sistema
nico de Assistncia Social.
A abordagem do tema, luz da pesquisa (CFP/
CREPOP/2009) requer a contextualizao e refexo acerca das
diretrizes institudas a partir de 2004, com a Poltica Nacional
de Assistncia Social PNAS e seus desdobramentos para o
trabalho realizado pelos profssionais.
Os marcos legais j retratados nos eixos anteriores balizam
a anlise a ser desenvolvida sobre o trabalho e o trabalhador
do SUAS. Um resgate s prticas passadas, antecedente a tais
referncias, revela um campo mais vinculado a uma prtica
social, baseada na caridade e no voluntariado, do que a uma
rea de atuao profssionalizada. A origem e trajetria da
Assistncia Social so analisadas, de modo crtico por vrios
estudiosos, (SPOSATI, 2003; MESTRINER, 2001; YAZBEK,
2003; RAICHELIS, 2000) e revelam uma prtica distante do
campo das Polticas Sociais e enraizadas na benemerncia,
caridade, descontinuidade na prestao de servios, arena de
solidariedade e flantropia da sociedade, ou ainda da ajuda
aos pobres.
Assim, a concepo prevalente da rea, mencionada por
Raichelis (2000), como apoltica, favoreceu a conjugao
entre o senso comum, o imediatismo e a circunstancialidade,
enquanto ncleo fomentador da prtica profssional (NERY,
84
2009, p.68). Historicamente, o exerccio da caridade, do
voluntarismo e da tutela no requereu a institucionalidade
de uma poltica pblica e prescindiu de um conhecimento
tcnico-poltico-tico que subsidiasse a execuo das ofertas
socioassistenciais populao.
Em acordo com a base legal da Carta Magna e da LOAS,
a Poltica Nacional de Assistncia Social PNAS/2004, a
Norma Operacional Bsica do SUAS NOB-SUAS/2005 e
particularmente, a Norma Operacional de Recursos Humanos
do SUAS NOB-RH/SUAS/2006, alteram de forma signifcativa,
do ponto de vista poltico e conceitual, os rumos da Assistncia
Social e da atuao profssional.
A NOB-RH/2006 alm de representar uma regulao para o
campo profssional, no tocante composio das equipes de
referncia que prestam servios, particularmente nas unidades
estatais CRAS e CREAS, afrma o reconhecimento de que
a profssionalizao da Assistncia Social de relevncia
inquestionvel para a defesa e garantia de direitos atribudos
a uma poltica pblica. Trata-se, ainda, de reconhecer a
necessidade da adoo de diretrizes tcnico-polticas para
o enfrentamento da complexa realidade social brasileira, e
dos ainda persistentes altos ndices de desigualdade social e
situaes de violncia e violao dos direitos no pas.
O SUAS, a partir de 2005, afrma e amplia a institucionalidade
da Poltica de Assistncia Social. Em consequncia, a oferta
de servios e benefcios socioassistenciais requisita atuaes
profssionais permanentes, de forma a romper tanto com fragilidade
institucional quanto com a circunstancialidade histrica no acesso
ao direito socioassistencial por parte da populao.
Considerando que o resultado do trabalho na Poltica de
Assistncia Social, no que diz respeito a consecuo dos
objetivos vinculados s ofertas socioassistenciais, se processa
a partir da relao estabelecida entre o trabalhador e o cidado,
fundamental reconhecer que a funo profssional de assegurar
direito requer a presena de profssionais da Psicologia
balizados pela permanncia na construo de vnculos com a
populao, uma aliana estratgica entre os trabalhadores e os
85
usurios do SUAS, como nos diz Rizzotti (2011, p.65). Portanto,
trata-se de afrmar que o trabalho social desenvolvido na
Poltica de Assistncia Social a mediao da prpria poltica
(SPOSATI, 2006), fator que eleva a responsabilidade pblica na
produo de direcionamentos ticos, tcnicos e polticos que
se contraponham reatualizao de prticas conservadoras
e insero de prticas empiristas que se quer expressam
as diretrizes e os princpios constitucionais da democratizao
formal do acesso aos direitos (SILVEIRA, 2011, p. 27). Desta
forma, a mediao do profssional, no sentido de tornar-se
referncia, elo de confana para a populao, no somente
na oferta, mas essencialmente na leitura das complexas
realidades sociais apresentadas se torna um grande desafo
para os profssionais da Psicologia.
Nos CREAS, o trabalho de psiclogas (os) exige considerar
a heterogeneidade de riscos sociais e violaes de direitos
aos quais a populao est submetida, ou seja, h uma
requisio crescente e permanente aos profssionais por
uma leitura especializada face s exigncias por respostas
especializadas. Portanto, o termo especializado remete
a adoo de recursos tericos que permitam entender a
complexidade da demanda que aporta ao CREAS, em
consequncia, determina como atend-la, isto , as estratgias
metodolgicas articuladas e integradas utilizadas para o seu
enfrentamento.
O equacionamento de tais questes, ainda em processo de
elaborao por parte dos trabalhadores e mediada por entraves
institucionais poder resultar na ampliao da capacidade
interventiva junto aos destinatrios da Proteo Social Especial de
mdia complexidade. Do mesmo modo, profssionais politicamente
organizados nos espaos de trabalho e representao da
categoria, agregam coletivamente argumentos, sob o ponto de
vista de seu saber, para a traduo das realidades sociais aos
demais profssionais e ao rgo gestor.
Recentemente, a alterao da Loas com a aprovao da
Lei n 12.435/2011 reafrma a centralidade do trabalhador na
gesto e execuo da Poltica de Assistncia Social no territrio
86
brasileiro, destacada no artigo 6- alnea E:
Os recursos do cofnanciamento do SUAS, destinados
execuo das aes continuadas de assistncia social,
podero ser aplicados no pagamento dos profssionais que
integrarem as equipes de referncia, responsveis pela
organizao e oferta daquelas aes, conforme percentual
apresentado pelo Ministrio do Desenvolvimento Social e
Combate Fome e aprovado pelo CNAS. (BRASIL,2011).
O referido artigo, fruto de debates, refexes e pactuaes,
demarca no somente a importncia do (a) trabalhador
(a) na mediao do acesso aos direitos socioassistenciais
da populao, mas cria respaldo legal, do ponto de vista
fnanceiro, para a ampliao das equipes profssionais. Esta
foi uma conquista do setor, na perspectiva de potencializar
a profssionalizao urgente e necessria e, ainda, o
fortalecimento da gesto do SUAS nos municpios, no Distrito
Federal e nos Estados. A iniciativa fortalece tambm o pacto
federativo e a corresponsabilidade da Unio para e com o
direito socioassistencial.
Em consonncia a este artigo da LOAS, o CNAS, no uso
de suas atribuies e responsabilidades aprova a Resoluo
n. 32/2011, que autoriza a utilizao de at 60% (sessenta por
cento) dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistncia
Social, destinados a execuo das aes continuadas de
assistncia social, no pagamento dos profssionais que
integrarem as equipes de referncia do SUAS.
As equipes de referncia so aquelas constitudas por
servidores efetivos responsveis pela organizao e oferta dos
servios, programas, projetos e benefcios de proteo social
bsica e especial, levando-se em consideraes o nmero de
famlias e indivduos referenciados, o tipo de atendimento e as
aquisies que devem ser garantidas aos usurios.
Dados do Censo SUAS refetem este cenrio de ampliao
das equipes, j que os CREAS totalizavam 2.109 unidades com
3.426 psiclogas (os) (BRASIL,MDS,CENSO-SUAS, 2011).
Comparativamente, as informaes do Censo SUAS de 2009
87
indicaram a existncia de 1.200 unidades do CREAS, envolvendo
2.016 psiclogas (os). (BRASIL, MDS, CENSO-SUAS, 2009).
Um exame detalhado sobre os referidos dados demonstra
um acrscimo de 75% de novos CREAS no pas, assim como
revela a ampliao de aproximadamente 70% dos profssionais
da Psicologia. Tais informaes so relevantes para gesto do
trabalho considerando o crescimento gradativo da participao da
Psicologia na Poltica de Assistncia Social, ao mesmo momento
em que paradigmas e marcos legais vinculados defesa do
direito socioassistencial passam a fundamentar uma nova lgica
para a atuao profssional na rea.
Todavia fundamental problematizar que a ampliao da
presena de Psiclogas (os) nos CREAS no necessariamente
est relacionada melhor qualidade no que se refere ao vnculo
empregatcio. Quando analisada a totalidade dos profssionais
nos CREAS, dados do Censo SUAS de 2010 apontam o
predomnio de relaes trabalhistas no permanentes,
superando 50% do total em todos os portes de municpios.
(BRASIL,MDS,CENSO-SUAS, 2010).
indiscutvel o avano j alcanado no que se refere
ampliao quantitativa de psiclogas (os) nos CREAS e
por consequncia, a possibilidade de maior presena do
conhecimento cientfco-metodolgico da Psicologia nos rumos
a serem adotados pela Assistncia Social. Todavia, observa-
se que tal crescimento tem enquanto identidade prevalente
a precarizao das relaes de trabalho. So faces de uma
mesma moeda, ou seja: condies de trabalho precrias que
incidem na proteo social a ser afanada populao.
Vnculo de trabalho no estatutrio, em contraponto s
diretrizes da NOB-RH/2006 quanto composio da equipe de
referncia
11
do CREAS, confgura inconstncia na prestao
dos servios socioassistenciais, considerando a rotatividade
11. Conforme NOB_RH/2006 equipes de referncia so aquelas constitudas por
servidores efetivos, responsveis pela organizao e oferta de servios, programas,
projetos e benefcios de proteo social bsica e especial, levando-se em
considerao o nmero de famlias e indivduos referenciados, o tipo de atendimento
e as aquisies que devem ser garantidas aos usurios (Brasil, 2006:27).
88
dos profssionais. A reincidente constituio das equipes afeta
o estabelecimento de vnculos de confana e referncia com
a populao.
Assim, refetir sobre o profssional da Psicologia na
Assistncia Social requer uma anlise ampliada sobre os
componentes constitutivos da gesto do trabalho na rea.
Trata-se de considerar, dentre vrios aspectos, as questes
relativas s condies de trabalho, j que debat-las signifca
pautar o acesso a direitos tanto para trabalhadores quanto
para usurios.
Um dos aspectos presentes nos cotidianos de trabalho
das (os) psiclogas (os) e, portanto, um desafo a ser
enfrentado, est relacionado a um processo crescente de
acmulo de responsabilidades, ou at mesmo de desvio de
funes. Afrmadas nos dispositivos legais da profsso, as
competncias tcnicas da Psicologia, tornam-se subjugadas/
secundarizadas ao excesso de demanda e por consequncia,
s exigncias e presses institucionais. A pesquisa (CFP/
CREPOP/2009) apresenta relatos que ilustram esta questo,
especialmente nos pequenos muncipios, onde recorrente
apenas um profssional responder no somente pela Proteo
Social Especial - CREAS, mas por todas as demais demandas
da Poltica de Assistncia Social, ou ainda, atender solicitaes
do mbito das Polticas de Sade e Educao. A ausncia
de intersetorialidade e clareza quanto aos objetivos das
referidas Polticas Pblicas incide na indiferenciao quanto
s atribuies dos profssionais envolvidos.
O enfrentamento de tais questes requer primordialmente o
aprofundamento de uma refexo coletiva capaz de subsidiar os
profssionais na defesa das competncias tcnicas da Psicologia
no desenvolvimento da ateno especializada requerida ao
CREAS. Vale destacar que o partilhamento de experincias,
desafos e concepes nos ambientes de trabalho e a maior
presena das(os) psiclogas(os) nos espaos da categoria,
favorecem a elaborao de argumentos que assegurem a
especifcidade da Psicologia na Poltica de Assistncia Social,
considerando a premissa de que a afrmao da profsso, do
89
ponto de vista dos seus objetivos, no resulta de uma ao
individual, mas de um movimento coletivo dos profssionais.
A Resoluo CNAS n 17/2011, reconhece que o trabalho na
Assistncia Social desenvolvido pelas equipes de referncia
e de gesto do SUAS. A primeira voltada s especifcidades
dos servios, ou seja, oferta do direito socioassistencial
populao e a segunda, direcionada ao desenvolvimento
de atividades especfcas e/ou de assessoria equipe
tcnica de referncia, isto , funes de gesto da Poltica.
Diante desta normativa fundamental problematizar que os
relatos apresentados pelos participantes da pesquisa (CFP/
CREPOP/2009), no que se refere aos cotidianos de trabalho,
sugerem uma indiferenciao entre as funes de execuo do
atendimento nos servios socioassistenciais junto populao
e as tarefas de gesto vinculadas administrao.
O atendimento ao usurio e/ou famlia, eixo central da
prtica profssional no SUAS, tende a ser secundarizado
aos cronogramas administrativos e aos prazos de gesto
da Poltica. Embora sejam inegveis os avanos relativos
sistematizao das informaes para a organizao do
trabalho a ser desenvolvido junto ao usurio, fundamental
uma ateno redobrada por parte das(os) Psiclogas(os)
para que as aes-meios no prevaleam s fnalidades
da Poltica. Do mesmo modo, fundamental investir no
estabelecimento de fuxos e rotinas de trabalho capazes de
construir articulaes e dilogos entre as funes de gesto
e execuo da Poltica de Assistncia Social, considerando a
necessria complementariedade na atuao dos trabalhadores
envolvidos.
O debate sobre a gesto do trabalho requer considerar
que os avanos advindos dos marcos normativos e das
novas categorias tericas adotadas favorecem a to almejada
mudana nos paradigmas histricos do campo. Todavia, o
trnsito da assistncia social para o campo do direito est
condicionado s dinmicas vividas pelos trabalhadores em
seus cotidianos de trabalho, demandando considerar no
somente a composio das equipes, mas o preparo tcnico-
90
poltico para o exerccio das funes requeridas pela complexa
conjuntura do SUAS.
A possibilidade de ruptura com signos e smbolos, ainda
presentes na sociedade, como a viso caritativa da assistncia
social e o trabalhador destitudo de um aparato terico-
metodolgico, supe o posicionamento permanente dos
profssionais da Psicologia contrrio s presses por maior
produtividade, aos vnculos no permanentes, ao acmulo e
desvio de funes, s equipes reduzidas e rotativas diante das
demandas territoriais.
Tais elementos compe o Plano de Lutas
12
do Frum
Nacional de Trabalhadores/as do SUAS FNTSUAS
13
, no
sentido de afrmar pautas reivindicativas do coletivo dos
profssionais do SUAS. Dentre elas, destacam-se os pleitos
direcionados ao combate precarizao das condies
de trabalho, defesa dos direitos socioassistenciais dos
destinatrios da Politica de Assistncia Social, reconhecendo
para seu alcance, a centralidade dos trabalhadores de
diversas reas do conhecimento. A ampliao da participao
de psiclogas (os) nos espaos de refexo e elaborao de
proposituras representativas do coletivo dos trabalhadores
do SUAS signifca no somente a vocalizao das pautas da
categoria, mas a possibilidade de contribuir para a construo
da identidade do trabalhador do SUAS.
notrio nos cotidianos de trabalho um descompasso entre
o estabelecido nas normativas e as exigncias institucionais,
revelando trnsitos ainda condicionados por permanncias
e fora de reproduo dos contextos anteriores, ainda que a
NOB-RH j apontasse em suas diretrizes que:
12. O Plano de Lutas um conjunto de reivindicaes dos trabalhadores do SUAS,
aprovado em 13 de abril de 2012, na Cidade do Rio de Janeiro e est contido na
Carta de Princpios que organiza e estrutura o Frum Nacional de trabalhadores do
SUAS
13. Institudo em plenria nacional em dezembro de 2009, durante a VII Conferncia
Nacional de Assistncia Social em Braslia. http://www.fntsuas.com.br
91
Para a implementao do SUAS e para se alcanar os
objetivos da PNAS/2004, necessrio tratar a gesto do
trabalho como questo estratgica. A qualidade dos servios
socioassistenciais disponibilizados sociedade depende da
estruturao do trabalho, da qualifcao e valorizao dos
trabalhadores atuantes no SUAS. (BRASIL, 2006).
Entretanto, observa-se que as constantes regulaes
institudas para a implantao do SUAS e as exigncias
quanto s novas formas e dinmicas para a organizao e
Gesto do Trabalho tm requerido a reviso e adequao
permanentes das instituies pblicas e a mobilizao coletiva
dos profssionais.
Neste particular, a anlise a ser desenvolvida, considerando
os apontamentos anteriores - a incurso da Assistncia Social
no campo da Poltica Pblica de direitos e seu reconhecimento
enquanto atuao profssionalizada - no pode prescindir da
contextualizao sobre a crise do mundo do trabalho.
Os estudos apontam que as transformaes em mbito
nacional e internacional no mercado de trabalho, desde a
dcada de 1990 do sculo passado reverberam em diferentes
confguraes nos dias atuais, tanto na esfera privada como na
execuo das Polticas Pblicas (ANTUNES, 2006).
O referido perodo marcou a infuncia do ajuste neoliberal
na economia e no modo de produo e, por consequncia,
nas relaes de trabalho. Instalaram-se mecanismos e
estratgias de fexibilizao e precarizao do emprego e dos
direitos trabalhistas conquistados, afetando particularmente
a confgurao dos vnculos e condies de trabalho de
parcela signifcativa da classe trabalhadora. Do ponto de
vista da administrao pblica, a diretriz neoliberal delineou
a poca, a reforma conservadora do Estado, caracterizada
pelo recolhimento estatal no tocante a execuo das Polticas
Sociais, transferida de forma gradativa a sociedade civil.
Em certa medida o SUAS trafega em rota contrria a esta
perspectiva, ao reafrmar a responsabilidade do Estado
quanto ao acesso aos direitos socioassistenciais, instituindo
dispositivos atravs dos quais se observa uma maior presena
92
estatal, alm de criar unidades estatais CRAS, CREAS e
CENTRO-POP prximas ao territrio de vida das famlias e
indivduos.
Tais elementos devem ser considerados em se tratando
do debate em torno da Gesto do Trabalho de uma Poltica
Pblica, cuja execuo de responsabilidade do Estado,
conforme menciona sua Lei Orgnica: Assistncia Social,
direito do cidado e dever do Estado. (BRASIL, 1993).
Considerando este pano de fundo, a anlise do presente
eixo supe identifcar quais as particularidades no tocante s
ofertas socioassistenciais, ao trabalho em equipe, s condies
institucionais de trabalho que Psiclogas(os) esto atualmente
vivenciando em seus cotidianos, ou ainda ponderar que:
A concepo de gesto do trabalho no SUAS supe
processos unifcados e construdos coletivamente com
defnio de requisitos, competncias e perfs profssionais
para o desenvolvimento de funes correspondentes aos
controles democrticos, s responsabilidades de gesto e
ao atendimento prestado, com implementao de condies
dignas de trabalho. (BRASIL, 2011, p.20).
Os cotidianos profssionais na Proteo Social Especial
Os dados coletados na pesquisa junto s(aos) psiclogas(os)
que trabalham no CREAS (CFP/CREPOP/2009), revelaram
um leque bastante heterogneo de contextos de trabalho,
competncias e atribuies, aportes tericos metodolgicos,
aes e atividades desenvolvidas, composio, dinmica da
equipe interdisciplinar e processos de capacitao, dentre
outros.
Visando contribuir com o debate sobre a temtica, sero
apresentadas refexes sobre os depoimentos dos profssionais
acerca de seu cotidiano de trabalho.
No CREAS, os relatos denotam crescente tendncia de sua
constituio enquanto referncia para a rede socioassistencial,
sem, no entanto, sugerir clareza sobre suas atribuies como
um dos componentes do trabalho intersetorial. Revela-se uma
93
tendncia em considerar os encaminhamentos realizados e
recebidos - em sua maioria para/do Conselho Tutelar, Poder
Judicirio, Sade e Educao - como aes integradas em
rede.
Cabe reafrmar que ainda se faz necessrio o debate sobre
as relaes intersetoriais presentes ou ausentes no Sistema
de Garantia de Direitos - SGD e, por consequncia, as
responsabilidades de cada ator deste coletivo, no sentido de no
instituir que o CREAS e seus profssionais tenham suas rotinas
de trabalho pautadas pelo Poder Judicirio e/ou Conselho
Tutelar na elaborao de laudos e relatrios psicolgicos,
dentre outras demandas. A elaborao de tais documentos no
constitui uma atribuio do CREAS, considerando que o poder
judicirio em sua estrutura prev uma equipe tcnica inclusive
com psiclogas (os) - para elaborao dos laudos. Todavia,
esta realidade tem se exponenciado e adquirido diversas
expresses no trabalho desenvolvido pelas (os) psiclogas(os)
na Poltica de Assistncia Social.Cabe salientar que a
Resoluo do Conselho Federal de Psicologia n 08 de 2010,
que dispe sobre a atuao da(o) psicloga(o) como perito no
poder Judicirio e a Resoluo n 10 de 2010, que regulamenta
a escuta psicolgica de crianas e adolescentes vtimas de
violncia, esclaream as competncias das(os) psiclogas(os)
face s fnalidades destes documentos. So regulaes
produzidas pelo coletivo da categoria e fruto de intenso debate,
devendo ser adotadas nos cotidianos profssionais de forma
a romper com a atual tendncia da atuao da Psicologia ser
reduzida a secretariar o poder judicirio e o Conselho Tutelar.
Em contrapartida a este cenrio, h processos de discusso e
anlise conjunta entre os profssionais da rede socioassistencial
sobre o atendimento realizado s famlias e aos indivduos, de
forma a otimizar recursos, complementar aes especfcas e
potencializar a resolutividade das ofertas socioassistenciais
aos usurios. Nesse sentido, sugere-se que h maior clareza
da ao em rede entre os servios socioassistenciais, tanto
do ponto de vista da responsabilidade dos atores, quanto dos
objetivos a serem alcanados com este trabalho. Todavia, no
94
tocante s relaes intersetoriais, observa-se uma tendncia
em reduzir o trabalho em rede prtica do encaminhamento.
Sem dvida, o reconhecimento do CREAS como uma
referncia no mbito da Assistncia Social, e integrante
do conjunto dos setores pblicos que atuam com famlias
e indivduos em situao de risco pessoal e social e com
os direitos violados de fundamental relevncia. Todavia,
considerando os trnsitos a serem processados neste campo,
o debate e a defnio das responsabilidades de cada ator e
a partir deste patamar, a construo de fuxos de atendimento
poder favorecer a constituio de redes socioassistenciais e,
especialmente, intersetoriais mais efcazes em sua resposta
pblica populao.
Para tanto, de fundamental relevncia o papel a ser
desempenhado pela Secretaria de Assistncia Social do
municpio e do Distrito Federal, no sentido de viabilizar
espaos de interlocuo junto s demais Polticas Pblicas e
Sociais. Desse modo, essencial que o corpo tcnico do rgo
gestor tenha clareza dos objetivos do CREAS e das atribuies
e competncias tcnicas dos profssionais da Psicologia
no SUAS. Neste aspecto, os rgos de representao da
categoria tm relevante papel no sentido de fomentar o debate
entre os profssionais e elaborar subsdios e documentos que
ampliem a capacidade argumentativa dos trabalhadores, j
que se observa nos relatos apresentados na pesquisa (CFP/
CREPOP/2009) que a ausncia de clareza por parte do gestor
afeta o desempenho das atribuies das(os) psiclogas(os) no
CREAS. preciso ainda considerar que prticas vinculadas
ao assistencialismo, ao clientelismo ou a interferncia do
primeiro-damismo nos CREAS, impactam a rotina de trabalho
e desconstroem os fundamentos terico-metodolgicos que
embasam a prestao de servios socioassistenciais. Por fm,
desviam a rota do trabalho desenvolvido pela Psicologia na
Poltica de Assistncia Social e por consequncia, do direito a
ser alcanado pela populao.
Nesse sentido, considerando as interferncias do rgo
gestor, o debate sobre a formao, dinmica e objetivos do
95
trabalho em rede - socioassistencial e intersetorial - requer
ultrapassar a concepo prevalente de que sua constituio
descrita por um conjunto de sujeitos sociais que procedem
exclusivamente, entre si, encaminhamentos, referncia e
contra-referncia. A importncia do trabalho em rede para a(o)
psicloga(o) sugere a possibilidade de atuao para alm dos
muros do CREAS como forma no somente da afrmao da
ao intersetorial, visando completude da proteo social a
ser assegurada aos cidados, mas do fomento participao
em fruns, reunies, debates, dentre outros espaos. Tais
momentos constituem estratgias e espaos de interlocuo
atravs dos quais possvel clarear e publicizar as atribuies
da Psicologia no Sistema nico de Assistncia Social.
relevante apontar que a refexo sobre gesto do trabalho
no SUAS rene elementos que favorecem a atualizao do
debate terico sobre intersetorialidade, interdisciplinaridade
e interinstitucionalidade, considerando as exigncias para
o equacionamento entre as dinmicas vivenciadas nos
cotidianos de trabalho, a complexa realidade social e os
entraves institucionais dos entes federativos. A natureza das
demandas do CREAS requer que as referidas estratgias de
trabalho articulao e complementariedade das polticas
pblicas e sociais, das reas de conhecimento e dos nveis
institucionais sejam efetivadas a partir de uma viso integral
dos destinatrios da Politica de Assistncia Social.
Do ponto de vista da coordenao do CREAS, os relatos
apresentam um conjunto de estratgias utilizadas, denotando
uma preocupao com o planejamento sequencial das aes,
de forma a instituir uma coerncia metodolgica ao atendimento
famlia e/ou indivduo. Considera-se que os participantes
da presente pesquisa (CFP/CREPOP/2009) expressam a
compreenso de que as ofertas socioassistenciais da proteo
social especial, face vivncia de riscos pessoais e sociais
e violao de direitos, exigem a organizao do trabalho e
o estabelecimento de relaes entre as fases do atendimento
para consecuo dos objetivos propostos.
A organizao do trabalho pressupe a criao de rotinas e
96
dentre vrios resultados, do ponto de vista dos profssionais,
favorece a otimizao do tempo e dos recursos materiais. No que
concerne populao, permite o conhecimento e a apropriao
dos servios socioassistenciais que sero acessadas na
proteo social especial. De certo modo, estamos reafrmando
o acesso a direitos: da parte do trabalhador, direito a condies
dignas de trabalho que favoream a refexo e elaborao
de propostas, em contraponto ao trabalho improvisado e
alienante. Da parte dos usurios, direito a conhecer as ofertas,
em contrapartida ao histrico imediatismo para o acesso aos
servios e benefcios socioassistenciais.
Direito do usurio acessibilidade, qualidade e
continuidade:
Direito, do usurio e usuria, da rede socioassistencial,
escuta, ao acolhimento e de ser protagonista na construo
de respostas dignas, claras e elucidativas, ofertadas
por servios de ao continuada, localizados prximos
sua moradia, operados por profssionais qualifcados,
capacitados e permanentes, em espaos com infraestrutura
adequada e acessibilidade, que garantam atendimento
privativo, inclusive, para os usurios com defcincia e
idosos. (BRASIL, 2009)
Relacionada organizao do trabalho, o debate sobre as
atribuies da equipe profssional, como j mencionado, constitui
questo a ser aprofundada na medida em que revela elementos
para anlise sobre o papel da psicologia nas polticas pblicas.
H uma reiterada manifestao dos profssionais indagando
sobre as especifcidades do trabalho da (o) psicloga (o) na
Poltica de Assistncia Social, na proteo social especial
e, particularmente, no CREAS. Reafrmamos que trata-se
de refetir sobre as passagens a serem processadas para a
construo de um conhecimento mais prximo dos objetivos
da Poltica de Assistncia Social. O SUAS organiza e prope
uma confgurao poltica-tcnica da Poltica de Assistncia
Social. Todavia, em que pese os esforos de cada Psicloga
(o), do coletivo da categoria e do reconhecimento da profsso
97
nas normativas, nota-se ainda um campo do conhecimento a
ser ressignifcado, do ponto de vista terico e metodolgico,
capaz de favorecer a construo de uma identidade, por parte
dos profssionais, dentro da Poltica. Do mesmo modo, a
psicologia chamada a trilhar um caminho na busca por um
trabalho interdisciplinar, articulado, integrado, democrtico e
participativo e, ainda, baseado na interao e completude das
disciplinas, no estabelecimento de nexos e vnculos para a
transferncia de saberes e em algumas situaes, construo
de conhecimentos novos e mais abrangentes face s exigncias
da realidade social.
Considera-se que o trabalho social desenvolvido na Poltica
de Assistncia Social possui uma natureza interdisciplinar,
supondo olhares de diferentes matrizes, o que constitui fator
de ampliao das prticas profssionais, sem a diluio das
especifcidades de cada profsso. A adoo desta concepo
na poltica de Assistncia Social traz estranhamentos para
as profsses, mas ao mesmo tempo revela potencialidades
para contribuir, a partir de uma posio crtica e cooperativa,
no momento em que a consolidao da poltica est em
construo.
Assim, o horizonte a ser visualizado e efetivado enquanto
desafo para a psicologia, no que concerne ao trabalho em
equipe, supe considerar as possibilidades reais da troca
de conhecimentos e experincias com as demais profsses
necessrias para a construo de novos saberes e metodologias
de trabalho junto s famlias e indivduos.
O debate sobre a gesto do trabalho no SUAS nos cotidianos
profssionais supe uma refexo sobre um projeto tico-poltico
para atuao interdisciplinar na Poltica de Assistncia Social,
respeitando e considerando as diretrizes ticas e polticas das
profsses envolvidas.
A despeito das normativas quanto composio da equipe
do CREAS, em sua expresso numrica e de formao
profssional, j possvel afrmar a necessidade de um processo
gradativo de reviso de tais indicaes de modo a estabelecer
adequaes s novas realidades municipais, considerando a
98
complexidade das realidades sociais do pas. fundamental
assumir que a Poltica de Assistncia Social alcanou maior
capilaridade, associada a um maior reconhecimento por parte
da populao, o que requer uma reorganizao tanto do ponto
de vista institucional quanto dos profssionais.
Equipes incompletas nos CREAS impactam diretamente
a qualidade do trabalho, no tocante s ofertas dos servios
socioassistenciais a serem afanadas aos usurios,
colaborando para o seu baixo alcance. Rebatem ainda nas
condies de trabalho, considerando o desgaste emocional
dos profssionais face ao vasto leque de demandas sociais
para um nmero reduzido de trabalhadores, em alguns casos,
com carga horria excessiva de trabalho.
99
Desafos a serem enfrentados
possvel afrmar que o debate sobre a Gesto do
Trabalho no SUAS, considerando psiclogas(os) que atuam
no CREAS no pode se distanciar da refexo nuclear sobre
sua especifcidade, enquanto rea de conhecimento, para a
Poltica de Assistncia Social.
Do ponto de vista das condies de trabalho, so recorrentes
as precrias condies materiais e salariais de trabalho,
gerando rotatividade dos profssionais, o que em ltima
instncia favorece a concepo prevalente que se pretende
superar com a implementao do SUAS - da ao profssional
voltada para a eventualidade e descontinuidade na prestao
de servios.
O rodzio de profssionais observado nas equipes dos
CREAS requer medidas voltadas permanncia do corpo
tcnico, atravs da desprecarizao dos vnculos de trabalho.
A ampliao de vagas de concurso pblico para ingresso na
Poltica de Assistncia Social torna-se um requisito primordial
e requer na sequncia, a implementao de Planos de
Carreira, Cargos e Salrio, em consonncia com a NOB/RH/
SUAS/2006, considerando como j mencionado, a necessidade
de alcanar maior estabilidade para os trabalhadores. Trata-se
de considerar o estabelecimento de processos interventivos
permanentes junto populao.
O Frum Nacional de Trabalhadores (as) dos SUAS e as
representaes estaduais e municipais, dentre as vrias pautas
em debate, vem reafrmando a deliberao da VII Conferncia
Nacional de Assistncia Social no que se refere instalao
das Mesas de Negociao para potencializar o debate e
estabelecer protocolos entre gestores pblicos e privados e
trabalhadores, visando combater, dentre outras, a diversidade
de contratos, de vnculos e formas de insero do trabalhador
na Politica de Assistncia Social.
Outro aspecto a ser enfrentado, condicionado a uma maior
clareza sobre as atribuies da psicologia na Poltica de
Assistncia Social est relacionado ao trabalho em equipe e
100
em rede. Trata-se de desconstruir prticas atuais nas quais os
profssionais so tensionados a executar funes distanciadas
do seu campo de conhecimento, ou pela ausncia de outros
profssionais na equipe, ou por insufcincia dos servios das
demais reas setoriais.
A ausncia de processos de educao permanente e a
impermanncia dos processos de capacitao, assim como
o conjunto signifcativamente heterogneo de abordagens
terico-metodolgicas adotadas pelos trabalhadores,
requerem uma anlise cuidadosa. Busca-se pautar o debate
acerca dos contedos a serem incorporados nos processos de
formao sem pretender uniformiz-los - capazes de criar
uma correspondncia s requisies atuais da interveno
profssional na Poltica de Assistncia Social.
A Poltica Nacional de Educao Permanente do SUAS,
em processo de implantao, prev a adoo de percursos
formativos, considerando as estruturas institucionais, as
dinmicas de trabalho e as categorias profssionais envolvidas
com o SUAS. A qualifcao tcnica de todos os profssionais
do SUAS no desenvolvimento de competncias, requer o
reconhecimento, por parte do gestor, da importncia do
trabalhador e por consequncia, o investimento de recursos
fnanceiros condizentes com os desafos a serem enfrentados
no atual estgio do SUAS.
101
Consideraes Finais
102
103
Consideraes Finais
Ao discorrer sobre a atuao das (os) psiclogas (os) no
CREAS pretende-se promover a refexo acerca da amplitude
e complexidade que se impe a prtica profssional nesse
contexto. Implica na viabilizao de espaos de debates e
construes contnuas de consensos a serem estabelecidos
no fazer tcnico.
Como se pode perceber o objetivo desta referencia tcnica
no foi delimitar a prtica, apontando fazeres a serem adotados
indistintamente. fundamental considerar a atuao enquanto
um processo em construo, incentivando o exerccio criativo,
democrtico e participativo, a partir de metodologias pautadas
em referencias tcnico-cientfcos que respeitem as diferenas
e complexidades de sujeitos e contextos.
O documento em sua construo manteve como proposta
central trazer para refexo a diversidade que tem se aberto
para a prtica da Psicologia nas polticas pblicas, em especial
no SUAS, priorizando o fazer inovador e comprometido com
a transformao social, a proteo e garantia de direitos. O
presente traz para o debate questionamentos e consensos, que
somente surgem de espaos promotores da refexo crtica dos
profssionais. Nesse sentido, cabe ressaltar que o momento
no aponta apenas para a insero da Psicologia nas polticas
pblicas, mas para a necessidade de refexo sobre a quem a
psicologia tem servido em sua prtica profssional.
Portanto, nesse documento destacam-se aspectos
importantes no processo de construo, mas no com objetivo
de descrever metodologia a ser seguida indistintamente, e sim
reafrmar princpios ticos e polticos norteadores do fazer.
fundamental que gestores e tcnicos a partir de cuidadosa
anlise de contexto defnam responsabilidades na execuo,
considerando que a Assistncia Social no se encerra em si e
nem deve ser a nica das polticas a dar resposta s demandas
sociais que se apresentam na atualidade.
A pesquisa (CFP/CREPOP/2009) realizada com os
profssionais aponta para o esforo destes na lida cotidiana,
104
colocando-se a contribuir para a transformao da prtica,
com aes empreendidas de maneira dinmica, mas com
incontveis perguntas, no esforo de trazer para o debate a
funo da Psicologia. Nos leva ainda a perceber uma categoria
comprometida e preocupada em romper com paradigmas
construdos historicamente na Assistncia Social.
O desafo para o profssional da Psicologia passa por um
amadurecimento pessoal, profssional, coletivo e institucional.
Ainda que pese os percalos e intercorrncias, o fortalecimento
da Psicologia no SUAS vem sendo construdo a partir do
debate cotidiano, sendo possvel nos relatos da prtica
identifcar avanos no decorrer do percurso, corroborando com
a necessria ressignifcao das ofertas e com a consolidao
do direito socioassistencial.
As consideraes apresentadas at aqui demonstram que a
tarefa posta para a Psicologia inserida no SUAS traz questes
que devem constituir uma agenda de discusses que promovam
um maior debate sobre as condies de trabalho no SUAS,
a educao permanente dos atores envolvidos na poltica, a
construo de metodologias de ao, alm da mobilizao e
fortalecimento da organizao dos trabalhadores.
105
Referncias
106
107
AFONSO, Maria Lcia. O que faz a psicologia no
sistema nico da assistncia social? Disponvel em
ht t p: / / www. escol al asal l e. com. br/ 2008/ document os_pdf /
publica%C3%A7%C3%B5es/Fundamental%20l/Artigo%20
L%C3%BAcia%20Afonso%20JP.pdf
AKERMAN, Deborah. Infncia pobre e trabalho. Revista
Pensar BH. Poltica Social, v.12, 10 12, 2005.
AKERMAN, Deborah. O itinerrio de famlias com
violncia domstica no sistema de garantia de direitos:
uma anlise do cumprimento de medidas de proteo.
Trabalho de qualifcao. Programa de Ps Graduao em
Psicologia, UFSJ, 2012
AMMAN, Z.B. Participao social. So Paulo: Cortez,
1978.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 11. Ed.,
So Paulo: Cortez Editora, 2006.
Barros, J. Consideraes sobre a prxis do (a) psiclogo
(a) nas Razes de Cidadania e nos Centros de Referncia
da Assistncia Social (CRAS) de Fortaleza. Monografa
(Graduao em Psicologia). Departamento de Psicologia,
Universidade Federal do Cear, 2007.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. (Coutinho, C. N.
Trad.). Rio de Janeiro: Campus, 1992
BOCK, A. M. B. A Psicologia a caminho do novo sculo:
identidade profssional e compromisso social. Estudos de
Psicologia, 1999, 315- 319.
Referncias
108
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil.
Braslia, 1988.
______. Lei Orgnica de Assistncia Social, 1993
______. Lei n 12.435, de 6 de julho de 2011. Altera a
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispe sobre a
organizao da Assistncia Social. Braslia, 2011
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome .Conselho Nacional de Assistncia Social. Norma
Operacional Bsica do Sistema nico de Assistncia
Social. Resoluo n 130, de 15 de julho de 2005. Braslia,
2005.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. Conselho Nacional de Assistncia Social. Poltica
Nacional de Assistncia Social. Resoluo n 145, de 15 de
outubro de 2004. Braslia, 2005.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome .Conselho Nacional de Assistncia Social. Norma
Operacional Bsica de Recursos Humanos do Sistema
nico de Assistncia Social. Resoluo n 269, de 13 de
dezembro de 2006. Braslia, 2006.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome .Conselho Nacional de Assistncia Social. Tipifcao
Nacional de Servios Socioassistenciais. Resoluo n 109,
de 11 de novembro de 2009. Braslia, 2009.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome .Conselho Nacional de Assistncia Social. Resoluo n
17, de 20 de junho de 2011. Braslia, 2011.
109
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome .Conselho Nacional de Assistncia Social. Resoluo
N32, de 28 DE Novembro de 2011. Braslia, 2011.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. Caderno Suas Volume 3 - Planos de Assistncia
Social: Diretrizes para Elaborao. Braslia, 2007.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. CENSO SUAS 2010. Braslia, 2010.
______.Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. Orientaes sobre a Gesto do Centro de Referncia
Especializado de Assistncia Social - CREAS - 1 Verso.
Braslia, 2011.
______.Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. Orientaes tcnicas: Centro de Referncia
Especializado de Assistncia Social CREAS. Braslia,
2011(b).
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. CENSO SUAS 2011. Braslia, 2012.
______. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. Gesto do Trabalho no mbito do Suas: Uma
contribuio necessria. Braslia, DF; Secretaria Nacional de
Assistncia Social, 2011(c).
______. Ministrio da Educao. Conselho Nacional
de Educao. Parecer CNE/CES 0062/2004 - Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduao em
Psicologia. Braslia , 2004.
______. Ministrio da Educao. Conselho Nacional de Educao.
Parecer CNE/CES 05/2011 - Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos de graduao em Psicologia. Braslia, 2011.
110
______. Secretaria Especial de Direito Humanos . Conselho
Nacional dos Direitos da Criana e do Adolescente -CONANDA.
Resoluo 113 de 2006. Braslia , 2006
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. CREPOP.
CENTRO DE ESTUDOS DE ADMINISTRAO PBLICA E
GOVERNO DA ESCOLA DE ADMINISTRAO DE EMPRESAS
DE SO PAULO DA FUNDAO GETLIO VARGAS,.
Documento Relatrio preliminar de anlise qualitativa dos
dados da pesquisa sobre a atuao dos/as psiclogos/
as no CREAS e outros servios especiais de acolhida e
atendimento domiciliar do SUAS, So Paulo, 2009
COIMBRA, Ceclia. Guardies da Ordem: uma viagem
pelas praticas psi no Brasil do milagre. Ofcina do Autor: Rio
de Janeiro , 1995
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Cdigo de tica
Profssional do Psiclogo. Braslia: CFP, 2005.
______. Resoluo do N. 011 de 1998. Braslia, 1998.
______. Resoluo do N. 01 de 2009. Braslia, 2009.
______. Resoluo do N. 08 de 2010. Braslia 2010.
______. Resoluo do N. 10 de 2010. Braslia 2010.
______. Centro de Referncias Tcnicas Em Psicologia e
Polticas Pblicas-CREPOP. Referncia tcnica para atuao
do(a) psiclogo(a) no CRAS/SUAS. Conselho Federal de
Psicologia. Braslia, 2007.
______. Centro de Referncias Tcnicas Em Psicologia
e Polticas Pblicas-CREPOP. Servio de Proteo Social
a Crianas e Adolescentes Vitimas de Violncia, Abuso
e Explorao Sexual e suas Famlias: referncias para
111
a atuao do psiclogo/Conselho Federal de Psicologia.
Braslia:CFP,2009.
______. Centro de Referncias Tcnicas Em Psicologia
e Polticas Pblicas-CREPOP. Atuao dos Psiclogos
no CREAS e outros servios especiais de acolhida e
atendimento domiciliar do SUAS. Relatrio Descritivo
Preliminar de Pesquisa, Braslia, 2010
______. Centro de Referncias Tcnicas Em Psicologia
e Polticas Pblicas-CREPOP. Centro de Estudos de
Administrao Pblica e Governo da Escola de Administrao
de Empresas de So Paulo da Fundao Getlio Vargas-CEAP/
FGV. Documento Relatrio preliminar de anlise qualitativa
dos dados da pesquisa sobre a atuao dos/as psiclogos/
as no CREAS e outros servios especiais de acolhida e
atendimento domiciliar do SUAS, So Paulo, 2009
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA /CONSELHO
FEDERAL DE SERVIO SOCIAL. Parmetro para atuao
de assistentes sociais e psiclogos (as) na Poltica de
Assistncia Social . Conselho Federal de Psicologia (CFP),
Conselho Federal de Servio Social (CFESS). Braslia, 2007.
CUNHA, Edite; CUNHA, Eleonora. Polticas pblicas sociais.
In: CARVALHO, Alysson; SALES, Ftima; GUIMARES,
Marlia; UDE, Walter. Polticas pblicas. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2003.
FILGUEIRAS, Cristina Almeida Cunha. Excluso, risco e
vulnerabilidade: desafos para a poltica social. In: Carneiro,
Carla Ladeira Bronzo; Costa, Bruno Lazzarotti Diniz. Gesto
Social: o que h de novo? Volume 1. Desafos e tendncias.
Fundao Joo pinheiro, 2004
FREIRE, Paulo. Conscientizao. So Paulo: Editora
Moraes, 1980.
112
GOIS, Cezar Wagner de Lima. Psicologia Comunitria.
Atividade e Conscincia. Fortaleza: Publicaes Instituto
Paulo Freire, 2005.
GONALVES, Maria da Graa M. Psicologia, subjetividade
e polticas pblicas So Paulo: Cortez, 2010 (Coleo
construindo o compromisso social da psicologia/coordenadora
Ana Mercs Bahia Bock).
GUERRA, Antonia Mrcia Guerra; Graciani, Graziela Santos;
Graciani, Maria Stela Santos; Nascimento, Rosangela Eugenia
Gonalves (org). Construindo Poltica com a Juventude
Pronasci/Protejo. Ncleo de Trabalho Comunitrios NTC-
PUC/SP. So Paulo, SP, Editora NTC-PUC/SP. 2011. _
ASSUNO, Rita de Cssia Oliveira. Acompanhamento
psicossocial: uma perspectiva na ao tcnico-politica. Cap.
4 Articulao e Mobilizao Social pg. 137.
MACEDO, J. et al. O psiclogo brasileiro no SUAS: quanto
somos e onde estamos. Psicologia em Estudo, 16(3), 279-
489, 2011.
MESTRINER, Maria Luiza. O estado entre a flantropia e a
assistncia social. So Paulo: Cortez Editora, 2001.
Nery, Vnia B. O trabalho de Assistentes Sociais e
Psiclogos na Poltica de Assistncia Social: saberes e
direitos em questo. Tese de Doutorado. So Paulo, PEPG
em Servio Social, PUC-SP, 2009.
OLIVEIRA, Marcos Vincius. Conferncia de abertura:
A atuao dos psiclogos no SUAS. In: Conselho Federal
de Psicologia. Seminrio: A atuao dos psiclogos no
Sistema nico de Assistncia Social. Disponvel em http://
psisuas.pol.org.br/
113
PEREIRA, Potyara Amazoneida Pereira . A assistncia
social prevista na Constituio de 1988 e operacionalizada
pela PNAS e pelo SUAS. Ser Social, Braslia, n.20, p.63-83,
jan./jun, 2007.
PICHON-RIVIRE, E. El proceso grupal. Buenos Aires:
Ediciones Nueva Visin SAIC. 1980.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.
Metodologia de Trabalho Social com Famlia na Assistncia
Social. Belo Horizonte, 2007.
RAICHELIS, Raquel. Esfera pblica e conselhos de
assistncia social caminhos da construo democrtica. 2.
ed., So Paulo: Cortez Editora, 2000.
RIZZINI, Irene. O Sculo Perdido: razes histricas das
polticas pblicas para a infncia no Brasil, Rio de Janeiro:
Universidade Santa rsula, 1997.
RIZOTTI, M. L. A. . Aliana Estratgica Entre os
Trabalhadores e os Usurios do SUAS. In: Ministrio
de Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de
Assistncia Social. (Org.). Gesto do Trabalho no mbito
do SUAS: uma contribuio necessria para ressignifcar as
ofertas e consolidar o direito socioassistencial. Brasla: Grfca
e editora Brasil, 2011, v. , p.
ROMAGNOLI, Roberta Carvalho. O SUAS e a formao
em psicologia: territrios em anlise. ECOS, 1(2), 120-132,
2012.
ROSEMBERG, Flvia. A LBA. O Projeto Casulo e a Doutrina
de Segurana Nacional. In FREITAS, Marcos Csar. (org).
Histria Social da Infncia no Brasil. So Paulo: Cortez
Editora, p.137-158, 1997.
114
SAADALLAH, Mrcia Mansur. A psicologia frente s
polticas pblicas. In: Mayorga, C. e Prado, M. (orgs)
Psicologia Social: articulando saberes e fazeres. Belo
Horizonte: Autntica Editora, 2007.
SAWAIA, B. Psicologia e Desigualdade Social: uma
refexo sobre liberdade e transformao social. Psic. & Soc.,
21(3), 364-372, 2009.
SENRA, C; GUZZO, R. (2012). Assistncia Social e
Psicologia: sobre as tenses e confitos do psiclogo no
cotidiano do servio pblico. Psicologia & Sociedade, 24(2),
293-299.
SILVEIRA, Andra; COBALCHINI, Cladia; MENZ,
Dione;VALLE, Guilherme e BARBARINI, Neuzi. Caderno de
psicologia e polticas pblicas. Curitiba: Grfca e Editora
Unifcado, 2007.
SIMIONATO, Ivanir A.(org.) et. Al. Plano de Atendimento do
Servio de Ateno Famlia. Cadernos de Servio Social.
N 20/21, p.51-90, jan.dez2002.
SPOSATI, Aldaza. A menina loas. So Paulo: Cortez
Editora, 2003.
_______, Aldaza. O primeiro ano do Sistema nico da
Assistncia Social. Servio Social & Sociedade. So Paulo,
n. 87, 2006.
TELLES, Vera Silvia. Direitos Sociais: Afnal do que se
trata? Belo Horizonte: Editora da UFMG., 1999
VASCONCELOS, E. M . Os psicolgos e sua insero
no SUAS: da sensao inicial de perda de identidade ao
reconhecimento de uma nova profssionalidade e de suas
bases tericas. In: Secretaria de Municipal de Assistncia
115
Social e Direitos Humanos - Resende RJ. (Org.). Cadernos da
Assistncia Social Volume I : Contribuies para a proteo
bsica proteo especial. Resende: Secretaria de Municipal de
Assistncia Social e Direitos Humanos - Resende RJ, 2011, v.
1, p. 33-65.
XIMENES, V. M.; PAULA, L. R. C.; BARROS, J. P. P.
Psicologia Comunitria e poltica de Assistncia Social:
dilogos sobre atuaes em comunidade. Psicologia Cincia
e Profsso, 29 (4), 672-685, 2009.
YAMAMOTO, O.; Oliveira, I. Poltica social e psicologia:
uma trajetria de 25 anos. Psicologia: teoria e pesquisa,
26(especial), 9-24, 2010.
YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e
assistncia social. 4. ed., So Paulo: Cortez Editora, 2003.
116
Você também pode gostar
- Modelo de Entrevista PsiquiátricaDocumento4 páginasModelo de Entrevista PsiquiátricaJosé Hiroshi Taniguti100% (5)
- MANUAL TÉCNICO E-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeNo EverandMANUAL TÉCNICO E-TRAP: entrevista diagnóstica para transtornos de personalidadeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Terapia cognitiva: Novos contextos e novas possibilidadesNo EverandTerapia cognitiva: Novos contextos e novas possibilidadesAinda não há avaliações
- Serviço Social e Saúde Mental: Elementos Teóricos e Práticos para ReflexãoNo EverandServiço Social e Saúde Mental: Elementos Teóricos e Práticos para ReflexãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Duas cabeças, uma sentença: A contribuição da Psicologia em sentenças judiciais envolvendo menoresNo EverandDuas cabeças, uma sentença: A contribuição da Psicologia em sentenças judiciais envolvendo menoresAinda não há avaliações
- Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde: Reflexões sobre a Prática Interdisciplinar em Municípios CearensesNo EverandGestão do Trabalho e da Educação em Saúde: Reflexões sobre a Prática Interdisciplinar em Municípios CearensesAinda não há avaliações
- Somatopsicodinamica Das Biopatias - Federico Navarro PDFDocumento52 páginasSomatopsicodinamica Das Biopatias - Federico Navarro PDFJose Pereira100% (1)
- Terapia Cognitivo-Comportamental No Tratamento Da Síndrome de TouretteDocumento27 páginasTerapia Cognitivo-Comportamental No Tratamento Da Síndrome de TouretteVida Mental100% (5)
- Referências Técnicas para Atuação de Psicologas Os Na Educação BásicaDocumento80 páginasReferências Técnicas para Atuação de Psicologas Os Na Educação BásicaSamaraPsiAinda não há avaliações
- Referências Técnicas para Atuação Dos Psicólogos Nos CapsDocumento128 páginasReferências Técnicas para Atuação Dos Psicólogos Nos CapsTanya MC100% (1)
- Miolo Tecnicas de Atuacao2Documento132 páginasMiolo Tecnicas de Atuacao2Thaís AcácioAinda não há avaliações
- Referencia Tecnica para Atuação de Psicologo No CAPSDocumento132 páginasReferencia Tecnica para Atuação de Psicologo No CAPSHoffmam100% (2)
- RT Crepop Cras 2021Documento213 páginasRT Crepop Cras 2021Bruna KarenAinda não há avaliações
- Conselho Federal de Psicologia. Referências Técnicas para Atuação Das (Os) Psicólogas (Os) em Questões Relativas A Terra PDFDocumento122 páginasConselho Federal de Psicologia. Referências Técnicas para Atuação Das (Os) Psicólogas (Os) em Questões Relativas A Terra PDFIasmine LopesAinda não há avaliações
- Referencias-Tecnicas-Para-Atuacao-De-Psicologas - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (CREPOP) .Documento72 páginasReferencias-Tecnicas-Para-Atuacao-De-Psicologas - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. (CREPOP) .JAQUELINE MARIA GARCAO SANTANA DE MORAESAinda não há avaliações
- Referencias Tecnicas para Atuacao Do (A) A No CRAS-SUASDocumento46 páginasReferencias Tecnicas para Atuacao Do (A) A No CRAS-SUASliz_ceAinda não há avaliações
- CREPOP CRAS Consulta PúblicaDocumento145 páginasCREPOP CRAS Consulta PúblicaAlejandra TourinhoAinda não há avaliações
- AF CRP Caderno Hospitalar PDF PDFDocumento76 páginasAF CRP Caderno Hospitalar PDF PDFMilenaBrasilAinda não há avaliações
- Experiências Exitosas em Psicologia e PPDocumento134 páginasExperiências Exitosas em Psicologia e PPFabiana CamposAinda não há avaliações
- Referencial Na Atuação de Psicólogos em Varas FamiliaDocumento64 páginasReferencial Na Atuação de Psicólogos em Varas FamiliaDanilo LinoAinda não há avaliações
- Cartilha Ações Da Psicologa Escolar Educacional 148 X 21 CM Versão EletrônicaDocumento28 páginasCartilha Ações Da Psicologa Escolar Educacional 148 X 21 CM Versão EletrônicaPsicologia SEMEC SeringueirasAinda não há avaliações
- Relações Raciais RT para A Atuação de PsicólogasosDocumento148 páginasRelações Raciais RT para A Atuação de PsicólogasosIbe NwofiaAinda não há avaliações
- Medidas Socioeducativas em Unidades de InternaçãoDocumento36 páginasMedidas Socioeducativas em Unidades de InternaçãosimoneAinda não há avaliações
- Referências Técnicas para Atuação Do Psicólogo Na Vara de Família - CREPOP PDFDocumento64 páginasReferências Técnicas para Atuação Do Psicólogo Na Vara de Família - CREPOP PDFlauracoelhosoaresAinda não há avaliações
- Orientações Técnicas para Atuação Da Psicóloga (O) No SuasDocumento57 páginasOrientações Técnicas para Atuação Da Psicóloga (O) No SuasFelipe BrunoAinda não há avaliações
- O Ano Temático Da: Entrevista: Artigo: Matéria ContatoDocumento36 páginasO Ano Temático Da: Entrevista: Artigo: Matéria ContatoGilmar CamargoAinda não há avaliações
- Anais Abrapso 2012 PDFDocumento120 páginasAnais Abrapso 2012 PDFHugo CristoAinda não há avaliações
- Sigapsi Hospitalar crp13Documento38 páginasSigapsi Hospitalar crp13Ricardo LohrdAinda não há avaliações
- Atribuições Da (O) Psicóloga (O) No Sistema Único de Assistência SocialDocumento21 páginasAtribuições Da (O) Psicóloga (O) No Sistema Único de Assistência SocialGleycianeAinda não há avaliações
- CFP - Atuação Do Psicologo Nas Políticas PúblicasDocumento31 páginasCFP - Atuação Do Psicologo Nas Políticas PúblicasJaqueline LeandroAinda não há avaliações
- Cartilha Avaliacao Psicologica-2309Documento70 páginasCartilha Avaliacao Psicologica-2309GeisePinheiroAinda não há avaliações
- Aula 1 - Psicologia e Políticas PúblicasDocumento11 páginasAula 1 - Psicologia e Políticas PúblicasYiffer UfrAinda não há avaliações
- Manual de Psicologia HospitalarDocumento72 páginasManual de Psicologia HospitalarDaniele Restano0% (1)
- Manual de Psicologia HospitalarDocumento72 páginasManual de Psicologia HospitalarJoAinda não há avaliações
- Atuação Da Psicologia No SusDocumento7 páginasAtuação Da Psicologia No Susalyssaherondale3Ainda não há avaliações
- II MOSTRA VIRTUAL DE Praticas Da PsicologiaDocumento78 páginasII MOSTRA VIRTUAL DE Praticas Da PsicologiaDanielly MonteiroAinda não há avaliações
- Atuação Dos Psicólogos No CREAS e Outros Serviços Especiais de Acolhida e Atendimento Domiciliar Do SUASDocumento21 páginasAtuação Dos Psicólogos No CREAS e Outros Serviços Especiais de Acolhida e Atendimento Domiciliar Do SUASGeorgia FeijãoAinda não há avaliações
- Cartilha Avaliacao Psicologica-2309Documento74 páginasCartilha Avaliacao Psicologica-2309luziapbaAinda não há avaliações
- Mobilidade Mobilidade: Urbana UrbanaDocumento36 páginasMobilidade Mobilidade: Urbana UrbanaGilmar CamargoAinda não há avaliações
- Contato 148 Digital VF OtimizadoDocumento36 páginasContato 148 Digital VF OtimizadoGuilhermeAinda não há avaliações
- CRP Santa Catarina 2019Documento96 páginasCRP Santa Catarina 2019Karen FerreiraAinda não há avaliações
- 03 EducacaoBASICA - WebDocumento70 páginas03 EducacaoBASICA - WebCarolina PerdigãoAinda não há avaliações
- 3 O Ensino Da Avaliação Psicológica - Desafios Da Avaliação Psicológica Na Contemporaneidade p.129-156Documento33 páginas3 O Ensino Da Avaliação Psicológica - Desafios Da Avaliação Psicológica Na Contemporaneidade p.129-156Leo FinelliAinda não há avaliações
- AF CRP Caderno AvaliacaoPsicologica PDFDocumento85 páginasAF CRP Caderno AvaliacaoPsicologica PDFSonnyAinda não há avaliações
- Drogas: E Eu Com Isso? Na Perspectiva de um Centro Regional de ReferênciaNo EverandDrogas: E Eu Com Isso? Na Perspectiva de um Centro Regional de ReferênciaAinda não há avaliações
- Referências Técnicas para Atuação de PsiDocumento158 páginasReferências Técnicas para Atuação de PsiBruno NascimentoAinda não há avaliações
- 885.3 REFERÊNCIAS TÉCNICAS IST - AIDS - Web4Documento151 páginas885.3 REFERÊNCIAS TÉCNICAS IST - AIDS - Web4maria luizaAinda não há avaliações
- Revista Contato 149 VFDocumento36 páginasRevista Contato 149 VFluizgeremiasAinda não há avaliações
- Livro Psicologia EducacaoDocumento202 páginasLivro Psicologia EducacaoAlan Anderson SilvaAinda não há avaliações
- Revista ContatoDocumento36 páginasRevista ContatoIvan B. CamargoAinda não há avaliações
- Caderno de Orientações Do CRP SPDocumento40 páginasCaderno de Orientações Do CRP SPGabriele CostaAinda não há avaliações
- Da Psicologia Social à Psicologia do Desenvolvimento: Pesquisas e temáticas no século XXINo EverandDa Psicologia Social à Psicologia do Desenvolvimento: Pesquisas e temáticas no século XXIAinda não há avaliações
- Psicologia em Saúde, Educação e Assistência SocialNo EverandPsicologia em Saúde, Educação e Assistência SocialAinda não há avaliações
- Contribuições dos serviços-escola de Psicologia no Atendimento à ComunidadeNo EverandContribuições dos serviços-escola de Psicologia no Atendimento à ComunidadeAinda não há avaliações
- O Serviço Social e a psicologia no judiciário: Construindo saberes, conquistando direitosNo EverandO Serviço Social e a psicologia no judiciário: Construindo saberes, conquistando direitosNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Atenção À Saúde Mental Nas PandemiasNo EverandAtenção À Saúde Mental Nas PandemiasAinda não há avaliações
- Psicologia organizacional e do trabalho: Perspectivas teórico-práticasNo EverandPsicologia organizacional e do trabalho: Perspectivas teórico-práticasAinda não há avaliações
- Saúde e psicologia: Dilemas e desafios da prática na atualidadeNo EverandSaúde e psicologia: Dilemas e desafios da prática na atualidadeAinda não há avaliações
- Atenção psicossocial em saúde mental: temas para (trans)formaçãoNo EverandAtenção psicossocial em saúde mental: temas para (trans)formaçãoAinda não há avaliações
- E Book Suicidio.Documento11 páginasE Book Suicidio.AnaClPMAinda não há avaliações
- O Homem Dos Lobos (Parte 1) (1) Estudo de J A MillerDocumento57 páginasO Homem Dos Lobos (Parte 1) (1) Estudo de J A MillerAntonio Filpi CoimbraAinda não há avaliações
- Estudos Normativos para Idosos Versao Reduzida Do Token TestDocumento5 páginasEstudos Normativos para Idosos Versao Reduzida Do Token TestManuella BragaAinda não há avaliações
- Música e EmoçãoDocumento43 páginasMúsica e EmoçãoFrancisco JoãoAinda não há avaliações
- Quadro de TirocínioDocumento21 páginasQuadro de TirocínioLívia ChavesAinda não há avaliações
- 1235984227Documento25 páginas1235984227Jhon Alisson SouzaAinda não há avaliações
- Julian de Ajuriaguerra - Movimento Espontâneos PDFDocumento13 páginasJulian de Ajuriaguerra - Movimento Espontâneos PDFdaniel_avila4251Ainda não há avaliações
- Questionário de AssertividadeDocumento3 páginasQuestionário de AssertividadeSamara ChimadaAinda não há avaliações
- As Sete Escolas Da Psicanálise: Profa: Samira MahmudDocumento73 páginasAs Sete Escolas Da Psicanálise: Profa: Samira MahmudGabriel ZueraAinda não há avaliações
- Auditoria ComportamentalDocumento9 páginasAuditoria ComportamentalCanil Rina Suri AmaryllisAinda não há avaliações
- Emoção e RepressãoDocumento2 páginasEmoção e RepressãoAbelhinhaMelAinda não há avaliações
- Psicologia Da Educacao Livro TextoDocumento69 páginasPsicologia Da Educacao Livro TextoAna Lígia Ribeiro GuerraAinda não há avaliações
- Livro Educação Infantil Práticas Educativas Voltadas A Bebês e CriançasDocumento133 páginasLivro Educação Infantil Práticas Educativas Voltadas A Bebês e CriançasCristiane SilvaAinda não há avaliações
- Escalas Beck Aula Laboratório 1Documento28 páginasEscalas Beck Aula Laboratório 1decomoraes4275100% (1)
- M3 - Mapa de Risco e Qualidade de Vida No TrabalhoDocumento19 páginasM3 - Mapa de Risco e Qualidade de Vida No TrabalhoIsaque CohenAinda não há avaliações
- Grupos FocaisDocumento13 páginasGrupos FocaisCaio FilipeAinda não há avaliações
- Rowland Capitulo 3Documento32 páginasRowland Capitulo 3ferragonioAinda não há avaliações
- Alteração - Psicodesafio Da AutoestimaDocumento8 páginasAlteração - Psicodesafio Da AutoestimaCamilla SilvaAinda não há avaliações
- 2012 LiviaMilhomemJanuarioDocumento248 páginas2012 LiviaMilhomemJanuarioMarília Sobral BenjaminAinda não há avaliações
- Possibilidades Da Arteterapia Na Ajuda A Dependentes Químicos PDFDocumento51 páginasPossibilidades Da Arteterapia Na Ajuda A Dependentes Químicos PDFMonique JúdiceAinda não há avaliações
- Teoria Geral Negociacao PDFDocumento37 páginasTeoria Geral Negociacao PDFgrangerlyAinda não há avaliações
- Resumo Gestalt e Suas LeisDocumento7 páginasResumo Gestalt e Suas LeisVanderlei PrestesAinda não há avaliações
- 2013 JORGE LARROSA O Professor Ensaísta - RFM EditoresDocumento11 páginas2013 JORGE LARROSA O Professor Ensaísta - RFM EditoresVilma BricioAinda não há avaliações
- Percepção Das CriançasDocumento8 páginasPercepção Das Criançasdiogo.nunessz27Ainda não há avaliações
- A Importância Do Registro de Atividades e Do Desenvolvimento Na Educação Infantil - Instituto NeuroSaberDocumento6 páginasA Importância Do Registro de Atividades e Do Desenvolvimento Na Educação Infantil - Instituto NeuroSaberThalita Melo De Souza MedeirosAinda não há avaliações
- Psicologia Organizacional 3edDocumento110 páginasPsicologia Organizacional 3edfelipefrog85100% (1)
- Manual de Oficina de Expressão DramáticaDocumento13 páginasManual de Oficina de Expressão DramáticaMimi OliveiraAinda não há avaliações