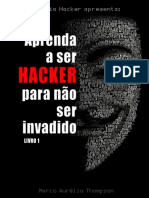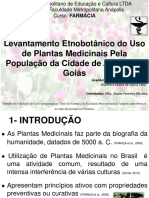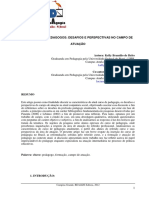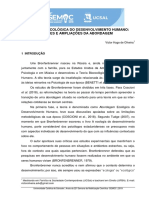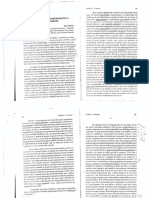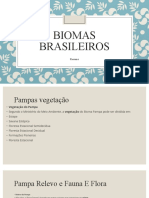Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Javier Taks
Javier Taks
Enviado por
gracielafrDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Javier Taks
Javier Taks
Enviado por
gracielafrDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A rel ao entre soci edade e mei o ambi ente vem se afi rmando como uma
das pri nci pai s preocupaes, tanto no campo das pol ti cas pbl i cas quan-
to no da produo de conheci mento. A antropol ogi a, tal como se expressa
nas revi stas especi al i zadas e tambm na consti tui o de grupos de pes-
qui sa que pretendem i nfl ui r di retamente sobre as pol ti cas e organi zaes
da soci edade ci vi l , no permaneceu al hei a a esse movi mento (Li ttl e 1999).
O que no de surpreeender, j que, por seus antecedentes emp ri cos e
metodol gi cos, el a est entre as ci nci as soci ai s mai s bem si tuadas para
entender a questo ambi ental , abordando-a de um ponto de vi sta gl obal e
i nterdi sci pl i nar. A antropol ogi a nasceu, afi nal , perguntando-se sobre a
transformao antrpi ca que di ferentes soci edades produzi ram em seu
ambi ente, sobre a conti nui dade e di ferena da espci e humana em rel a-
o aos demai s seres vi vos, e sobre o l ugar da consci nci a na evol uo so-
ci al . Al m di sso, o advento da di sci pl i na no contexto col oni al , l i gado s
pol ti cas de control e e mudana soci al (Lecl erc 1973; Kuper 1973), fazem-
na herdei ra de uma vocao de anl i se e i nterveno (Brosi us 1999).
Este arti go destaca duas reas em que a antropol ogi a pode contri -
bui r para a compreenso da probl emti ca ambi ental e de suas pol ti cas.
A pri mei ra informativa, e nel a seu papel desmi sti fi car os preconcei tos
sobre a rel ao das soci edades com seus ambi entes naturai s precon-
cei tos tai s como os mi tos da exi stnci a de um v ncul o harmoni oso entre
soci edade e natureza nos tempos pr-i ndustri ai s, o da tecnol ogi a moder-
na como causa l ti ma da cri se ecol gi ca, ou o do papel sacrossanto da
ci nci a como gui a em di reo sustentabi l i dade. A segunda rea me-
todolgica, e concerne questo de como abordar os probl emas ambi en-
tai s de modo a cami nhar rumo a soci edades mai s sustentvei s. Est cl aro
que, em qual quer dos casos, os mri tos no so excl usi vos da antropol o-
gi a, e que esta procede em col aborao com mui tas outras di sci pl i nas.
UM OLHAR ANTROPOLGICO
SOBRE A QUESTO AMBIENTAL
Gui l l ermo Fol adori e Javi er Tak s
MANA 10(2):323-348, 2004
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 323
Contra o fundamentalismo: entre romnticos ecolgicos
e cornucopianos
O carter compl exo, gl obal e i nterdi sci pl i nar da probl emti ca ambi ental
tem gerado uma gama de posi es que nem sempre correspondem s ex-
pectati vas pol ti cas. H grupos, tanto de esquerda quanto de di rei ta, que
tomam as soci edades si mpl es como i deal de equi l bri o ecol gi co; paral e-
l amente, h grupos de di rei ta e tambm de esquerda que rechaam as
l ei s da ecol ogi a como gui a para o comportamento humano (Fol adori
2000). Vri as aparentes i ncoernci as entre posi o pol ti ca e proposta
ambi ental devem-se compl exi dade do tema, e no vo desaparecer.
Outras deri vam de argumentos de forte contedo m ti co e fundamenta-
l i sta que refl etem, em parte, fal ta de i nformao sobre o assunto, e a an-
tropol ogi a tem um papel i mportante na desmi ti fi cao de mui tos desses
argumentos. Uti l i zaremos as segui ntes afi rmaes como exempl o:
1) As sociedades primitivas estabeleciam uma relao harmnica
com a natureza. freqente encontrar afi rmaes como essa, seja em
textos de di vul gao, seja em propostas pol ti cas. A i magem de soci eda-
des pr-i ndustri ai s ou pr-capi tal i stas vi vendo em harmoni a com a natu-
reza tem o apel o de, presumi damente, oferecer exempl os reai s de convi -
vnci a equi l i brada com esta. Trata-se, todavi a, de uma afi rmao duvi -
dosa, no apenas por sua general i dade, ao consi derar como i guai s todas
as soci edades pr-i ndustri ai s, como tambm por seu romanti smo, que su-
gere possu rem as di tas soci edades um grau de consci nci a e ati vi dade
pl ani fi cadas di f ci l de i magi nar mesmo no caso de grupos pequenos.
Reconhece-se, hoje, que as popul aes que, h cerca de 12 mi l anos,
cruzaram a ponte de Beri ngi a do nordeste asi ti co para o Al asca, par-
ti ci param na exti no de mamutes, mastodontes e outros grandes mam -
feros, medi da que avanavam rumo ao sul do conti nente. A conheci da
tese de Marti n (1984), sobre o papel dos caadores pal eol ti cos na exti n-
o de ani mai s em conti nentes de col oni zao tardi a, forneceu uma pro-
va dos efei tos di retos e i ndi retos que soci edades com tecnol ogi as si m-
pl es so capazes de provocar a l ongo prazo sobre o mei o ambi ente
ai nda que outras vari vei s, como mudanas cl i mti cas, possam tambm
i ntervi r (Haynes 2002).
A responsabi l i dade de caadores e col etores na exti no da mega-
fauna nos conti nentes de col oni zao tardi a se repete no caso das gran-
des aves, nas i l has (Steadman e Marti n 2003; Anderson 2002; Leacky e
Lewi n 1998). A fragmentao do habitat, resul tante da derrubada das
matas, a caa i ndi scri mi nada e a i ntroduo de espci es predadoras ex-
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 324
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 324
ti cas so causas que no di ferem, qual i tati vamente, daquel as que, hoje,
so i denti fi cadas como responsvei s pel a exti no de espci es. Leacky e
Lewi n concl uem:
No so necessri as mqui nas de desmatamento maci o para provocar gran-
des danos ambi entai s. As soci edades com tecnol ogi a pri mi ti va estabel ece-
ram, no passado recente, uma marca i nsuperada nesse senti do, j que de-
sencadearam o que, nas pal avras de Storrs Ol son, consi sti u em umas das
mai s rpi das e graves catstrofes bi ol gi cas da hi stri a da Terra (Leacky e
Lewi n 1998:192).
A destrui o da megafauna apenas a mani festao mai s vi s vel das
transformaes que, desde os homi n deos que antecederam o Homo sa-
piens, vm sendo i mpostas aos ecossi stemas.
Tambm em um n vel orgni co menor regi straram-se conseqn-
ci as si gni fi cati vas. Em suas ati vi dades de col eta e de caa, os homi n deos
adqui ri ram parasi tas prpri os aos pri matas e outros mi crorgani smos, que
transformaram os ecossi stemas. A domesti cao de pl antas e ani mai s, h
aproxi madamente 10 mi l anos, i mpl i cou al teraes radi cai s, com o se-
dentari smo, novas di etas, concentraes popul aci onai s e de l i xo, de ani -
mai s domsti cos e de pl antas, que afetaram radi cal mente a coevol uo
dos mi crorgani smos. poss vel que mui tas i nfeces contemporneas
(tubercul ose, antraz, brucel ose etc.) tenham sua ori gem na domesti cao
de ani mai s, no contato di reto com el es e no consumo de produtos del es
deri vados, como l ei te, pel es e couros (Barret et alii 1998). As epi demi as
de var ol a entre os anos 251 e 266 d.C., a peste bubni ca nos scul os XIII
e XIV, e as catstrofes provocadas pel as epi demi as na Amri ca espanho-
l a do scul o XVI so exempl os el oqentes de uma rel ao pouco harm-
ni ca com a natureza externa e i nterna ao ser humano, ai nda que estes re-
sul tados tenham si do i ndi retos e no i ntenci onai s. Inhorn (1990) revi sa a
l i teratura da antropol ogi a mdi ca dedi cada s doenas i nfecci osas, reve-
l ando suas contri bui es e ressal tando exempl os de comportamentos que
favorecem ou l i mi tam as epi demi as e destacando o papel das doenas no
processo de sel eo natural .
Na di scusso sobre as ati tudes e rel aes das soci edades no-oci -
dentai s com o mei o ambi ente, a antropol ogi a tem se deti do no estudo das
transformaes materi ai s e se ocupado da anl i se da concepo que os
povos fazem da natureza exteri or
1
. Nesse processo, foi necessri o ques-
ti onar a prpri a teori a da rel ao entre soci edade e natureza. Abando-
nando-se o ponto de vi sta etnocntri co, que consi derava a natureza co-
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 325
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 325
mo a ordem objeti va a ser descri ta segundo as ci nci as naturai s, e
qual cada povo atri bu a si gni fi cados cul turai s di versos segundo um mo-
del o mental i ntra- ou supraorgni co , passou-se a uma ati tude, no m -
ni mo, cui dadosa no tratamento do dual i smo natureza/cul tura, de ori gem
cartesi ana (El l en 1996), tendo-se chegado at mesmo a vi sar sua total di s-
sol uo (I ngol d 2000a). O foco da ateno est centrado na anl i se das
i nter-rel aes e medi aes entre soci oprti cas materi ai s e construo
i deol gi ca. Embora as concl uses sejam ai nda provi sri as, h consenso
de que as i deol ogi as organi ci stas, prpri as dos grupos caadores-col eto-
res, no tm necessari amente como correl atos formas que permi tam a re-
produo a l ongo prazo de processos bi of si cos (Escobar 1999; Headl and
1997). E, como assi nal a Mi l ton (1996), h soci edades no-i ndustri ai s, es-
tudadas por antropl ogos, como os Nayaka da ndi a, que no reconhe-
cem a responsabi l i dade humana na proteo do ambi ente, poi s i sso os
obri gari a a rever a i di as de que a natureza quem cui da del es.
Em todo caso, se al guma concl uso geral pode ser ti rada, a de que
a natureza no pode ser consi derada como al go externo, a que a soci eda-
de humana se adapta, mas si m em um entorno de coevol uo, no qual
cada ati vi dade humana i mpl i ca a emergnci a de di nmi cas prpri as e
i ndependentes na natureza externa, ao mesmo tempo que, em um efei to-
bumerangue, produz i mpactos na natureza soci al e na bi ol ogi a das po-
pul aes humanas. No i nteri or desse compl exo de foras, no poss vel
esperar que as ati vi dades das soci edades no-i ndustri ai s sejam adapta-
ti vas (no senti do de tender ao equi l bri o), enquanto que a soci edade i n-
dustri al moderna seri a no-adaptati va .
A revi tal i zao contempornea do mi to da sabedori a ambi ental pri -
mi ti va tem vri as expl i caes (Mi l ton 1996; 1997). Pri mei ro, uma fal sa
i denti fi cao entre as prti cas econmi cas e ri tuai s de grupos detentores
de tecnol ogi as de bai xo i mpacto ambi ental , de um l ado, e as tcni cas apa-
rentemente si mi l ares descri tas pel os modernos teri cos da agroecol ogi a,
de outro. Isto consti tui uma bandei ra pol ti ca de grande apel o em soci e-
dades com uma popul ao rural si gni fi cati va, tendendo a justi fi car as mo-
dernas propostas conservaci oni stas ou ecol ogi stas de gesto ambi ental ,
que i ncorporam popul aes nati vas. De fato, toda soci edade possui de-
termi nados conheci mentos e prti cas que conduzem reproduo da na-
tureza externa, ou ao cui dado com el a, sem por i sso excl ui r outros que
acarretam efei tos depredatri os ou degradantes sobre os ecossi stemas.
Segundo, a cr ti ca ao i ndustri al i smo como causa l ti ma da cri se ambi en-
tal tem necessi dade da al ternati va que as soci edades pri mi ti vas apa-
rentemente oferecem: sati sfao de necessi dades bsi cas acopl ada a si s-
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 326
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 326
temas tecnol gi cos el ementares e ao uso de fontes energti cas renov-
vei s. Tercei ro, os prpri os nati vos tm vi sto, na di vul gao de sua i ma-
gem como protetores da terra , uma ferramenta pol ti ca e econmi ca
para obter o apoi o e fi nanci amento de grupos ambi ental i stas de presso
em n vel i nternaci onal , contra a margi nal i zao e opresso por parte dos
governos e burocraci as naci onai s.
Conhecer a real i dade contradi tri a dos supostos guardi es da na-
tureza (povos pri mi ti vos ) causa confuso a mui tos grupos ambi ental i s-
tas bem i ntenci onados, ou os l eva recusa i rrefl eti da das evi dnci as. To-
davi a, h que enfati zar a ambi gi dade da prti ca soci al humana, como
subl i nha El l en para o caso dos Si oux: a espi ri tual i dade ambi ental dos
Si oux anda de mos dadas com uma di eta vorazmente carn vora, da mes-
ma manei ra que o vegetari ani smo hi ndu encontrado em uma soci eda-
de de extrema pobreza e desequi l bri o ambi ental (El l en 1986:10). E con-
cl ui : nenhuma cul tura humana detm o monopl i o da sabedori a am-
bi ental , e [] parece i mprovvel que possamos um di a escapar de al guns
dos mai s profundos di l emas da vi da soci al humana (El l en 1986:10).
Cri ti car o pensamento ambi ental romnti co no si gni fi ca ser i ndi fe-
rente s prti cas tradi ci onai s que, freqentemente, so consi deradas i ne-
fi ci entes pel a ci nci a hegemni ca. Um exempl o el oqente o reconheci -
mento de que a propri edade col eti va dos recursos naturai s no conduz
necessari amente, ao contrri o do que sugere a hi ptese de Hardi n (1989)
sobre a tragdi a dos espaos col eti vos , a uma ati tude negl i gente ou
depredatri a sobre o mei o ambi ente. Segundo Hardi n, os espaos col eti -
vos so depredados porque, no sendo propri edade pri vada, no so do
i nteresse de ni ngum. A conseqnci a i mpl ci ta que o probl ema so-
l uci onado estendendo-se s reas comuns os di rei tos de propri edade pri -
vada. A confuso concei tual provm da vi so i deol gi ca de Hardi n, para
quem o si stema capi tal i sta o ni co exi stente, e o ni co poss vel . No i n-
teri or de um regi me de propri edade pri vada, os espaos pbl i cos, comuns
ou col eti vos tendem a ser uti l i zados para fi ns pri vados, j que tal a l -
gi ca das rel aes de produo domi nantes. Mas, quando estamos di ante
de recursos apropri ados de forma col eti va, que no se regem total mente
por rel aes de propri edade pri vada, ou esto menos i ntegrados ao mer-
cado, os recursos col eti vos no necessari amente se degradam, como de-
monstram mui tos estudos recentes (Ostrom 1990; Berk es e Fol k e 1998;
Orl ove 2002). Este outro exempl o da fal si dade da contradi o entre so-
ci edade capi tal i sta e no-capi tal i sta. Para Hardi n e outros, exi stem ape-
nas doi s pl os, o capi tal i smo e o resto. Mas essa di cotomi a no se susten-
ta. Exi stem ml ti pl as formas pr- ou no-capi tal i stas de organi zao so-
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 327
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 327
ci al , que estabel ecem regul aes di ferentes e contradi tri as com a natu-
reza externa (Gl acken 1996; El l en 1999; Fol adori 2001).
Al guns i nformes das Naes Uni das reconhecem, hoje, que soci eda-
des agr col as menos i ncorporadas ao mercado exi bem mai or equi l bri o
ambi ental , e que sua i ntegrao ao mercado seri a causa de um i ncremen-
to da degradao do ambi ente (Ambl er 1999).
Segundo I ngerson (1994, 1997), at mesmo os estudantes de antro-
pol ogi a se surpreendem ao reconhecer o carter contradi tri o das soci e-
dades menos compl exas em suas rel aes com o mei o ambi ente. Por um
l ado, aquel es que ti nham no mi to do bom sel vagem uma ferramenta
de esperana frente degradao ecol gi ca contempornea sentem-se
frustrados. Por outro l ado, aquel es que supunham que a degradao am-
bi ental era uma prerrogati va da soci edade i ndustri al ou capi tal i sta vem-
se sem al ternati va, j que essa degradao se afi gurari a como um com-
portamento cul tural uni versal . Ingerson concl ui que o mai or desafi o para
a antropol ogi a ecol gi ca de corte hi stri co e comparati vo ensi nar que
[] uma rel ao beni gna de l ongo prazo entre os seres humanos e a na-
tureza [] pode ser al go sem precedentes sem que, por i sso, seja neces-
sari amente i mposs vel (Ingerson 1997:616).
A desmi sti fi cao da sabedori a ecol gi ca pri mi ti va no excl ui que
a antropol ogi a soci al tenha gerado contri bui es sobre o al cance e sta-
tus dos conheci mentos e tcni cas tradi ci onai s de gesto de recursos
(Descol a e Pl sson 1996:12), resgatando assi m o conheci mento prti co
dos di versos povos e a necessi dade de parti ci pao das popul aes l ocai s
na produo de uma nova s ntese, l ado a l ado com a ci nci a gerada nos
l aboratri os e centros de i nvesti gao (Ri chards 1985; Tol edo 1992). Esta
arti cul ao de saberes no deve ser entendi da em termos de anexao
de uma ci nci a nati va para compl ementar a ci nci a oci dental , mas como
estabel eci mento de um ecl eti smo i novador (El l en e Harri s 2000).
A antropol ogi a, de certa manei ra, pretende oferecer um ol har sobre
a rel ao soci edade-natureza, que no cai a nem no romanti smo ambi en-
tal i sta daquel es que vem, em al gumas soci edades pr-capi tal i stas, um
model o de sustentabi l i dade ambi ental (e s vezes soci al ), nem na apol o-
gi a moderni sta do capi tal i smo, baseada na apl i cao da ci nci a e da tec-
nol ogi a hegemni cas.
2) A crise ambiental um resultado do grau de desenvolvimento tc-
nico. Al guns movi mentos ambi ental i stas contemporneos e mui tos auto-
res ecodesenvol vi menti stas centram sua cr ti ca da cri se ambi ental no de-
senvol vi mento tecnol gi co e i ndustri al
2
. Partem do suposto, mui tas vezes
no expl i ci tado, de uma evol uo autnoma da tcni ca e da tecnol ogi a,
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 328
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 328
uma evol uo l i near desde i nstrumentos si mpl es at mqui nas compl e-
xas, paral el a al i enao dos homens com respei to aos i nstrumentos de
trabal ho e ao mei o ambi ente o que Pfaffenberger chama a vi so pa-
dro da tecnol ogi a (1992).
Di ante da i di a da crescente al i enao da humani dade com rel ao
aos i nstrumentos que cri a, a antropol ogi a contempornea questi ona a su-
posta autonomi a da tecnol ogi a frente s rel aes soci ai s de produo, s
deci ses pol ti cas e ao papel do conheci mento. Os estudos mai s recentes
demonstram o i ntri ncado v ncul o entre rel aes de produo e desenvol -
vi mento da tcni ca e da tecnol ogi a de qual quer poca (Guyer 1988; Pfaf-
fenberger 1988, 1992; Hornborg 1992). Guyer, por exempl o, escreve:
Tecnol ogi as so necessari amente soci ai s e pol ti cas na medi da em que
i mpl i cam [] formas de organi zao e domi nao [] e so necessari a-
mente i mbu das de si gni fi cados cul turai s por mei o de associ aes si mb-
l i cas (Guyer 1988:254). Neste senti do, rel ati vi za-se a grande di vi so en-
tre as soci edades pr-modernas e as i ndustri al i zadas.
Embora ni ngum seja tol o para negar as si gni fi cati vas conseqnci as do ad-
vento das mqui nas, os si stemas soci otcni cos pr-i ndustri ai s eram el es mes-
mos compl exos e i mpl i cavam domi nao e expl orao econmi cas []. Um
si stema soci otcni co pr-i ndustri al uni fi ca recursos materi ai s, ri tuai s e so-
ci ai s em uma estratgi a de conjunto para a reproduo soci al . No curso da
parti ci pao em um tal si stema, mui tos i ndi v duos, seno a mai ori a, vem-se
desempenhando papi s dependentes e sendo expl orados. A rei fi cao no
de modo al gum restri ta tecnol ogi a i ndustri al (Pfaffenberger 1992:509).
A fonte da al i enao no estari a na tcni ca, mas nas rel aes soci ai s
de produo (MacKenzi e 1984). Tanto no caso i ndustri al como no pr-i n-
dustri al , a aval i ao dos i mpactos da mudana tecnol gi ca exi ge um es-
tudo do contexto, no qual as pessoas sejam di sti ngui das na qual i dade de
produtores ou de usuri os, mai s do que vi stas excl usi vamente como v ti -
mas consumi stas da tecnol ogi a transferi da.
I ngol d (1986), referi ndo-se s soci edades de caadores e col etores,
mostra de que manei ra a forma de apropri ao do espao como natureza
externa soci edade condi ci ona a forma de di stri bui o da produo. Em
mui tas dessas soci edades, os i ndi v duos no detm mai s do que a cust-
di a de uma posse col eti va. Essa rel ao de apropri ao col eti va do espao
pel os caadores e col etores contrasta cl aramente com a propri edade pri -
vada da soci edade capi tal i sta. Suponhamos, em um exempl o hi potti co, a
caa de um ani mal por parte de um i ndi v duo pertencente a uma soci eda-
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 329
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 329
de de caadores e col etores. Uma vez capturada, com tcni cas de arco e
fl echa, a presa deve ser di stri bu da entre os membros do bando. A repar-
ti o do ani mal no ser, possi vel mente, arbi trri a, mas deve obedecer a
determi nadas pautas cul turai s, como o assi nal am as mai s di versas etno-
grafi as. Agora, i magi nemos a caa do mesmo ani mal , real i zada por um
excntri co renti sta, que vi ve de apl i caes na bol sa de Londres, mas que,
em seus momentos de ci o, tem como hobby a caa, em sua propri edade,
com arco e fl echa semel hantes ao do caador anteri or. El e tambm tem
sucesso em sua ati vi dade, mas, no seu caso, o ani mal por vezes armaze-
nado no congel ador, outras vezes dado como comi da aos ces, e outras
ai nda servi do em banquetes para ami gos e convi dados. Em termos tcni -
cos, ambas as caas so si mi l ares: um caador, um mesmo i nstrumento
(arco e fl echa), um mesmo resul tado (por exempl o, carne de javal i ).
A di stri bui o do produto, todavi a, ser di sti nta. Em um caso, el e
reparti do conforme regras; em outro, o caador faz o que bem deseja. A
parti r apenas das rel aes vi s vei s e da tcni ca uti l i zada, nada se poder
saber sobre i sso. Mas exi stem rel aes i nvi s vei s, rel aes soci ai s, que con-
di ci onam a produo a caa e expl i cam a di stri bui o. No pri mei ro
caso, a natureza aparece como uma extenso do corpo do bando. No i nte-
ri or dos l i mi tes em que este se move, a natureza pertence a el e. Trata-se
em termos modernos de uma posse vi rtual , mas que garante que o java-
l i , mesmo em l i berdade, pertena ao grupo. Quando um de seus i ntegran-
tes caa o ani mal , deve, forosamente, di stri bui r o produto entre os deten-
tores dessa posse. Em contraste, o moderno yuppie caa em sua propri e-
dade pri vada, o javal i l he pertence e el e faz com el e o que qui ser.
Esse exempl o revel a que qual quer processo de trabal ho (a caa e a
col eta tambm so formas de trabal ho) condi ci onado por uma pr-di s-
tri bui o dos mei os e objetos de trabal ho. Em nossos exempl os: a apro-
pri ao col eti va da natureza por um l ado, a propri edade pri vada do sol o
por outro. Dessa manei ra, em qual quer momento, uma soci edade no
apenas produz segundo o n vel de desenvol vi mento tecnol gi co que her-
dou das geraes passadas (e que eventual mente pde i ncrementar), mas
tambm o faz segundo a forma de di stri bui o dos mei os e objetos de tra-
bal ho. As rel aes de produo condi ci onam e determi nam as rel aes
tcni cas, fazendo com que, s vezes, uma mesma rel ao tcni ca seja re-
gi da por di ferentes rel aes soci ai s. E estas rel aes soci ai s se i ncorpo-
ram prpri a tcni ca, expressando-se em determi nadas rel aes de po-
der (Wi nner 1985).
3) Os problemas ambientais so objetivos e devem ser assumidos
cientificamente. Antes de meados da dcada de 80, os probl emas am-
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 330
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 330
bi entai s eram naci onai s, regi onai s ou l ocai s; eram di scretos e se rel aci o-
navam contami nao dos ri os, ao desmatamento, pol ui o ambi ental
urbana, depredao de espci es ani mai s e vegetai s, aos efei tos de pro-
dutos qu mi cos sobre a sade, etc. A parti r de meados dos anos 80, a mu-
dana cl i mti ca tornou-se o denomi nador comum de toda a probl emti ca
ambi ental , e o aqueci mento gl obal , o ru pri nci pal (Sarewi tz e Pi el k e
2001). Tudo est l i gado ao cl i ma, e a reduo do aqueci mento gl obal pas-
sou a ser o objeti vo da pol ti ca ambi ental i nternaci onal . De modo acr ti -
co, mui tas organi zaes e grupos ecol ogi stas e ambi ental i stas acei taram
consi derar o aqueci mento gl obal como o responsvel pel a cri se ambi en-
tal (Lenoi r 1995). A mudana cl i mti ca representa a rel ao de cada as-
pecto com o todo. Inci de sobre a bi odi versi dade, tem i mpacto sobre a si -
tuao das fl orestas e sofre os efei tos del a, ati nge a ati vi dade produti va
humana, est conectada a mui tas doenas i nfecci osas, etc. A mudana
cl i mti ca uni fi ca os di versos probl emas ambi entai s. Refl ete, assi m, per-
fei tamente aquel a i di a da i nter-rel ao entre os fenmenos e os ci cl os
de vi da, to i mportante na ecol ogi a. Ademai s, ni ngum fi ca al hei o s mu-
danas cl i mti cas. El as aparecem como uma preocupao de todos, uni -
fi cam i deol ogi camente a espci e humana. Segui ndo os precei tos da eco-
l ogi a, a mudana cl i mti ca representa um desafi o para a soci edade hu-
mana como espci e. Por fi m, a mudana cl i mti ca estudada ci enti fi ca-
mente. Apenas um grupo sel eto de ci enti stas, com um sofi sti cado equi -
pamento tcni co, pode real i zar medi es e moni toramentos atmosfri cos,
al ertando-nos para o fato de que, e o grau em que, o mundo est se aque-
cendo, e i ndi cando a i nfl unci a desse aqueci mento sobre cada regi o do
pl aneta. A mudana cl i mti ca del egou ci nci a o papel de aval i ar seus
i mpactos (Tommasi no e Fol adori 2001).
Isso cri ou uma grande el i ti zao e tecni ci zao do probl ema ambi en-
tal . Ni ngum pode senti r o aqueci mento gl obal : quem determi na o grau, a
ampl i tude e os efei tos da probl emti ca ambi ental so agora os ci enti stas
3
.
A antropol ogi a comparati va al erta para o fato de que sempre exi sti -
ram formas i nsti tuci onal i zadas de apropri ao el i ti sta do conheci mento
sobre a natureza externa. O conheci mento i nd gena , que em pri nc pi o
parece o mai s democrti co, el e mesmo soci al mente di ferenci ado, pel o
menos segundo o sexo e a i dade (El l en e Harri s 2000). Os magos ou xa-
ms nas soci edades de caadores, os drui das na soci edade agropastori l
descentral i zada dos cel tas (Cruml ey 1994), os governantes e sacerdotes
nas soci edades agrri as baseadas na captao de tri buto, ou a Igreja Ca-
tl i ca na soci edade feudal , reservaram a si prpri os o saber ambi ental de
sua poca e, em geral , l ograram objeti v-l o, separando-o do saber coti -
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 331
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 331
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 332
di ano. Mai s ai nda, a forma de conceber a natureza, e os probl emas que a
natureza i mpe, no podem ser i sol ados dos agentes que cri am essa cons-
ci nci a defi ni ti vamente, no se trata si mpl esmente da soci edade ,
mas de estratos e grupos determi nados. O concei to de natureza, que ex-
cl ui as rel aes entre os seres humanos, faz com que os probl emas am-
bi entai s apaream como comuns espci e humana, sem consi derar que
as prpri as rel aes e contradi es no i nteri or da soci edade humana so,
el as tambm, naturai s. A defi ni o do que natureza del i mi tao b-
si ca para a ao tcni ca sobre o ambi ente depende dos confl i tos so-
ci ai s e do poder i deol gi co. Di z El l en a esse respei to:
Preci samos exami nar em que medi da as defi ni es ofi ci ai s de natureza si m-
pl esmente l egi ti mam aquel as dos agentes pol ti ca e moral mente poderosos,
e o grau em que combi nam defi ni es de di ferentes grupos de i nteresse. Pre-
ci samos perguntar-nos de que manei ra defi ni es parti cul ares de natureza
servem a i nteresses de grupos parti cul ares, sejam estes o lobby conservaci o-
ni sta, a I greja Catl i ca Romana, ou povos i nd genas que vem vantagens
em rei nventar uma tradi o parti cul ar de natureza o model o do den eco-
l gi co (El l en 1996:28).
A antropol ogi a pode concorrer para uma reval ori zao do conheci -
mento tradi ci onal , contra uma vi so ci enti fi ci sta defi ni ti vamente al i ada
aos grupos mai s poderosos da soci edade contempornea. Como sugere
I ngol d (2000b), a antropol ogi a deveri a contri bui r para abal ar, por mei o
de sua cr ti ca epi stemol gi ca, os argumentos tecni ci stas.
Houve um tempo em que os ci enti stas eram menos arrogantes, e natural
pensar que el es devam aprender com os atores l ocai s, mas essa humi l dade
desapareceu faz mui to tempo, na medi da em que a ci nci a acei tou tornar-
se, em uma proporo cada vez mai or, a servi al do poder corporati vo e es-
tatal . O objeti vo l ti mo da pesqui sa ambi ental em antropol ogi a soci al deve
ser, com certeza, o de desestabi l i zar essa hi erarqui a de poder e control e. Os
recursos que o antropl ogo deve trazer para esse projeto no so tanto tc-
ni cos e metodol gi cos quanto pol ti cos e epi stemol gi cos (Ingol d 2000b:222).
Essa cr ti ca, contudo, no pode degenerar em um ataque i nfanti l
razo e ci nci a , mas deve reconhecer formas di sti ntas de se fazer
ci nci a, e suas ml ti pl as rel aes com os i nteresses econmi cos e pol ti -
cos dos grupos envol vi dos na probl emti ca ambi ental (El l en e Harri s
2000). Pl sson anal i sa os efei tos do si stema de cotas de pesca na Isl ndi a.
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 332
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 333
Di z que o si stema de cotas i ndi vi duai s e transfer vei s (i sto , comerci al )
basei a-se em uma raci onal i dade moderni sta, que excl ui as vari vei s so-
ci ai s da gesto ambi ental , homogene za concei tual mente o mar e as es-
pci es mari nhas, ao mesmo tempo em que margi nal i za as pequenas em-
presas fami l i ares de pesca. E concl ui :
A resposta adequada agenda moderni sta no o apego romnti co ao pas-
sado, o feti chi smo do conheci mento tradi ci onal , mas antes um model o de
gesto que seja democrti co o sufi ci ente para permi ti r um di l ogo si gni fi ca-
ti vo entre especi al i stas e prati cantes, e fl ex vel o bastante para permi ti r uma
adaptao real i sta s compl exi dades e conti ngnci as do mundo em suma,
uma ti ca comuni tri a de muddl i ng through *. Aquel es que esto di reta e
coti di anamente envol vi dos no uso de recursos podem, afi nal , di spor de i n-
formaes al tamente val i osas sobre o que se passa no mar em momentos de-
termi nados. i mportante prestar ateno ao conheci mento prti co dos capi -
tes dos barcos, l evando em consi derao a conti ngnci a e as extremas fl u-
tuaes no ecossi stema (Pl sson 2004).
Vemos ento a i mportnci a do conheci mento prti co e do conheci -
mento l ocal , no apenas com respei to a uma mel hor abordagem do di ag-
nsti co ambi ental , mas tambm no exerc ci o da democraci a na produo
de conheci mento. Todavi a, adverte este autor, quando fal amos de conhe-
ci mento prti co ou conheci mento l ocal , no devemos supor tratar-se de
uma forma de apreender o mundo, si mi l ar que se prati ca na academi a,
mas si m de um ti po de conheci mento ancorado em si tuaes concretas,
fl ex vei s e mutvei s.
O conheci mento i nd gena por vezes apresentado como uma mercadori a
vendvel um capi tal cul tural , si mi l ar a uma coi sa. Grande parte do co-
nheci mento do prati cante tci to, consi sti ndo em di sposi es i nscri tas no
corpo como resul tado do processo de engajamento di reto com tarefas coti -
di anas. Uma di scusso exausti va do que consti tui o conheci mento tci to e
de como este adqui ri do e uti l i zado parece essenci al , tanto para a renego-
ci ao da hegemoni a da expertise ci ent fi ca quanto para a reconsi derao
das rel aes entre os humanos e seu ambi ente. Nesse processo, os antrop-
l ogos tm um papel cruci al a desempenhar, dado o mtodo etnogrfi co e sua
i merso roti nei ra na real i dade dos prati cantes (Pl sson 2004).
* Em i ngl s no ori gi nal : to muddl e through si gni fi ca se vi rar, fazer como se pode [N. E.].
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 333
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 334
A antropol ogi a atua aqui reval ori zando o conheci mento tradi ci onal
no apenas, entretanto, com base naqui l o que os grupos humanos
pensam acerca do entorno natural e soci al , mas si m, pri nci pal mente,
com base no que fazem nel e. As mltiplas expertises (Scoones 1999) do
ambi ental consti tuem prti cas soci ai s, e no um conheci mento em abs-
trato (embora al gumas formas de expertise tendam em mai or ou menor
medi da a di stanci ar-se do concreto).
Contribuio metodolgica para a sustentabilidade
Outra rea na qual antropol ogi a pode contri bui r di z respei to forma de
consi derar a cul tura, aos di ferentes papi s que os setores e cl asses so-
ci ai s tm na produo dessa cul tura e, portanto, das prti cas e concep-
es referentes ao mei o natural .
Tanto a pol ui o quanto a depredao de recursos as duas gran-
des reas em que poss vel agrupar todos os probl emas ambi entai s
podem ser rel ati vi zados pel a cul tura. O que sujo ou l i mpo? ; quando
uma espci e ou recurso est em exti no? so perguntas cuja respos-
ta depende de cri tri os rel ati vos cul tura. Consti tui um paradoxo o fato
de que a antropol ogi a tenha cri ado o probl ema do rel ati vi smo cul tural
e, nos l ti mos anos, esteja tentando abol i -l o.
O rel ati vi smo cul tural , como corrente teri ca e mtodo de aborda-
gem do estudo das soci edades de pequena escal a, tornou-se domi nante
a parti r do desenvol vi mento da escol a boasi ana na segunda dcada do
scul o XX. Boas subl i nhava a necessi dade de estudar cada cul tura em si
mesma, em seu parti cul ari smo hi stri co , mas sem i r busca de l ei s ge-
rai s do desenvol vi mento humano (Boas 1948). O rel ati vi smo cul tural , que
surgi u em contraposi o ao evol uci oni smo posi ti vi sta do scul o XIX, con-
verteu-se em um l astro moral para a antropol ogi a. Levado at suas l ti -
mas conseqnci as pel o ps-moderni smo, pode ser enunci ado assi m: ne-
nhuma soci edade superi or a outra e, portanto, as soci edades no po-
dem ser comparadas. O resul tado foi a prol i ferao de estudos de caso, e
a di fi cul dade de el aborar s nteses que consol i dassem teori camente todo
esse materi al . Todavi a, i nteressante destacar terem si do os autores mai s
prxi mos aos probl emas ecol gi cos e ao estudo da rel ao natureza-so-
ci edade aquel es que apresentaram as teori as mai s general i zantes, que
permi ti am comparar soci edades com di ferentes n vei s de desenvol vi men-
to, como o caso de Jul i an Steward, Lesl i e Whi te, Marvi n Harri s (Wors-
ter 1993) e, i ncl usi ve, Marshal l Sahl i ns (1964) ai nda que esse ti po de
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 334
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 335
comparao nunca tenha estado i sento de di fi cul dades metodol gi cas
(De Munck 2002).
O argumento do rel ati vi smo cul tural servi u para dei xar os antrop-
l ogos com a consci nci a tranqi l a, j que no exi sti ri am cri tri os para
medi r comparati vamente a sustentabi l i dade. Li mpo ou sujo, ordem ou
desordem, so padres de certo ou errado que dependem de um si s-
tema de val ores (Dougl as 1966). Cada cul tura deci de sua prpri a fel i ci -
dade e no se podem i mpor os cnones das soci edades desenvol vi das s
soci edades tradi ci onai s. Segundo esse cri tri o, tudo vl i do, desde as
muti l aes at a mi sri a, em nome do rel ati vi smo cul tural
4
. A antropol o-
gi a, com este concei to, compl i cou i nvol untari amente a vi da de pol ti cos e
pl anejadores.
Todavi a, a prpri a antropol ogi a tem, recentemente, entabul ado es-
foros para escapar do di l ema entre a equi val nci a das cul turas e a ne-
cessi dade de tomar uma posi o pol ti ca posi o que sempre refl ete os
i nteresses de uma cul tura ou grupo soci al . Esta di sjunti va poderi a ser
consi derada um obstcul o ou uma vi rtude (El l en 1996; Descol a e Pl sson
1996; Mi l ton 1996; Brosi us 1999). Obstcul o, porque pode ser paral i sante
e si gno de conservadori smo, quando chega o momento de propor metas
para um mel hor desenvol vi mento humano. Tambm aparece como um
obstcul o ao di fi cul tar o di l ogo com outros agentes e ci nci as envol vi -
das na prti ca do desenvol vi mento sustentvel . Como di z El l en, em sua
i ntroduo a uma das pri nci pai s col etneas da antropol ogi a ecol gi ca
contempornea:
Manejar um di scurso rel ati vi sta da natureza e da cul tura mui to mai s fci l
para aquel es que esto em posi o de tratar seus dados como texto, que ne-
gam ou no tm nenhum i nteresse em comparaes expl ci tas e general i za-
es pan-humanas. Torna-se bem mai s di f ci l faz-l o se queremos traduzi r o
aporte de tai s i di as em termos que sejam compreens vei s e produti vos no
trabal ho dos ci enti stas naturai s e daquel es que, em vri as profi sses apl i -
cadas, fazem uso das i di as e model os de mundo desses l ti mos; ou, ento,
se buscamos expl i car de que modo uma experi nci a parti cul ar do mundo
parece ser sufi ci entemente comparti l hada pel os humanos para que el es pos-
sam reconhecer as coi sas de que fal am (El l en 1996:2).
Por outro l ado, a sustentao de um pri nc pi o de rel ati vi smo razo-
vel (Maybury-Lewi s 2002) consi sti ri a em uma vi rtude epi stemol gi ca,
no senti do de se reconhecer que no exi ste nenhuma soci edade humana
que tenha vi vi do em harmoni a perfei ta com seu entorno natural , nenhu-
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 335
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 336
ma ci vi l i zao ecol ogi camente i nocente (Gonzl ez Al cantud e Gonzl ez
de Mol i na 1992:30).
Depoi s da hegemoni a das correntes ps-modernas nos anos 80 e na
pri mei ra metade dos anos 90 que vi am como i mposs vel a comparao
etnogrfi ca , a acumul ao de materi ai s de campo, a mai or comuni ca-
o entre os i nvesti gadores e a di scusso dos pri nc pi os rel ati vi stas no i n-
teri or das prpri as soci edades tradi ci onai s l evaram ao ressurgi mento de
projetos comparati vos ori entados para a i denti fi cao de tendnci as na
evol uo soci al . Descol a e Pl sson, por exempl o, afi rmam:
Paradoxal mente, uma f renovada no projeto comparati vo pode ter emergi -
do da ri queza mesma da prpri a experi nci a etnogrfi ca, i sto , do reconhe-
ci mento parti l hado de que certos padres, esti l os de prti ca e conjuntos de
val ores, descri tos por col egas antropl ogos em di ferentes partes do mundo,
so compat vei s com o conheci mento que cada um tem de uma soci edade
parti cul ar. [] Em outras pal avras, a etnografi a promove o foco no parti cu-
l ar, e a mul ti pl i cao de parti cul ares etnogrfi cos reavi va o i nteresse pel a
comparao (Descol a e Pl sson 1996:17-18).
Um dos resul tados do exerc ci o comparati vo, e do retorno a uma con-
cepo hi stri ca transcul tural , a i di a de que a evol uo dos humanos
exi be uma tendnci a em di reo compl exi dade. O uso da categori a de
compl exi dade, contudo, enquanto i ndi cador de di ferenas entre soci eda-
des, tem, para al guns, conotaes negati vas, associ adas ao evol uci oni smo
l i near de pri nc pi os do scul o XX, ao qual to fi rmemente se ops a escol a
rel ati vi sta. No obstante, hoje se entende por compl exi dade uma caracte-
r sti ca emergente dos si stemas soci ai s, nos quai s a acumul ao de mudan-
as graduai s conduz a outra estrutura, ori gi nal porm no arbi trri a, e si m
enrai zada na herana ecol gi ca e soci al l egada pel as geraes preceden-
tes. I sto nos permi te, em pri nc pi o, escapar da armadi l ha l gi ca de uma
antropol ogi a que reconhece a uni ci dade da espci e humana mas, ao mes-
mo tempo, defende o rel ati vi smo de suas cul turas (Gardner 1987). Se con-
feri mos ao dado antropol gi co uma profundi dade hi stri ca, podemos i den-
ti fi car uma tendnci a compl exi dade por acmul o de i nformao (Lewi n
1992), respei tando as pecul i ari dades e recusando uma hi erarqui zao mo-
ral das cul turas ou de seu comportamento di ante do mei o ambi ente. Desta
manei ra, escapamos do rel ati vi smo cul tural extremo, que no l eva a l ugar
nenhum, e podemos di al ogar com outras di sci pl i nas e ci nci as.
Para superar o paradoxo do rel ati vi smo cul tural , a antropol ogi a preci -
sou passar a anal i sar a cul tura como um processo, e no como uma enti da-
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 336
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 337
de dada (Ingol d 1986). Preci sou anal i sar a di ferente parti ci pao dos seto-
res, estratos ou cl asses soci ai s na produo da cul tura, em l ugar de tom-
l a como uma resul tante i ndi ferenci ada da soci edade. Apenas entendendo
a cul tura em sua trajetri a hi stri ca e em sua rel ao di ferenci al com os
grupos que a cri am, pde a antropol ogi a cri ti car o rel ati vi smo cul tural ab-
sol uto. El a foi capaz, assi m, de justi fi car hi stori camente determi nados com-
portamentos e, ao mesmo tempo, i denti fi car e responsabi l i zar aquel es que
se benefi ci am dos di tos comportamentos; pde passar a anal i sar a cul tura
como um produto contradi tri o da experi nci a humana (Fol adori 1992).
A reconsi derao concei tual da cul tura forou, tambm, o questi ona-
mento da di cotomi a natureza/cul tura. I ngol d (2000b) demonstrou as i n-
congrunci as dessa di cotomi a. Se revi samos os pri nci pai s concei tos uti l i -
zados na tradi o antropol gi ca para expl i car a reproduo da cul tura, ve-
mos que todos conduzem a uma mesma concl uso: a concepo da cul tura
como al go dado, resul tado do consumo (Fol adori 1992). As noes de en-
cul turao, endocul turao ou soci al i zao se referem aos mecani smos pe-
l os quai s a cul tura se transmi te de uma gerao a outra. A l i nguagem, as
prti cas do comportamento coti di ano, a educao etc. so mei os por i nter-
mdi o dos quai s as novas geraes vo adqui ri ndo a cul tura do grupo no
qual se i nserem. Ao consumi r a cul tura, essas novas geraes fazem-na
sua, i nteri ori zam-na e, por essa vi a, se convertem em seus transmi ssores.
A pal avra etnocentri smo se refere ao val or posi ti vo e superi or que os
i ntegrantes de uma cul tura atri buem a suas prpri as pautas cul turai s,
desmerecendo cul tura al hei as. O etnocentri smo aparece, poi s, como a so-
ma dos preconcei tos que uma soci edade tem sobre si mesma. Mas se nos
perguntamos de onde surgem esses ju zos, a resposta ci rcul ar: a comu-
ni dade de vi da, de cul tura, i mpe preconcei tos que seus membros conso-
mem e, ento, transmi tem e ostentam.
O rel ati vi smo cul tural supe a suspenso de ju zos de val or sobre as
di versas cul turas. No h cul turas superi ores ou i nferi ores, apenas di fe-
rentes. Porm, aval i ar as condutas de acordo com as regras tni cas do
contexto em que el as se produzem equi val e a jul gar uma cul tura aps ter
consumi do seus preconcei tos. De novo agora sob o concei to de rel ati -
vi smo cul tural revel a-se a necessi dade de consumi r a cul tura para po-
der entend-l a.
A acul turao ou mudana cul tural expl i ca os processos de trans-
mi sso cul tural , de adaptao de uma cul tura a outra. Incl ui a decul tura-
o ou perda de pautas cul turai s por parte de uma soci edade, e a poste-
ri or adaptao a novas pautas, ou acul turao. Na anl i se da mudana
soci al , a nfase posta sobre o el emento externo. As mudanas se ori gi -
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 337
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 338
nam do contato de uma cul tura com outra. Nos casos mai s favorvei s, a
cul tura pode mudar i nternamente, em resul tado de uma ao i ndi vi dual ,
uma i nveno ou uma descoberta. Os concei tos de acul turao ou de mu-
dana cul tural so coerentes com o conjunto teri co anteri ormente men-
ci onado; se uma cul tura se reproduz a si mesma, a ni ca possi bi l i dade de
mudana resi de em agentes externos: contato entre povos ou catstrofe
natural . Trata-se, ento, do consumo que uma soci edade real i za das pau-
tas cul turai s de outras soci edades, por mecani smos que podem ser de i m-
posi o vi ol enta ou de acei tao vol untri a.
A i mpl i cao dos concei tos anteri ores si mpl es: cada i ndi v duo re-
produz a cul tura por mei o do consumo de suas pautas cul turai s. No h
um s concei to, na antropol ogi a acadmi ca domi nante, que pri vi l egi e ou
destaque quemproduz a cul tura, como e em que grau. Est cl aro, al m
di sso, que o que se consome al go termi nado, um produto. No obstan-
te, evi dente que al go que exi ste deve ter si do produzi do. Mai s do que
i sso, a produo i mpl i ca um processo, o produto apenas seu resul tado.
As modernas correntes da antropol ogi a que redi reci onaram seu ob-
jeto de estudo para o si mbl i co so outro exempl o dessa vi so consumi sta
da cul tura. Vejam-se, nas trs l ti mas dcadas, a etnometodol ogi a de Gar-
fi nkel (1967) e seu deri vado, a etnoecol ogi a (Durand 2002), bem como o
i nterpretaci oni smo si mbl i co (Geertz 1973) e o cul tural i smo de um Sah-
l i ns (1976) ps-materi al i sta. Essas correntes de pensamento rei vi ndi ca-
vam o si mbl i co como excl usi vi dade da antropol ogi a, rel egando a segun-
do pl ano a anl i se da ordem materi al . Tratava-se de uma autol i mi tao
desprovi da de qual quer justi fi cati va, j que o si mbl i co sempre foi objeto
de estudo antropol gi co, desde os pri mei ros trabal hos hol i stas de pensa-
dores evol uci oni stas como Tyl or e Morgan. cl aro que essa ori entao da
antropol ogi a para o si mbl i co encontra sua expl i cao tanto no contexto
externo di sci pl i na como em suas debi l i dades i nternas. A penetrao do
si stema capi tal i sta at o l ti mo ri nco do pl aneta torna i nvi vel estudar os
povos pri mi ti vos sem consi derar sua i ntegrao ao mercado, esfera de co-
nheci mento para a qual os antropl ogos no esto preparados. O desapa-
reci mento crescente de soci edades pri mi ti vas ou i nd genas pri va os antro-
pl ogos de seu objeto de estudo. A reao foi l amentvel : o refgi o dos
estudos antropol gi cos em uma esfera de mani festao humana o si m-
bl i co na qual , em pri nc pi o, as demai s ci nci as soci ai s no poderi am
competi r
5
. A fragmentao das ci nci as e sua l uta pel a sobrevi vnci a no
mercado acadmi co l egou antropol ogi a uma defi ni o restri ta da cul tu-
ra, e uma quanti dade de termos de di f ci l preci so. Segundo Mi l ton,
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 338
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 339
[o objeto de estudo da antropol ogi a] vei o a restri ngi r-se a uma categori a de
fenmenos que se supunha exi sti r na mente das pessoas [] H uma confu-
sa gama de termos usados para gl osar esta categori a de fenmenos, i ncl ui n-
do i di as , conheci mento , e model os folk (Mi l ton 1996:18).
A crescente parti ci pao de antropl ogos em equi pes i nter- ou mul -
ti di sci pl i nares tambm contri bui u para essa margi nal i zao temti ca da
di sci pl i na. Rel ega-se a el es a tarefa de cobri r a di menso humana , mas
o vi s uni l ateral das ci nci as naturai s representadas nessas equi pes pres-
si ona no senti do de reduzi r o campo da antropol ogi a. No di zer de Ingol d:
Enquanto os ci enti stas fazem o trabal ho de revel ar a real i dade objeti va l
fora , do antropl ogo espera-se que se contente em descobri r os pri nc pi os
de sua construo cul tural dentro da cabea das pessoas , supostamente a
parti r de ati tudes e crenas convenci onai s de raci onal i dade questi onvel ,
mai s do que por mei o da observao emp ri ca e anl i se raci onal (I ngol d
2000a:222).
Fel i zmente para a tradi o antropol gi ca, essa vi rada para o si mbl i -
co tem recebi do cr ti cas i rrefutvei s por parte do real i smo cr ti co (Di ckens
1996), com o que a vi so hol i sta da antropol ogi a vol tou a ser reconheci da
como sua ferramenta tal vez mai s i mportante (p.ex., Crol l e Parki n 1992).
Desse modo, apesar da l ei tura consumi sta da cul tura e de sua vari ante
si mbl i ca , a antropol ogi a ecol gi ca tem, recentemente, exerci do pres-
ses no senti do de consi derar o comportamento e o pensamento humanos
como processos em construo, deri vados da heterogenei dade i nterna das
soci edades (Pl sson 1991; Fol adori 1992). Os estudos dedi cados anl i se
dos di scursos ambi ental i stas contemporneos, por exempl o, mostram sua
ancoragem nas contradi es e desi gual dades das rel aes soci ai s mate-
ri ai s (Brosi us 1999). Esses di scursos ambi ental i stas so consi derados como
uma cosmovi so oci dental hegemni ca, constru da a parti r das prti cas
reai s das pessoas em seu ambi ente (Mi l ton 1996:214-218).
Um cl aro exempl o da produo de cul tura, gi rando em torno de te-
mas ambi entai s e segundo di sti ntos grupos de i nteresse, o caso das mu-
danas no concei to de toxi ci dade nos Estados Uni dos durante as l ti -
mas dcadas. Tesh (2000), em seu estudo das al teraes na defi ni o e
nos val ores-l i mi te dos i ndi cadores de toxi ci dade, mostra como a fal ta de
sustentao ci ent fi ca no consti tui u obstcul o para que o movi mento
ambi ental i sta norte-ameri cano obti vesse, em um per odo de vi nte anos,
do i n ci o dos anos 70 at os 90, uma sri e de conqui stas tanto na l egi sl a-
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 339
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 340
o como no desempenho ci ent fi co. Al gumas das conqui stas na determi -
nao do cri tri o de toxi ci dade dos produtos l anados no mercado so:
a) A i ncl uso de i ndi cadores de outras doenas al m do cncer, como
di strbi os endcri nos, nervosos e at ps qui cos. Antes, se o produto
no mostrava si nai s de que poderi a produzi r cncer, no era consi -
derado txi co.
b) A i ncl uso, al m das i nvesti gaes concernentes a um ser humano
mdi o, daquel as vol tadas para setores pobres da popul ao e para
mi nori as tni cas. Antes, consi derava-se apenas a possi bi l i dade de
um produto ser txi co para um i ndi v duo mdi o , ao passo que, por
estarem em uma etapa di ferente do ci cl o de vi da, ou por terem uma
di eta al i mentar di ferente, mui tos grupos no representados pel o i n-
di v duo mdi o poderi am sofrer, de forma i ndi vi dual i zada, os efei tos
de certos produtos qu mi cos.
c) A consi derao dos efei tos no apenas de cada produto qu mi co to-
mado i sol adamente, mas tambm daquel es de suas combi naes, j
que el ementos que i sol adamente so i nofensi vos podem se tornar
agressi vos quando combi nados com outros.
d) Uma mudana no concei to de doena, que passou a l evar em conta
os biomarkers i ndi cadores de poss vei s tendnci as negati vas, re-
conheci dos mesmo que no se possa i denti fi car i medi atamente a
doena , j que o organi smo pode s apresentar os efei tos de uma
contami nao aps o acmul o, por um per odo prol ongado, do agen-
te txi co em questo.
e) Uma reduo da porcentagem consi derada requi si to epi demi ol gi co
para que se estabel eam correl aes com el ementos contami nado-
res. Se, para ser consi derado txi co, um produto ti nha de apresentar
os efei tos em 90%, ou mai s, dos casos anal i sados, esse percentual
foi reduzi do para 70% ou mesmo 50%, segundo o produto.
Conhecendo a di ferente parti ci pao dos grupos soci ai s no processo
de produo da cul tura, a antropol ogi a se encontra em condi es de ofe-
recer aos estudos ambi entai s uma expl i cao das formas de atuar e re-
presentar que faci l i tam ou bl oquei am determi nados fenmenos de conta-
mi nao e/ou depredao da natureza (Durand 2002), por parte dos seto-
res responsvei s, dos benefi ci ados e dos prejudi cados.
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 340
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 341
Reflexes finais
O reconheci mento, por parte da moderna antropol ogi a ecol gi ca, da cul -
tura como um processo em formao, como um resul tado de i nteresses
contradi tri os e de parti ci pao desi gual , conduz a i mportantes concl u-
ses para a di scusso da probl emti ca ambi ental , e, tambm, para a
ori entao das pol ti cas pbl i cas. Al gumas del as seri am:
A necessidade de considerar as diferenas entre os grupos sociais e
no interior destes. No basta di sti ngui r grupos qual i tati vamente di feren-
tes por sua aparnci a externa, como a di vi so entre homens e mul heres,
entre cri anas, adul tos e vel hos, ou entre grupos tni cos. necessri o es-
tudar o i nteri or de cada grupo, j que, de outro modo, as mdi as estat sti -
cas ou os ti pos qual i tati vos ocul taro as di ferenas de cl asse. Um estudo
recente (Taks 2001) revel a, por exempl o, nas prti cas e ati tudes di ante da
terra e dos ani mai s domsti cos, a vari ao entre trabal hadores rurai s as-
sal ari ados e produtores fami l i ares no Uruguai : estes l ti mos mani festam
mai or preocupao com a reproduo da ferti l i dade dos sol os. Essa di fe-
rena permanece ocul ta quando se anal i sa o produtor de forma genri ca,
sem consi derar os ti pos de rel aes soci ai s de produo. Os enfoques das
ci nci as naturai s sobre a degradao ambi ental perdem de vi sta as con-
tradi es no i nteri or das soci edades, e tomam o grupo humano como uma
uni dade. O resul tado so propostas de sustentabi l i dade ecol gi ca que,
paradoxal mente, podem acarretar i nsustentabi l i dade soci al : prti cas agro-
nmi cas ecol ogi camente sustentvei s podem margi nal i zar pequenos pro-
dutores; l i mi tes expl orao de recursos naturai s podem empobrecer
camponeses, col etores, caadores e pescadores; o ordenamento terri tori al
urbano pode remover assentamentos precri os sem oferecer al ternati vas.
A necessidade de que existam processos de monitorao, em tempo
real, da aplicao das polticas. Se a cul tura um processo, se a cul tura
se produz, vi tal a parti ci pao ati va dos grupos envol vi dos para garan-
ti r a correspondnci a entre pl anos e ati vi dades, no que di z respei to sa-
ti sfao das necessi dades. No poss vel parti r da cul tura como al go da-
do para, depoi s, adaptar as pol ti cas. As pol ti cas devem ser corri gi das
permanentemente na prpri a prti ca. Isso no real i zvel sem a parti ci -
pao ati va dos envol vi dos, moni torando o processo. Scoones (2002:497)
menci ona a gesto adaptati va de Hol l i ng (ver Wi nterhal der 1994:36), o
aprendi zado i terati vo e a del i berao i ncl usi va, como aspectos metodol -
gi cos cruci ai s dessa moni torao. A gesto adaptati va se basei a no fato
de que no h rel ao mecni ca de causa-efei to na transformao do am-
bi ente as i ncertezas esto sempre presentes, razo pel a qual neces-
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 341
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 342
sri a uma aproxi mao gradual da resol uo de probl emas, que i ncl ua a
aval i ao cont nua como parte i ntegral do mesmo processo. Esse ti po de
gesto deveri a permi ti r canal i zar as di sti ntas percepes e di scursos dos
di ferentes grupos envol vi dos. Dessa manei ra, ser poss vel preveni r-se
contra mudanas i nesperadas e fortal ecer a capaci dade de resposta di an-
te del as, em l ugar de apenas remedi ar probl emas ambi entai s. Torna-se
i mperati vo, ento, modi fi car o enquadramento formal dos projetos de de-
senvol vi mento, estabel ecendo cronogramas fl ex vei s e objeti vos ajust-
vei s e em si ntoni a com as necessi dades e possi bi l i dades em n vel l ocal e
regi onal (Dri jver 1992).
necessri o reconhecer que, segundo sua posi o na di stri bui o
da ri queza soci al , na ocupao do espao constru do e nas deci ses pol -
ti cas, os grupos e cl asses soci ai s respondem de manei ras di ferentes tanto
aos i mpactos i nternos quanto quel es proveni entes da natureza externa
por exempl o, eventos extremos que podem cul mi nar em desastres.
Al m di sso, antropl ogos e outros ci enti stas soci ai s, preocupados com as
rel aes entre a experi nci a prti ca e as representaes do mundo, de-
vem estar prontos para observar percepes do ambi ente di sti ntas, mut-
vei s e no raro ambi val entes (ORi ordan 1976; Carri er 2001). Essas ambi -
val nci as esto enrai zadas nas di sti ntas prti cas concernentes ao mundo
materi al e nas posi es parti cul ares das pessoas e grupos em determi na-
da estrutura soci al , assi m como na di nmi ca da l uta i deol gi ca, por mei o
da i mposi o de certos di scursos sobre o ambi ente, sua conservao e
transformao. A ci nci a normal , no senti do de Kuhn (1962), l i mi ta-
da para fazer frente a i mpactos ambi entai s que afetam di ferenci adamen-
te os grupos e cl asses soci ai s e so por el es percebi dos tambm de ma-
nei ras di sti ntas. preci so, por um l ado, promover uma i ntegrao mai s
estrei ta entre ci nci a normal e conheci mento prti co. Por outro, neces-
sri o que as agendas de i nvesti gao ci ent fi ca se estabel eam de bai xo
para ci ma . Exempl os de pol ti cas ci ent fi cas ori entadas nessa di reo,
como no caso da community-based research [pesqui sa de base comuni t-
ri a], so uma al ternati va para se resgatar o i nteresse dos afetados e per-
mi ti r que se uti l i zem vantajosamente os avanos da ci nci a normal , em
conjuno com os conheci mentos prti cos e tradi ci onai s (Inverni zzi 2004).
Recebi do em 26 de agosto de 2002
Aprovado em 2 de jul ho de 2004
Traduo de Marcel a Coel ho de Souza
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 342
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 343
Javi er Taks professor do Departamento de Antropol og a Soci al y Cul tural ,
Uni versi dad de l a Repbl i ca, Uruguay; Gui l l ermo Fol adori professor do
Doctorado en Estudi os del Desarrol l o, Uni versi dad Autnoma de Zacatecas,
Mxi co.
Notas
1
No podemos di scuti r aqui as denomi naes das di ferentes escol as que
abordam a rel ao soci edade-natureza (ver Bl anc-Pamard 1996; Mi l ton 1997; Bro-
si us 1999; Li ttl e 1999). Chamamos de antropol ogi a ecol gi ca o conjunto de estu-
dos, i nsti tuci onal mente marcados no i nteri or da antropol ogi a, que buscam conhe-
cer a di versi dade e as si mi l ari dades das experi nci as humanas em rel ao a seus
ambi entes. Os trabal hos antropol gi cos nesse campo partem da descri o das re-
l aes materi ai s das soci edades em seus ambi entes, sem negl i genci ar o papel fun-
dante que tm as prti cas si mbl i cas.
2
Vejam-se as cr ti cas de Gol dbl att (1998) a Gi ddens sobre este tema.
3
A tomada em consi derao da percepo vul gar da mudana cl i mti ca,
como demonstra o exempl o dos povos do rti co (Nuttal 2001), mui to recente.
4
Maybury-Lewi s (2002) di z que os antropl ogos so acusados i njustamente
de um tal rel ati vi smo extremo. Ai nda que a i di a de que todo antropl ogo seja
um defensor do val e-tudo consti tua uma cari catura, deve-se reconhecer que o re-
l ati vi smo tem si do um dos argumentos l evantados para evi tar comprometi mentos
(ver Durand 2002:169-70). Esta probl emti ca tem si do di scuti da extensamente
por Brosi us (1999) em rel ao aos estudos ambi entai s empreendi dos de uma pers-
pecti va antropol gi ca.
5
O que sempre foi equi vocado, uma vez que, a parti r da l i nguagem, a se-
mi ti ca compete com i gual autori dade nesse mesmo campo.
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 343
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 344
Referncias bibliogrficas
AMBLER, J. 1999. Attacki ng poverty
whi l e i mprovi ng the envi ronment:
towards wi n-wi n pol i cy opti ons .
Poverty and environment initiative
New York, Brussels.
http://stone.undp.org/di us/seed/
pei fomm/ACF889.pdf. (28 de feve-
rei ro de 2004).
ANDERSON, A. 2002. Faunal col l ap-
se, l andscape change and settl e-
ment hi story i n Remote Oceani a .
World Archaeology, 33(3):375-390.
BARRET, R., KUZAWA, C., MCDADE,
T., e ARMELAGOS, G. J. 1998.
Emergi ng and re-emergi ng i nfec-
ti ous di seases: the Thi rd Epi demi o-
l ogi cal Transi ti on . Annual Review
of Anthropology, 27:247-71.
BERKES, F. e C. FOLKE (eds.). 1998.
Linking social and ecological sys-
tems. management practices and
social mechanisms for building re-
silience. Cambri dge: Cambri dge
Uni versi ty Press.
BLANC-PAMARD, C. 1996. Medi o
natural . I n: P. Bonte e M. I zard
(eds.), Diccionario Akal de Etnolo-
ga y Antropologa. Madri d: Akal .
BOAS, F. 1948. Race, language and
culture. New York: Macmi l l an.
BROSIUS, J. P. 1999. Anal yses and i n-
terventi ons. Anthropol ogi cal enga-
gements wi th envi ronmental i sm .
Current Anthropology, 40(3):277-
309.
CARRIER, J. 2001. Li mi ts of envi ron-
mental understandi ng: acti on and
constrai nt , J ournal of Political
Ecology, 8:25-43.
CROLL, E. e PARKI N, D. (eds.). 1992.
Bush base: forest farm. Culture, en-
vironment and development. Lon-
don/New York: Routl edge.
CRUMLEY, C. 1994. The ecol ogy of
conquest. Contrasti ng agropastoral
and agri cul tural soci eti es adapta-
ti on to cl i mati c change . I n: C.
Cruml ey (ed.), Historical ecology.
Santa F: School of Ameri can Re-
search Press.
DE MUNCK, V. 2002. Contemporary
i ssues and chal l enges for compara-
ti vi sts , Anthropological Theory,
2(1): 5-19.
DESCOLA, P. e G. PLSSON. 1996.
I ntroducti on . I n: P. Descol a e G.
Pl sson (eds.), Nature and society.
London: Routl edge.
DICKENS, P. 1996. Reconstructing na-
ture. London: Routl edge.
DOUGLAS, M. 1966. Purity and dan-
ger: an analysis of the concepts of
pollution and taboo. London: Pel i -
can.
DRI JVER, C. 1992. Peopl es parti ci -
pati on i n envi ronmental projects .
In: E. Crol l e D. Parki n (eds.), Bush
base: forest farm. Culture, environ-
ment and development. London:
Routl edge.
DURAND, L. 2002. La rel aci n am-
bi ente-cul tura en antropol og a: re-
cuento y perspecti vas . Nueva An-
tropologa, XVIII(61):169-184.
ELLEN, R. 1986. What Bl ack El k l eft
unsai d . Anthropology Today,
2(6):8-13.
___
. 1996. Introducti on . In: R. El l en
e K. Fukui (eds.), Redefining natu-
re. Oxford: Berg.
___
. 1999. Categori es of Ani mal i ty
and Cani ne Abuse . Anthropos,
94:57-68.
___
., e H. Harri s. 2000. I ntroducti on.
I n: R. El l en, P. Park es e A. Bi ck er
(eds.), I ndigenous environmental
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 344
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 345
knowledge and its transformations.
Amsterdam: Harwood Academi c
Publ i shers.
ESCOBAR, A. 1999. After nature.
Steps to an anti essenti al i st pol i ti cal
ecol ogy . Current Anthropology,
40(1):1-30.
FOLADORI, G. 1992. Consumo y pro-
ducci n de cul tura: dos enfoques
contrapuestos en l as ci enci as soci a-
l es . Anales de Antropologa, 29.
___
. 2000. Una ti pol og a del pensa-
mi ento ambi ental i sta . Revista de
Estudos Ambientais, 2(1):42-60.
___
. 2001. Limites do desenvolvimen-
to sustentvel. So Paul o: Edi tora
da Uni camp/Imprensa Ofi ci al .
GARDNER, H. 1987. La nueva ciencia
de la mente. Barcel ona: Pai ds.
GARFINKEL, H. (1967. Studies in eth-
nomethodology, Engl ewood Cl i ffs:
Prenti ce-Hal l .
GEERTZ, C. 1973. The interpretation
of culture. New York: Basi c Books.
GLACKEN, C. 1996 [1967]. Huellas en
la playa de Rodas. Barcel ona: Edi -
ci ones del Serbal .
GOLDBLATT, D. 1998. Teoria social e
ambiente. Li sboa: Insti tuto Pi aget.
GONZLEZ ALCANTUD, J.A. e
GONZLEZ DE MOLI NA, M.
1992. Introducci n . In: J.A. Gon-
zl ez Al cantud e M. Gonzl ez de
Mol i na (eds.), La tierra. Mitos, ritos
y realidades, Barcel ona: Anthropos.
GUYER, J. 1988 [1968]. The mul ti pl i -
cati on of l abour . Current Anthro-
pology, 29(2):247-272.
HARDIN, G. 1989. La tragedi a de l os
espaci os col ecti vos . I n: H. Dal y
(ed.), Economa, ecologa, tica.
Mxi co, DF: Fondo de Cul tura Eco-
nmi ca.
HAYNES, G. 2002. The catastrophi c
exti ncti on of North Ameri can mam-
moths and mastodonts . World Ar-
chaeology, 33(3): 391-416.
HEADLAND, T. 1997. Revi si oni sm i n
Ecol ogi cal Anthropol ogy . Current
Anthropology 38(4):605-609.
HORNBORG, A. 1992. Machi ne feti s-
hi sm, val ue and the i mage of unl i -
mi ted good: towards a thermody-
nami cs of i mperi al i sm . Man,
27(1):1-18.
I NGERSON, A. 1994. Track i ng and
testi ng the nature-cul ture di cho-
tomy . In: C. Cruml ey (ed.), Histo-
rical ecology. Santa F: School of
Ameri can Research Press.
I NGERSON, A. 1997. Comments on
T. Headl and, Revi si oni sm i n ecol o-
gi cal anthropol ogy . Current
Anthropology 38(4):615-6.
INGOLD, T. 1986. The appropriation of
nature. Manchester: Manchester
Uni versi ty Press.
___
. 1991 [1986]. Evolucin y vida so-
cial. Mxi co: Gri jal bo.
___
. 2000a. The perception of the en-
vironment. London: Routl edge.
___
. 2000b. Concl udi ng commen-
tary . In: A. Hornborg e G. Pl sson
(eds.), Negotiating nature: culture,
power, and environmental argu-
ment. Lund: Lund Uni versi ty Press.
INHORN, M. 1990. The anthropol ogy
of i nfecti ous di seases . Annual Re-
view of Anthropology, 19:89-117.
I NVERNI ZZI , N. 2004. Parti ci paci n
ci udadana en ci enci a y tecnol og a
en Amri ca Lati na: una oportuni -
dad para refundar el compromi so
soci al de l a uni versi dad pbl i ca .
Revista I beroamericana de Ciencia,
Tecnologa y Sociedad, 1(2):67-84.
KUHN, T. S. 1962.. The structure of
scientific revolutions. Chi cago: The
Uni versi ty of Chi cago Press.
KUPER, A. 1973. Anthropologists and
anthropology: the British school
(1922-1972), New York: Pi ca Press.
LEACKY, R., e R. Lewi n 1998. La sex-
ta extincin: el futuro de la vida y
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 345
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 346
de la humanidad. Barcel ona: Tus-
quets.
LECLERC, G. 1973. Antropologa y co-
lonialismo. Madri d: Ed. Comuni ca-
ci n.
LENOI R, I . 1995. A verdade sobre o
efeito de estufa. Dossier de uma
manipulao planetria. Li sboa:
Cami nho da Ci nci a.
LEWI N, R. 1992. Complexity. New
York: McMi l l an.
LI TTLE, P. 1999. Envi ronments and
envi ronmental i sms i n anthropol o-
gi cal research: faci ng a new mi l -
l enni um . Annual Review of Anth-
ropology, 28: 253-284.
MACKENZIE, D. 1984. Marx and the
machi ne . Technology and Cultu-
re, 25: 473-502.
MARTIN, P.S. 1984. Prehi stori c over-
ki l l : the gl obal model . In: Marti n,
P.S., e Kl ei n, R.G. (eds.), Quater-
nary extinctions. Tucson: Uni v. Ari -
zona Press. pp. 354403.
MAYBURY-LEWIS, D. 2002. A Antro-
pol ogi a numa era de confuso .
Revista Brasileira de Cincias So-
ciais, 17(50): 15-23.
MI LTON, K. 1996. Environmentalism
and cultural theory. London: Rou-
tl edge.
___
. 1997. Ecol og as: antropol og a,
cul tura y entorno . Revista I nterna-
cional de Ciencias Sociales, 154.
http://www.unesco.org/i ssj/-
ri cs154/mi l tonspa.html (28 de feve-
rei ro de 2004).
NUTTALL, M. 2001. Puebl os i nd ge-
nas y l a i nvesti gaci n sobre el cam-
bi o cl i mti co en el rti co . Asuntos
I ndgenas (IWGIA) 4/01:26-33.
ORLOVE, B. 2002. Lines in the water:
nature and culture at Lake Titicaca.
Berk el ey/Los Angel es/London:
Uni versi ty of Cal i forni a Press.
OSTROM, E. 1990. Governing the com-
mons: the evolution of institutions
for collective action. Cambri dge
Uni versi ty Press: Cambri dge.
ORI ORDAN, T. 1976. Environmenta-
lism. London: Pi on.
PLSSON, G. 1991. Coastal econo-
mies, cultural accounts. Manches-
ter Uni versi ty Press: Manchester.
___
. (no prel o). Nature and soci ety
i n the age of postmoderni ty . In: A.
Bi ersack, A., e J. Greenberg (eds.),
I magining political ecology. Duke
Uni versi ty Press.
PFAFFENBERGER, B. 1988. Feti shi -
zed objects and humani zed nature:
towards an anthropol ogy of tech-
nol ogy . Man, 23: 236-252.
___
. 1992. Soci al anthropol ogy of
technol ogy . Annual Review of
Anthropology, 21:491-516.
RI CHARDS, P. 1985. I ndigenous agri-
cultural revolution. London: Hut-
chi nson.
SAHLI NS, M. 1964. Cul ture and en-
vi ronment . I n: S. Tax (ed.), Hori-
zons of anthropology. Chi cago: Al -
di ne Publ i shi ng Company.
___
. 1976. Culture and practical rea-
son. Chi cago: Chi cago Uni versi ty
Press.
SAREWI TZ, D. and R. A. Pi el k e, Jr.
2001. Extreme events: a research
and pol i cy framework for di sasters
i n context . I nternational Geology
Review, 43:406-418.
SCOONES, I. 1999. New ecol ogy and
the soci al sci ences: What prospects
for a frui tful engagement? Annual
Review of Anthropology, 28: 479-
507.
STEADMAN, D e MARTI N, P. 2003.
The l ate Quaternary exti ncti on
and future resurrecti on of bi rds on
Paci fi c i sl ands . Earth-Science Re-
views, 61:133147.
TAKS, J. 2001. Acerca de l a al i ena-
ci n del trabajo en l os tambos uru-
guayos . In: Leopol d, L., (ed.), Psi-
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 346
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 347
cologa y organizacin del trabajo
I I . Montevi deo: Psi col i bros.
TESH, S. N. 2000. Uncertain hazards.
environmental activists and scienti-
fic proof. I thaca/ London: Cornel l
Uni versi ty Press.
TOLEDO, V. 1992. Campesi nos, mo-
derni zaci n rural y ecol og a pol ti -
ca: una mi rada al caso de Mxi co .
I n: J.A. Gonzl ez Al cantud e M.
Gonzl ez de Mol i na (eds.), La tier-
ra. Mitos, ritos y realidades. Barce-
l ona: Anthropos.
TOMMASI NO, H. e G. FOLADORI .
2001. (I n) certezas sobre l a cri si s
ambi ental , Ambiente e Socieda-
de, IV(8):49-68.
WI NNER, L. 1985. Ti enen pol ti ca
l os artefactos? . http://www.cam-
pus-oei .org/sal actsi /wi nner.htm
(28 de feverei ro de 2004).
WINTERHALDER, B. 1994. Concepts
i n hi stori cal ecol ogy. The vi ew from
evol uti onary ecol ogy . I n: C.
Cruml ey (ed.), Historical ecology.
Santa F: School of Ameri can Re-
search Press.
WORSTER, D. 1993. The wealth of na-
ture. New York: Oxford Uni versi ty
Press.
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 347
UM OLHAR ANTROPOLGICO SOBRE A QUESTO AMBIENTAL 348
Resumo
A presente cri se ecol gi ca conduzi u a
uma revi so de paradi gmas em antro-
pol ogi a, e ao questi onamento da con-
tri bui o da di sci pl i na para a el abora-
o das pol ti cas ambi entai s e para a
l uta dos movi mentos ambi ental i stas.
Este arti go argumenta que a antropo-
l ogi a val i osa para aquel es que pre-
tendem construi r uma soci edade mai s
sustentvel . Pri mei ro, produzi ndo i n-
formao e conheci mento cr ti co acer-
ca dos si gni fi cados das ati tudes peran-
te o mei o natural de humanos moder-
nos e premodernos. Segundo, e mai s
i mportante, a antropol ogi a poderi a
contri bui r, medi ante pautas metodol -
gi cas, para o estudo das rel aes entre
cul tura e ambi ente. Por um l ado, en-
tendendo essas rel aes como resul ta-
do de processos contradi tri os de pro-
duo de senti do, enrai zados na trans-
formao e apropri ao desi gual da
natureza, e contra a vi so consumi sta
da cul tura. Por outro l ado, entendendo-
se a cul tura como um processo hi stri -
co, a antropol ogi a seri a capaz de supe-
rar os erros deri vados do rel ati vi smo
cul tural radi cal , que at o presente tem
l i mi tado a parti ci pao da di sci pl i na na
el aborao das pol ti cas ambi entai s.
Palavras-chave Antropol ogi a ecol gi ca,
Rel aes cul tura-natureza, Desenvol -
vi mento sustentvel .
Abstract
The current ecol ogi cal cri si s has l ed to
a cri ti cal revi ew of anthropol ogys
mai nstream paradi gms and to ques-
ti ons over i ts contri buti on to envi ron-
mental pol i cy-maki ng and the pol i ti cal
ai ms of envi ronmental movements.
Thi s arti cl e argues that anthropol ogy
i s val uabl e i n two ways for those at-
tempti ng to bui l d a more sustai nabl e
soci ety. Fi rstl y, i t produces cri ti cal i n-
formati on and k nowl edge about the
meani ngs of pre-modern and modern
human atti tudes towards the natural
envi ronment. Secondl y, and more i m-
portantl y, by provi di ng methodol ogi cal
gui del i nes for studyi ng rel ati ons bet-
ween cul ture and the envi ronment,
anthropol ogy al l ows us to understand
these rel ati ons as the outcome of mu-
tual l y contradi ctory processes of pro-
duci ng meani ng one rooted i n the
unequal transformati on and appropri a-
ti on of nature, the other opposed to a
consumeri st vi si on of cul ture. At the
same ti me, by apprehendi ng cul ture as
a hi stori cal process, anthropol ogy i s
capabl e of overcomi ng the fai l ures of
radi cal cul tural rel ati vi sm whi ch have
so far l i mi ted the di sci pl i nes parti ci pa-
ti on i n envi ronmental pol i cy maki ng.
Key words Ecol ogi cal anthropol ogy,
Cul ture-nature rel ati ons, Sustai nabl e
devel opment.
07_TaksFola 12/20/04 9:23 AM Page 348
Você também pode gostar
- Livro Prep Exame Geografia A 2020 Leya - OptimizeDocumento320 páginasLivro Prep Exame Geografia A 2020 Leya - OptimizeInês Vinhas Monteiro - 915661100% (1)
- Machado de Assis-O Enigma Do Olhar (Alfredo Bosi)Documento150 páginasMachado de Assis-O Enigma Do Olhar (Alfredo Bosi)jessicaAinda não há avaliações
- Maria Abádia Da SilvaDocumento91 páginasMaria Abádia Da SilvaRicardo Neto100% (1)
- Cópia de Cópia de MARCELA 05.11 Inclusão Um Ato de Amor VERADocumento32 páginasCópia de Cópia de MARCELA 05.11 Inclusão Um Ato de Amor VERAWillians OliveiraAinda não há avaliações
- Vol 1 - Aprendendo A Ser Hacker para Não Ser Invadido PDFDocumento24 páginasVol 1 - Aprendendo A Ser Hacker para Não Ser Invadido PDFdsmdska100% (4)
- Resumo: Psicologia No Renascimento e Na Idade ModernaDocumento2 páginasResumo: Psicologia No Renascimento e Na Idade ModernaMatheus NevesAinda não há avaliações
- Fichamento - Ezequias Azevedo Pereira - A Jovem Pesquisa Educacional BrasileiraDocumento4 páginasFichamento - Ezequias Azevedo Pereira - A Jovem Pesquisa Educacional BrasileiraEzequias Azevedo PereiraAinda não há avaliações
- Slide TCC Plantas MedicinaisDocumento17 páginasSlide TCC Plantas MedicinaisKeila Morais0% (1)
- Antropologia Cultural RESUMODocumento8 páginasAntropologia Cultural RESUMOHugo VichiAinda não há avaliações
- Lucia Neves A Nova Pedagogia Da HegemoniaDocumento14 páginasLucia Neves A Nova Pedagogia Da HegemoniaBeatriz Florentino BastosAinda não há avaliações
- Sociologia Da Educação - QuestõesDocumento16 páginasSociologia Da Educação - QuestõesbooklimaAinda não há avaliações
- Slideshare TeoriasDocumento30 páginasSlideshare TeoriasEusebio Bernardo FortunatoAinda não há avaliações
- MoçambiqueDocumento3 páginasMoçambiqueAna MirandaAinda não há avaliações
- A Evolução Da Educação Física Ao Longo Do TempoDocumento4 páginasA Evolução Da Educação Física Ao Longo Do TempoMatheuss EvangelistAinda não há avaliações
- Métodos Das Ciências SociaisDocumento25 páginasMétodos Das Ciências SociaisLucas Lopes Faria100% (1)
- Paradigmas de Gestão EducacionalDocumento10 páginasParadigmas de Gestão EducacionalPaulo Henrique Costa NascimentoAinda não há avaliações
- Apostila MPCDocumento76 páginasApostila MPCMarcus OliveiraAinda não há avaliações
- APOSTILA DE METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA OficialDocumento42 páginasAPOSTILA DE METODOLOGIA DO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA OficialJúlio César Azevedo100% (1)
- Trabalho de Pedagogia IiDocumento12 páginasTrabalho de Pedagogia Iipaulo M. JulioAinda não há avaliações
- Módulo Educação Física No Contexto Da Educação InfantilDocumento12 páginasMódulo Educação Física No Contexto Da Educação InfantilLara AlvesAinda não há avaliações
- A Teoria Do Desenvolvimento e Aprendizagem de VygotskyDocumento2 páginasA Teoria Do Desenvolvimento e Aprendizagem de VygotskyFC12Ainda não há avaliações
- O Surgimento Da Sociologia PDFDocumento17 páginasO Surgimento Da Sociologia PDFCris Sgrancio SgrancioAinda não há avaliações
- História Das Ideias Pedagógicas - Moacir GadottiDocumento325 páginasHistória Das Ideias Pedagógicas - Moacir GadottiLeonardo Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- MARRACH, Sonia Alem - Neoliberalismo e EducaçãoDocumento4 páginasMARRACH, Sonia Alem - Neoliberalismo e EducaçãoAna Paula da Cunha GóesAinda não há avaliações
- (Fichamento) Democracia e Educação NEW - DeweyDocumento6 páginas(Fichamento) Democracia e Educação NEW - DeweyLuiz MartinsAinda não há avaliações
- Teoria Ecologica Do Desenvolvimento HumanoDocumento4 páginasTeoria Ecologica Do Desenvolvimento HumanoTaís RodriguesAinda não há avaliações
- Ética - Cidadania Na Escola - Artigo MeuDocumento12 páginasÉtica - Cidadania Na Escola - Artigo Meusandra2014Ainda não há avaliações
- Filosofia Da Educação - 2018-1 - Lic. em LetrasDocumento9 páginasFilosofia Da Educação - 2018-1 - Lic. em LetrasLuana AguiarAinda não há avaliações
- Lei 13.415 de 2017 PDFDocumento17 páginasLei 13.415 de 2017 PDFSalvador JúniorAinda não há avaliações
- AZANHA Parâmetros Curriculares Nacionais e Autonomia Da EscolaDocumento11 páginasAZANHA Parâmetros Curriculares Nacionais e Autonomia Da Escoladdd jjjjAinda não há avaliações
- Educação SocialistaDocumento8 páginasEducação SocialistaCalebe FontenelleAinda não há avaliações
- Dossie Educação - Neusa GusmãoDocumento18 páginasDossie Educação - Neusa Gusmãoatma12Ainda não há avaliações
- 50 Grandes Educadores - Prefácio Do LivroDocumento2 páginas50 Grandes Educadores - Prefácio Do LivroAndre Luis Medeiros100% (1)
- Psicologia Do Desenvolvimento e A Técnica de ObservaçãoDocumento9 páginasPsicologia Do Desenvolvimento e A Técnica de Observaçãoemérico arnaldoAinda não há avaliações
- Positivismo Fenomenologia e MarxismoDocumento31 páginasPositivismo Fenomenologia e MarxismoMarion Machado CunhaAinda não há avaliações
- Educação para A Diversidade Numa Perspectiva Intercultural PDFDocumento32 páginasEducação para A Diversidade Numa Perspectiva Intercultural PDFBeatrizZeferinoAinda não há avaliações
- Gestão EscolarDocumento16 páginasGestão EscolarGalletAinda não há avaliações
- Participação Responsável e Intervenção Social Evar J Das MangasDocumento11 páginasParticipação Responsável e Intervenção Social Evar J Das MangasEvaristo Das MangasAinda não há avaliações
- Conferência de TbilisiDocumento34 páginasConferência de TbilisiItallo LealAinda não há avaliações
- Nova Sociologia Da EducaçãoDocumento11 páginasNova Sociologia Da EducaçãoFranciane Rios50% (2)
- Formação de Pedagogos. Desafios e Perspectivas No Campo de Atuação PDFDocumento11 páginasFormação de Pedagogos. Desafios e Perspectivas No Campo de Atuação PDFAureliano Valentín Medina RodríguezAinda não há avaliações
- Resenha 1 - POAP - JailsonDocumento6 páginasResenha 1 - POAP - JailsonJailson BrittoAinda não há avaliações
- Didática Geral HortaDocumento38 páginasDidática Geral HortaNorma BorgesAinda não há avaliações
- A Aprendizagem Significativa Estratégias Facilitadoras eDocumento11 páginasA Aprendizagem Significativa Estratégias Facilitadoras eDenise Jacqueline SchereiberAinda não há avaliações
- A Explosão DemográficaDocumento15 páginasA Explosão DemográficaNgonde Dizono SimoniAinda não há avaliações
- Teoricos Da EducaçãoDocumento52 páginasTeoricos Da EducaçãoMasafumi KanaokaAinda não há avaliações
- A Geografia É o Nosso Dia-A-DiaDocumento13 páginasA Geografia É o Nosso Dia-A-Diawilly.saraivaAinda não há avaliações
- Historia Da EducaçãoDocumento157 páginasHistoria Da EducaçãoVerônica NevesAinda não há avaliações
- 2.pressupostos Filosóficos Da EducaçãoDocumento3 páginas2.pressupostos Filosóficos Da EducaçãoMiguel ÂngeloAinda não há avaliações
- A Construção Social Do Conceito Antropológico de CulturaDocumento3 páginasA Construção Social Do Conceito Antropológico de CulturaArisvaldo LeiteAinda não há avaliações
- ART - Por Uma Linguistica Critica (RAJAGOPALAN 2007)Documento8 páginasART - Por Uma Linguistica Critica (RAJAGOPALAN 2007)slytolkienAinda não há avaliações
- A Influência de Marx Na EducaçãoDocumento4 páginasA Influência de Marx Na EducaçãoAnderson Nunes FernandesAinda não há avaliações
- Teoria Bioecológica Do Desenvolvimento Humano - Fases e Ampliações Da AbordagemDocumento11 páginasTeoria Bioecológica Do Desenvolvimento Humano - Fases e Ampliações Da AbordagemSarah SoaresAinda não há avaliações
- A Importância Da História Da Educação PDFDocumento9 páginasA Importância Da História Da Educação PDFneresluanaAinda não há avaliações
- As Principais Tendências Do Pensamento Antropológico ContemporâneoDocumento9 páginasAs Principais Tendências Do Pensamento Antropológico ContemporâneoMarinalva Silva dos SantosAinda não há avaliações
- A Educação Física Na Pós-Modernidade (2016!03!13 21-49-25 UTC)Documento20 páginasA Educação Física Na Pós-Modernidade (2016!03!13 21-49-25 UTC)Bruno Oliveira Do NascimentoAinda não há avaliações
- O Que É Educação?Documento3 páginasO Que É Educação?aninhazero100% (4)
- Artigo - Educação Ambiental-Sociedades Sustentáveis-Afetos EspinosaDocumento28 páginasArtigo - Educação Ambiental-Sociedades Sustentáveis-Afetos EspinosaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- RÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeDocumento18 páginasRÜSEN - História Entre A Modernidade e PosmodernidadeJuliana GelbckeAinda não há avaliações
- Materialismo Dialetico PDFDocumento71 páginasMaterialismo Dialetico PDFmarcelodegoisAinda não há avaliações
- Laraia - Cultura Conceito Antropológico Ugf ResumoDocumento6 páginasLaraia - Cultura Conceito Antropológico Ugf ResumoLilian Correia100% (1)
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações
- O Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasNo EverandO Ginásio Vocacional de Rio Claro – Perspectivas HistóricasAinda não há avaliações
- A Relevância Do Cadastro para o Registo PredialDocumento8 páginasA Relevância Do Cadastro para o Registo PredialManuel Francisco DamiãoAinda não há avaliações
- Paraísos Fiscais e Lavagem de Dinheiro: Estratégias Relevantes No Processo de Análise e Detecção Pelas Instituições FinanceirasDocumento15 páginasParaísos Fiscais e Lavagem de Dinheiro: Estratégias Relevantes No Processo de Análise e Detecção Pelas Instituições FinanceirasAdriel Santos SantanaAinda não há avaliações
- MsademoDocumento12 páginasMsademoRenato M.liraAinda não há avaliações
- BiologiaDocumento6 páginasBiologiaMurilo EliasAinda não há avaliações
- Prova Cabo pm2012Documento11 páginasProva Cabo pm2012Karoline LimaAinda não há avaliações
- SIMULADO 3 T 6º ANO EspanholDocumento3 páginasSIMULADO 3 T 6º ANO EspanholAmanda Gerardel100% (1)
- Documento Orientador Do Programa de FormaçãoDocumento21 páginasDocumento Orientador Do Programa de FormaçãoDea CortelazziAinda não há avaliações
- Canvas de Negócio Design ThinkingDocumento30 páginasCanvas de Negócio Design ThinkingThay GonçalvesAinda não há avaliações
- Enigmas Matemáticos - AmpliadoDocumento25 páginasEnigmas Matemáticos - AmpliadoAna Cristina100% (1)
- 143395094Documento129 páginas143395094Antonio SoaresAinda não há avaliações
- Práticas Pedagógicas Na Esdi: Uma Proposta para Além Das Origens e IdeiasDocumento9 páginasPráticas Pedagógicas Na Esdi: Uma Proposta para Além Das Origens e IdeiasrickarturAinda não há avaliações
- O Que É Avaliar?Documento13 páginasO Que É Avaliar?Olívia Mendes Praxedes FirminoAinda não há avaliações
- P.E.C. - Perfil Estruturado Por Competências Cargo / Centro de Custo / UnidadeDocumento3 páginasP.E.C. - Perfil Estruturado Por Competências Cargo / Centro de Custo / UnidadeHospital PioXIIAinda não há avaliações
- David Hume (Resumo e Lista)Documento18 páginasDavid Hume (Resumo e Lista)liekawakita2005Ainda não há avaliações
- Capítulo 06 - Eletricidade - 1 - Corrente ElétricaDocumento5 páginasCapítulo 06 - Eletricidade - 1 - Corrente ElétricahuggosoutoAinda não há avaliações
- Razões Recursais - Curso DamásioDocumento10 páginasRazões Recursais - Curso DamásioLeonardo de Aguiar SilveiraAinda não há avaliações
- BeaconportuguesebrazilDocumento1 páginaBeaconportuguesebrazilsegvitaAinda não há avaliações
- Apresentação Oral de PortuguêsDocumento2 páginasApresentação Oral de PortuguêstfilipersAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Bom Exame de ConsciênciaDocumento11 páginasComo Fazer Um Bom Exame de ConsciênciaLieser MendonçaAinda não há avaliações
- A Hora Da Estrela, de Clarice Lispector Impressões de Alunos Do Ensino MédioDocumento13 páginasA Hora Da Estrela, de Clarice Lispector Impressões de Alunos Do Ensino MédioChiara MoreiraAinda não há avaliações
- FORJAZ, Cibele. Notas Sobre o EncenadorDocumento13 páginasFORJAZ, Cibele. Notas Sobre o EncenadorEnjolras de OliveiraAinda não há avaliações
- Fascículo3 - Inundações - Urbanas - V27 - 08 - 12Documento21 páginasFascículo3 - Inundações - Urbanas - V27 - 08 - 12Juliana TenórioAinda não há avaliações
- Pisadinha em Flash BackDocumento4 páginasPisadinha em Flash BackZaira GreisAinda não há avaliações
- MATEUS, Maria Helena Mira (2003) Gramatica PortuguesaDocumento556 páginasMATEUS, Maria Helena Mira (2003) Gramatica PortuguesajosevitorromualdoAinda não há avaliações
- Catalogo PR PintadoDocumento32 páginasCatalogo PR PintadoJeferson Barbosa0% (1)
- Respiração Da LuaDocumento10 páginasRespiração Da LuaJoão Alex Souza VieiraAinda não há avaliações