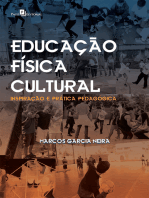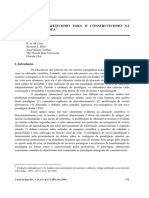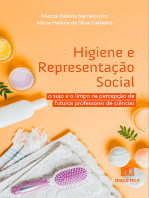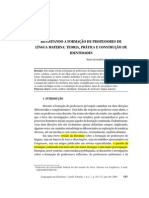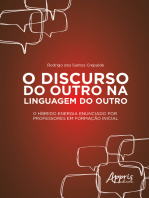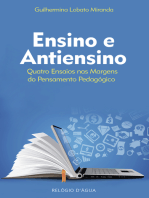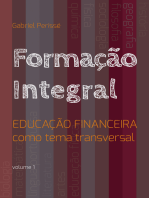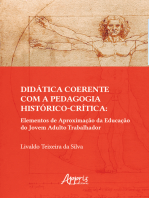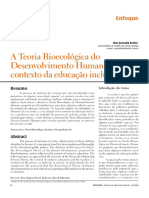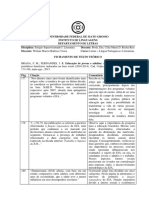Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
9 Fersfenstein 2009
9 Fersfenstein 2009
Enviado por
Felipe Proença0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações12 páginasTítulo original
9Fersfenstein2009
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações12 páginas9 Fersfenstein 2009
9 Fersfenstein 2009
Enviado por
Felipe ProençaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p.
203-214, maio 2009 203
EPISTEMOLOGIA E PRTICA PEDAGGICA
DR. PAULO EVALDO FENSTERSEIFER
Professor do Departamento de Pedagogia da Universidade Regional do Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul (Uniju).
E-mail: fenster@unijui.edu.br
RESUMO
Este texto problematiza a relao entre epistemologia e prtica pedaggica, evidenciando
a interdependncia que se estabelece entre as noes que os prossionais da educao
possuem em relao ao carter do conhecimento que veiculam e suas expectativas no plano
das prticas pedaggicas. Sustentamos que uma relao crtica com essa produo permite
potencializar os sujeitos envolvidos nas situaes de ensino, armao que tem desdobra-
mentos signicativos para o mbito da educao fsica, uma vez que permite redimensionar
a histrica relao teoria-prtica nesta rea.
PALAVRAS-CHAVE: Epistemologia; prtica pedaggica; educao fsica.
miolo3.indd S1:203 27/5/2009 13:36:11
204 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009
Somente se ns mesmos percebermos como nosso
saber e nossa cultura so formados, esse saber ou essa cultura
poder nos formar
(KUNZ, 2001, p. 19).
Ao desenvolver esta temtica percebi o quanto ela se vincula a minha
experincia pedaggica com o componente curricular que desenvolvo em um
curso de graduao em educao fsica, denominado epistemologia da educao
fsica. As questes que levanto no primeiro dia de aula podem dar uma ideia desta
proximidade. So elas:
O que traz vocs para a universidade?
S aqui tem conhecimentos?
Que tipos de conhecimentos existem?
Quais vocs acreditam que predomina na universidade? Por qu?
Desde quando existe o saber cientco?
Ele mais verdadeiro que os demais?
Como estabelecemos o que denominamos verdadeiro?
Como entra a educao nesta histria?
E a educao fsica? Por que na universidade?
Como se produzem seus conhecimentos?
Como entra a epistemologia nesta histria?
O propsito destas interrogaes fundamentalmente levar os alunos a
perceberem o carter histrico-cultural daquilo que tomamos como conhecimentos
verdadeiros, evidenciando o vnculo com o contexto no qual so forjados, sua no-
absolutidade, por um lado, mas sua reconhecida legitimidade por outro. , enm,
ressaltar a contingncia prpria aos saberes, cincia e prpria educao fsica.
Ao assumir esta responsabilidade, ca j evidente o entendimento de episte-
mologia que orienta a disciplina. Nas palavras de um aluno: Epistemologia estuda
como se chegou a um determinado conhecimento considerado verdadeiro.
Sabemos que o conhecimento herdeiro da noo de episteme hoje o
conhecimento cientco, fundamental ento que uma reexo epistemolgica se
debruce sobre o carter deste tipo de conhecimento
1
.
1. Tenho colocado para os alunos que diante da interrogao Educao fsica cincia? cabe, antes
de ensaiar qualquer resposta, questionar ao interlocutor o que ele entende por cincia.
miolo3.indd S1:204 27/5/2009 13:36:11
Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009 205
Maldaner (2000a, p. 392), referindo-se aos professores de qumica, constata
o que seguramente estende-se a boa parte dos professores de que eles tomam
a cincia como revelao por um sujeito cognoscente daquilo que estaria j em-
butido na natureza, escondido atrs dos fenmenos. Tarefa que seria realizada,
pretensamente, aps longas observaes, pelos chamados cientistas. Segundo o
autor, dicilmente encontramos um professor de qumica,
[...] que fala de sua matria como um sistema coerente de conceitos e concepes, criado
pela cultura humana para que o homem pudesse explicar de certa maneira as coisas e
os fenmenos ao seu redor e agir de forma mais coerente sobre o seu meio e sobre a
natureza (MALDANER, 2000a, p. 392).
Perceber a qumica como produo e seu ensino como compreenso desta
produo , segundo Maldaner (idem, p. 392-393), a ruptura epistemolgica de
que necessitamos. Suas pesquisas produziram o entendimento de que a mudana
pedaggica exige compreenso slida da natureza do conhecimento
2
que se deseja
constituir, pois os professores no abrem mo do que esto ensinando enquanto
acreditarem que a cincia um conjunto de verdades descobertas por cientistas
e que o importante memoriz-las.
Neste modelo, nesta lgica, o ideal seria atingirmos a operao do Word
denominada salvar como, na qual s renomeamos os arquivos, que aqui pode-
riam ser professor e aluno, sem nenhum tipo de perda por transferncia. Cabe
destacar que esse modelo, se aplicado lgica de produo dos conhecimentos em
comunidades cientcas, signicaria a estagnao do conhecimento, uma vez que
pressupe a linearidade de um fazer isento dos conitos prprios ao embate crtico.
No entanto, este modelo, j criticado por Paulo Freire, que tem predominado na
formao de professores e, por extenso, na atuao destes no mbito escolar.
Probst (2005, p. 88), por sua vez, identica trs legados da tradio cientco-
positivista ao processo de ensino-aprendizagem moderno. So eles:
[...] o primeiro refere-se exacerbada valorizao da certeza em detrimento da dvida
(CUNHA, 1999, p. 8); o segundo consubstancia-se na inabalvel crena de que o conheci-
mento possa ser transferido (PERRENOUD, 1999, p. 47) atravs da reproduo docente e
da memorizao discente; e o terceiro est calcado no entendimento de que o controle
da aprendizagem discente possa se dar atravs da prova mensurativa-quantitativa.
2. Entendo que, coerente com os pressupostos deste texto, a expresso natureza do conhecimento
deve ser tomada no sentido daquilo que caracteriza/ prprio deste tipo de conhecimento, sua
condio de produo scio-histrica e no-metafsica. Da mesma forma, uma compreenso slida
deste tipo de conhecimento signica reconhecer estas determinaes e, portanto, a precariedade
do conhecimento humano. Fazendo um trocadilho, conhecer solidamente sua insolidez.
miolo3.indd S1:205 27/5/2009 13:36:11
206 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009
Na contramo desta lgica situa-se o pensamento de Marques (1993, p. 11):
no se ensinam ou aprendem coisas, mas relaes estabelecidas em entendimento mtuo
e expressas em conceitos que, por sua vez, so construes histricas, isto , nunca dadas
de vez, mas sempre retomadas por sujeitos em interao e movidos por interesses prticos
no mundo em que vivem. Em vez de o professor operar com conceitos que j aprendeu
e que agora s necessitariam ser reproduzidos nos e pelos alunos, trata-se no ensino,
de ele e os alunos produzirem, em entendimento comum, os conceitos com que iro
operar para entenderem as relaes com que lidam. No se trata de chegar a solues
dadas s questes/problemas, mas de inventar, em cada situao e por cada comunidade
de sujeitos, os conceitos com que iro operar sobre os temas que analisam.
Esta posio no signica que os alunos transformem-se em pequenos
Einsteins, e de que de uma sala de aula, em perodo escolar, saiam candidatos ao
prmio Nobel. Trata-se de reconhecer, na impossibilidade do salvar como, que
o conhecimento sempre produo de sentido. No entendimento de Marques
(idem, p. 110), o encontro pedaggico professor-aluno sempre um processo
vivo e original de construo de conceitos, construo sempre ligada s experincias
de que, em comum participam. O autor prossegue armando que no podemos
incorrer na iluso de que, pelo fato de usarem as mesmas palavras, estejam todos
operando com os mesmos conceitos, quer dizer, com a explicitao dos mesmos
sistemas de relaes percebidas.
Lembro aqui que este entendimento s possvel se rompermos com o
conceito metafsico de verdade ou, como quer Gadamer (1999), libertarmo-nos
das inibies ontolgicas do conceito cientco de verdade, reconhecendo a histo-
ricidade da compreenso. Isso permite Berticelli (2004) pensar a educao como
um compartilhar de sentidos, lembrando que estes j so sempre produzidos
intersubjetivamente, logo, compartilha-se experincias de mundo, processo que
no ameaa o indivduo
3
, dado que a compreenso deste j sempre interpretao
irrepetvel.
Ao compartilhar sentidos de forma dialgica (acordar
4
) e no-estratgica
(sobrepor-se
5
), o processo educacional, segundo Berticelli (idem, p. 306-307),
3. Este como experincia solipsista, j no condiz com uma perspectiva intersubjetiva, a qual preconiza
um sujeito que se constitui no interior de uma linguagem que, enquanto tal, j sempre coletiva.
4. No acordo, arma Gadamer (apud BERTICELLI, 2004, p. 310-311), a diferena nunca se dissolve
na identidade. Quando se diz que h acordo sobre algo, isto no signica que um se identique
em sua opinio com o outro. H co-incidncia. [...] Co-incidir incidir no mesmo lugar. Mas neste
lugar sempre h espao para mais um diferente, no qual algo se pe em comum [...].
5. No entender de Marques (1999, p. 47), [...] argumentar no convencer ou persuadir algum
a respeito de algo, mas chegarem todos a um entendimento novo do assunto em questo, en-
miolo3.indd S1:206 27/5/2009 13:36:11
Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009 207
[...] um processo de produo de sentidos na medida em que discursos os produzem
na sucesso tangencial do perguntar e do responder, consubstanciados no interpretar. A
essncia da educao
6
produzir sentido(s) e interpretar, que equivale se lanar para alm
do agora dito [...]. A busca do conhecimento a busca de sentidos. Fora da linguagem
nenhum sentido possvel. E fora da compreenso de sentidos, nenhuma normatividade
possvel.
Nesta armao condensa-se uma dimenso epistemolgica que reconhece
o carter intersubjetivo da produo do conhecimento e uma dimenso tico-
poltica na pretenso normativa do processo educacional. Normatividade, segundo
Berticelli (2004, p. 158), implica intimamente em processos histrico-sociais de
constituio, em que mundo, linguagem e sentido so indissociveis, o que afasta
qualquer carter metafsico dessa normatividade.
Dada ruptura, anteriormente referida, do carter metafsico da verdade, toda
normatividade no plano educacional passa a pautar-se por verdades argumentativa-
mente sustentadas, logo, daquilo que tomado como verdade por uma determinada
constelao de sujeitos em um referido contexto (mesmo que apelando no plano da
linguagem para referenciais universalistas). Retomando, a educao no perde seu
carter normativo, mas esta normatividade no possui nenhum referente fora da
histria, e a tarefa da atividade epistemolgica precisamente revelar esse carter
das verdades que sustentam toda normatividade, em especial, a educacional.
No mesmo esprito desta reexo, podemos armar que a educao fsica,
como prtica pedaggica, normativa, sendo que as verdades que a sustentam no
se limitam ao ser, mas abrangem um dever-ser
7
, pois entendemos que passado,
presente e futuro so o horizonte do professor. A centralidade da linguagem nos
processos de validao do conhecimento, retirando a exclusividade do foco sujeito-
objeto e deslocando-o para a relao sujeito-sujeito, tambm pode, na perspectiva
que sustento, operar na educao. Portanto, no cabe mais ao professor, assim
como ao cientista, colocar-se no lugar de orculo anunciador de verdades acabadas.
tendimento cooperativamente produzido, pois no resulta da vitria de algum sobre os demais e
no simples soma de diversos pontos de vista, mas reconstruo coletiva de um consenso que
no seria verdadeiro se no signicasse o assentimento de cada um. Os saberes, as convices ou
os valores com que iniciaram os interlocutores o processo de argumentao ao nal no so mais
os mesmos.
6. Mais uma vez necessitamos abandonar, como o faz o autor no conjunto de sua obra, qualquer
referncia tradio metafsica da noo de essncia, ou outra palavra neste contexto, tomando-a
no sentido daquilo que tem constitudo a tradio da educao, valendo-se para isso da sua prpria
historicidade, seu sendo.
7. Na perspectiva que aqui sustento, as verdades a respeito dos valores tambm devem passar por
um processo intersubjetivo de validao.
miolo3.indd S1:207 27/5/2009 13:36:11
208 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009
Assim como essa desmisticao da cincia potencializa o papel do professor (que
deixa de ser um simples repetidor), tambm potencializa o aluno, transformando
a aula em um tempo-espao de produo de saberes, no qual se validam, ou no,
os signicados embutidos nos contedos.
Nos marcos de uma racionalidade intersubjetiva,
[...] possvel transcender as outrora restries de origem subjetivista e edicar uma aula
onde apresentar um contedo do saber [...] signica elencar as razes, os motivos, os
argumentos que foram publicamente aceitos como legtimos para torn-lo um saber vlido.
[...] operar uma reconstruo do processo histrico ou do debate cientco, do qual
aquele saber fruto, fazendo uma mediao hermenutica entre passado e presente a m
de analisar se os argumentos que motivaram o consenso ainda podem ser considerados
pertinentes (PROBST, 2005, p. 86-87).
Essa forma de proceder, que podemos chamar reconstrutiva
8
, mantm
sempre em aberto o processo de validao do conhecimento, retirando com isto
o privilgio de que algum tenha a ltima palavra, seja cientista, professor ou aluno.
As verdades humanas assumem a sua precariedade, estando sempre sob suspeita,
e s sobrevivendo enquanto forem com-validadas
9
por sujeitos concretos em
situaes igualmente concretas. Habermas (1990, p. 100) manifesta que conte-
dos transmitidos culturalmente conguram sempre e potencialmente um saber de
pessoas; sem a apropriao hermenutica e sem o aprimoramento do saber cultural
atravs de pessoas, no se formam nem se mantm tradies.
No iniciamos, portanto, do zero absoluto, e nem estamos condenados a
dizer amm tradio. O processo de aprendizagem, concebido em termos de
ao comunicativa, como o faz Boueuer (1997, p. 77), coloca a educao em
sua dialeticidade fecunda, que se expressa como continuidade histrica aliada a uma
possibilidade criadora
10
.
8. Se reconhecermos que toda reconstruo construo e vice-versa, a necessidade do prexo re
se torna dispensvel.
9. Lembro de memria que o professor Mario Osorio Marques armava que louco no quem
perdeu a razo, mas quem acha que tem razo sozinho. Da mesma forma escreve o poeta Fernando
Pessoa (s/d, p. 57): Se o mundo um erro, um erro de toda a gente. E cada um de ns o erro
de cada um de ns apenas. Cousa por cousa, o Mundo mais certo.
10. Tardif (2002, p. 36) lembra que [...] apesar de ocupar hoje uma posio de destaque no cenrio
social e econmico, bem como nos meios de comunicao, a produo de novos conhecimentos
apenas uma das dimenses dos saberes e da atividade cientca ou de pesquisa. Ela pressupe,
sempre e logicamente, um processo de formao baseado nos conhecimentos atuais: o novo surge
e pode surgir do antigo exatamente porque o antigo reatualizado constantemente por meio dos
processos de aprendizagem. Formaes com base nos saberes e produo de saberes constituem,
por conseguinte, dois polos complementares e inseparveis.
miolo3.indd S1:208 27/5/2009 13:36:11
Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009 209
Pensar a possibilidade criadora, instituinte, faz-se possvel medida que des-
naturalizamos o institudo. Uma concepo de epistemologia restrita conservao,
ou no mximo ao aperfeioamento interno do modelo cientco positivista, s pode
funcionar como justicao de procedimentos dogmatizados e que se sustentam
numa espcie de delrio coletivo. Estes so movidos pela promessa de um saber
total, de uma verdade denitiva a respeito de todos os entes sobre os quais o sujeito
(espcie de franquia da mente divina) lana seu olhar objeticador.
A absolutizao deste modelo de cincia tem levado a um descompasso
entre os chamados epistemlogos e o prprio desdobrar das cincias em busca
de outros modos de produzir conhecimentos (o que alguns chamam paradigmas
emergentes). Algo anlogo ao descompasso entre os crticos de arte, formados
pelos cnones da arte moderna, e a produo de arte contempornea
11
. Asseme-
lham-se coruja que nada enxerga durante o dia (enquanto as coisas acontecem
est polindo suas lentes), s levantando voo ao entardecer, usando sempre os
mesmos culos.
Com o m, ou ao menos a crise, desta estrada real para o conhecimento,
guardada pelos epistemlogos de planto, temos hoje o reconhecimento de que
onde circula conhecimento h construo de conhecimento, ao que a reexo
epistemolgica, ou atividade epistemolgica (FENSTERSFER, 2006), deve permanecer
atenta, auscultando a riqueza desses processos, e levando em conta suas especi-
cidades.
Essa espcie de epistemologia profana, que usa palavras cadas,
arruinadas
12
, no tem a pretenso de ter uma rgua capaz de mensurar o grau
de cienticidade de um saber, mas, por outro lado, no se perde num vale-tudo,
numa noite em que todos os gatos so pardos, pois acredita na legitimidade dos
espaos intersubjetivos capazes de validar verdades dignas de serem pedagogica-
mente ensinadas. Acredito, como Savater (2000, p. 158-159), que
no h educao se no h verdade a ser transmitida, se tudo mais ou menos verdade,
se cada um tem sua verdade igualmente respeitvel e no se pode decidir racionalmente
11. Em entrevista recente, a curadora Catherine David (2005, p. 10) arma que para trabalhar na sua
atividade preciso de uma boa familiarizao com um outro estado de cultura, outras formas de
organizao, outros sistemas de visibilidade e de invisibilidade, pois, de outro modo, no se com-
preende as produes que no correspondem ao modelo com o qual estamos acostumados. Eu
no vou achar artistas como se cata cogumelos. E acrescenta: preciso identicar alguns agentes
culturais e, eventualmente, guras que no correspondem mais gura do artista, entende? Infe-
lizmente, essa prtica ainda est em vigor e provm de vrias coordenadas sociais e econmicas
do sculo 19.
12. Rero-me aqui ao poema de Roberto Juarroz , citado por Larrosa (2004, p. 322-323).
miolo3.indd S1:209 27/5/2009 13:36:11
210 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009
entre tanta diversidade. No se pode ensinar nada se nem o professor acredita na verda-
de do que est ensinando e que verdadeiramente importante sab-lo. O pensamento
moderno, tendo Nietzsche frente, enfatizou com razo a parte de construo social
que existe nas verdades que assumimos e sua vinculao com a perspectiva ditada pelos
diversos interesses sociais em conito. A metodologia cientca e at mesmo a simples
sensatez indicam que as verdades no so absolutas, mas se parecem muito conosco: so
frgeis, revisveis, sujeitas controvrsia e, anal, perecveis. Nem por isso, no entanto,
deixam de ser verdades, isto , mais slidas, justicadas e teis do que outras crenas
que se opem a elas.
O problema aumentaria uma vez que no se trata de transmitirmos
verdades
13
, mas em no revelarmos o carter dessas verdades para o que a atividade
epistemolgica fundamental, bem como desconhecermos as complexidades das
mediaes do conhecimento, em que ensinado e aprendido no se equivalem, e
para isto as reexes pedaggicas so fundamentais
14
.
Sabemos, com Tardif (2002, p. 11), que os conhecimentos que sustentam o
trabalho docente, por um lado, no so exclusivamente provenientes das chamadas
cincias humanas e da educao, mas tambm so oriundos do senso comum. Por
outro lado, destaca ele, que o saber dos professores deve ser compreendido na
relao com o contexto do trabalho, pois o saber sempre o saber de algum que
trabalha alguma coisa no intuito de realizar um objetivo qualquer. Esse processo,
no entender de Maldaner (2000b), deveria articular ensino e pesquisa, superando a
dicotomia entre produo de conhecimento, relegado aos professores universitrios,
e sua aplicao, tarefa dos professores de escolas.
Na educao fsica essa problemtica tem o agravante de uma histrica
dicotomia entre teoria e prtica, encarnada na noo de atividade (fazer pelo
fazer), e em processos de formao centrados em aspectos tcnico-instrumentais.
Fensterseifer (2001, p. 32-33) aponta que:
As instituies de ensino superior, responsveis pela formao desses prossionais, super-
dimensionavam o saber tcnico e as capacidades fsicas em seus currculos, utilizando-os
inclusive como critrio seletivo para ingresso em seus cursos. Como decorrncia disto, os
prossionais de educao fsica mantinham-se afastados das decises poltico-pedaggicas
que lhe diziam respeito, o que os tornava presa fcil de manipulaes, anal, o pensar
no era assumido como parte de suas responsabilidades e o terico, visto com certa
averso, resumia-se a livros estritamente tcnicos e ao conjunto de regras dos desportos
13. Usar a palavra transmitir, posta no index da pedagogia, no signica ignorar que entre o ensi-
nado e o aprendido, h uma distncia incomensurvel.
14. So essas questes que orientaram a escolha da epgrafe deste texto.
miolo3.indd S1:210 27/5/2009 13:36:11
Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009 211
formais. Privado ento dos elementos necessrios para uma reexo crtica sobre seu fazer,
e incapacitado para propor alternativas, sobra-lhe permanecer merc de orientaes
heternomas.
A teoria e, por decorrncia, a pesquisa no eram decididamente a nossa
praia, o que obviamente signicava uma total ausncia de reexes epistemolgi-
cas, pois estas s cabem onde h pretenso de produo de saberes, algo que, em
nosso caso, extremamente recente se tomarmos por referncia os programas
stricto sensu. Lembrando, nossos primeiros cursos de mestrado datam de 1977 e
de doutorado de 1989.
No bastasse isto tudo, a nossa produo do conhecimento caracterizou-
se por um grande distanciamento entre aqueles que se lanaram pesquisa os
chamados tericos, e os que se mantiveram no cotidiano da prtica prossional
os chamados prticos. Esse quadro foi agravado pelo fato de que nesse perodo o
ensino superior estava em franca expanso, absorvendo os quadros formados na
ps-graduao, a qual se orientava, quando eram tratados temas da educao fsica
escolar, mediante uma postura denuncista da realidade.
Esse fosso inviabilizou a articulao entre o que Kunz (2001, p. 10) deno-
minou saberes para o esclarecimento e os saberes para o agir prtico. Decorre
da possuirmos poucos conhecimentos esclarecedores sobre temas fundamentais
especcos da rea e que tem como consequncia o surgimento de poucas solu-
es para seus problemas prticos.
Estamos convencidos hoje da necessidade de superarmos estas diculdades
para produzirmos conhecimentos cientcos relevantes que orientem nossas prticas
pedaggicas. No esqueamos, porm, a lembrana de Lovisolo (1995, p. 21), de
que nem a denio dos valores orientadores da interveno nem a seleo das
disciplinas ou conhecimentos auxiliares so decises cientcas.
O fato de que essas decises no so cientcas nos leva a reconhecer as
determinaes polticas a implicadas, em especial das polticas curriculares e seus
determinantes. O esforo da atividade epistemolgica diante disso , em primei-
ro lugar, abandonar a crena em uma episteme que possa nos orientar nessas
questes e, em segundo lugar, buscar uma melhor compreenso do carter dos
conhecimentos que so mobilizados para dar conta desses propsitos polticos.
Cabe lembrar que vivemos hoje imersos em um niilismo devastador, no qual
os valores normativos, de modo geral, mas em particular na educao, esto em
profunda crise. Os momentos de crise, porm, carregam certa ambiguidade, pois se
os valores estabelecidos no mais se sustentam, abre-se a possibilidade da armao
de novos valores, assumindo, como prope Maldaner (2000b, p. 65),
miolo3.indd S1:211 27/5/2009 13:36:11
212 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009
[...] uma prtica educativa que pode ser permanentemente questionada e reinventada por
ser uma prtica humana, portanto, histrica cultural. Se aceitarmos essas caractersticas para
a prtica educativa, mais facilmente vamos admitir que ela pode ser diferente, mas que
precisa ser produzida na interao entre sujeitos que se identicam em uma comunidade
de produo de saberes e conhecimentos.
Por m, sem forjar ilusionismos, cabe apostar, sem garantias metafsicas,
que solues tanto de carter epistemolgico quanto pedaggico dependem dos
envolvidos. E, por melhor que elas sejam, no esto livres da historicidade e ni-
tude da condio humana. Este o preo da maioridade pela qual temos lutado e
daqueles que acreditam que o dever ser da educao fsica no deva ser entregue
ao destino.
Epistemology and pedagogical practice
ABSTRACT: This text discusses the relation between epistemology and pedagogical practice,
showing the interdependence established between the notions that professionals in the eld
of education have about the type of knowledge they convey and their expectations concerning
pedagogical practices. We understand that a critical relation with this production can empower
the subjects involved in teaching situations, such a statement implies signicant developments
to the eld of Physical Education, since it can add extra dimensions to the historical relation
between theory and practice in this area.
Key words: Epistemology; pedagogical practice; physical education.
Epistemologa y prctica pedaggica
RESUMEN: ste texto problematiza la relacin entre epistemologa y prctica pedaggica
evidenciando la interdependencia que se establece entre las nociones que los profesionales
de la educacin poseen en relacin al carcter del conocimiento que manejan, y sus ex-
pectativas en el plan de las prcticas pedaggicas. Sostenemos que una relacin crtica con
esa produccin permite potenciar los sujetos involucrados en las situaciones de enseanza,
armacin que tiene escisiones signicativas para el mbito de la Educacin Fsica a la vez
que permite redimensionar la histrica relacin teora-prctica en esta rea.
Palabras claves: Epistemologa, prctica pedaggica, educacin fsica.
REFERNCIAS
BERTICELLI, Ireno Antnio. A origem normativa da prtica educacional na linguagem. Iju,
RS: Ed. Uniju, 2004.
BOUFLEUR, Jos Pedro. Pedagogia da ao comunicativa: uma leitura de Habermas. Iju,
RS: Ed. Uniju, 1997.
miolo3.indd S1:212 27/5/2009 13:36:11
Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009 213
DAVID, Catherine. O jogo do belo e da razo. Folha de S. Paulo, So Paulo, 16 out. 2005.
Caderno Mais!, p. 10.
FENSTERSEIFER, Paulo Evaldo. A educao fsica na crise da modernidade. Iju, RS: Ed.
Uniju, 2001.
. Atividade epistemolgica e educao fsica. In: NBREGA, T. P. (Org.).
Epistemologia, saberes e prticas da educao fsica. Joo Pessoa, PB: Universitria/UFPB,
2006.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e mtodo. Petrpolis, RJ: Vozes, 1999.
HABERMAS, Jrgen. Pensamento ps-metafsico: estudos loscos. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1990.
KUNZ, Elenor. Fundamentos normativos para as mudanas no pensamento pedaggico
em educao fsica no Brasil. In: CAPARRZ, F. E. (Org.). Educao fsica escolar: poltica,
investigao e interveno. Vitria, ES: Proteoria, v. 1, 2001.
LARROSA, Jorge. Linguagem e educao depois de Babel. Belo Horizonte: Autntica, 2004.
LOVISOLO, Hugo. Educao fsica: arte da mediao. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
MALDANER, Otvio. A formao inicial e continuada de professores de qumica professores/
pesquisadores. Iju, RS: Ed. Uniju, 2000a.
. Concepes epistemolgicas no ensino de cincias. In: SCHNETZLER,
R. P. (Org.). Ensino de cincias: fundamentos e abordagens. Campinas, SP: R. Vieira Grca
e Editora/Capes/Unimep, 2000b.
MARQUES, Mario Osorio. Conhecimento e modernidade em reconstruo. Iju, RS: Ed.
Uniju, 1993.
. Botar a boca no mundo: cidadania, poltica e tica. Iju, RS: Ed. Uniju,
1999.
PESSOA, Fernando. Antologia potica. Introduo e Seleo de Walmir Ayala. Rio de Janeiro:
Tecnoprint, s/d.
PROBST, Carlos Guilherme. A identidade terico-losca docente e suas implicaes na
avaliao do processo de ensino-aprendizagem nas cincias jurdicas. Projeto de dissertao
apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Educao nas Cincias (Mestrado) Uni-
versidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Iju, Ed. Uniju, 2005.
SAVATER, Fernando. O valor de educar. So Paulo: Martins Fontes, 2000.
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formao prossional. Petrpolis, RJ: Vozes, 2002.
miolo3.indd S1:213 27/5/2009 13:36:11
214 Rev. Bras. Cienc. Esporte, Campinas, v. 30, n. 3, p. 203-214, maio 2009
Recebido: 15 out. 2008
Aprovado: 13 mar. 2009
Endereo para correspondncia
Paulo Evaldo Fensterseifer
Rua das Chcaras, 632
Iju-RS
CEP 98700-000
miolo3.indd S1:214 27/5/2009 13:36:11
Você também pode gostar
- A atitude interdisciplinar docente e o desenvolvimento humano: foco no ensino médio de uma escola públicaNo EverandA atitude interdisciplinar docente e o desenvolvimento humano: foco no ensino médio de uma escola públicaAinda não há avaliações
- Epistemologia, Formação de Professores e Práxis Educativa TransformadoraDocumento20 páginasEpistemologia, Formação de Professores e Práxis Educativa TransformadoraJanaina LeitinhoAinda não há avaliações
- Educação e A Teoria Da ComplexidadeDocumento10 páginasEducação e A Teoria Da Complexidadebezerra88Ainda não há avaliações
- Educação Física Cultural: Inspiração e Prática PedagógicaNo EverandEducação Física Cultural: Inspiração e Prática PedagógicaAinda não há avaliações
- Prática de Ensino 2 - Ap1Documento20 páginasPrática de Ensino 2 - Ap1Cristiano SouzaAinda não há avaliações
- Crítica à moral pura: uma reflexão dialética sobre o ensino de valores na educação básicaNo EverandCrítica à moral pura: uma reflexão dialética sobre o ensino de valores na educação básicaAinda não há avaliações
- Epistemologias e processos formativos em Ciências e MatemáticaNo EverandEpistemologias e processos formativos em Ciências e MatemáticaAinda não há avaliações
- Educação em busca de sentido: Pedagogia inspirada em Viktor FranklNo EverandEducação em busca de sentido: Pedagogia inspirada em Viktor FranklAinda não há avaliações
- O Lugar Da Pratica Pedagogica e Dos Saberes DocentDocumento7 páginasO Lugar Da Pratica Pedagogica e Dos Saberes DocentMiriã L OliveiraAinda não há avaliações
- Formação Continuada de Professoras no Espaço-Tempo da Escola Infantil: Relações de Poderes e SaberesNo EverandFormação Continuada de Professoras no Espaço-Tempo da Escola Infantil: Relações de Poderes e SaberesAinda não há avaliações
- A Formação de Conceitos CientíficosDocumento17 páginasA Formação de Conceitos CientíficosMilton ÁvilaAinda não há avaliações
- Para além da aprendizagem - Educação democrática para um futuro humanoNo EverandPara além da aprendizagem - Educação democrática para um futuro humanoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Educação Sensoperceptiva: o sujeito em aprendizagens, símbolos e processos de comunicaçãoNo EverandA Educação Sensoperceptiva: o sujeito em aprendizagens, símbolos e processos de comunicaçãoAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Epistemologia de Maria LuciaDocumento2 páginasFichamento Do Texto Epistemologia de Maria LuciacristianesousaAinda não há avaliações
- Texto 4 - Paradigmas e Seus Tipos No Exercícios DocenteDocumento5 páginasTexto 4 - Paradigmas e Seus Tipos No Exercícios Docentejpmenezes025Ainda não há avaliações
- Empatia Histórica e RPG No Ensino de HistóriaDocumento15 páginasEmpatia Histórica e RPG No Ensino de HistóriaJuliano Da Silva PereiraAinda não há avaliações
- Aspectos Do Normal e Do Patológico Na Educação EspecialDocumento17 páginasAspectos Do Normal e Do Patológico Na Educação EspecialFlávio RodriguesAinda não há avaliações
- Integração e Interdisciplinaridade Uma Ação PedagógicaDocumento3 páginasIntegração e Interdisciplinaridade Uma Ação PedagógicamarciamoutinhoAinda não há avaliações
- Conhecimento e Pesquisa Nas Ciências HumanasDocumento14 páginasConhecimento e Pesquisa Nas Ciências HumanasRaimundo Marcio DE CastroAinda não há avaliações
- 7145-Texto Do Artigo-21507-1-10-20081003Documento12 páginas7145-Texto Do Artigo-21507-1-10-20081003Leonilde Fazine ChachineAinda não há avaliações
- Educação escolar em busca de sentido: estudo de caso de uma escola fundamentada em Viktor FranklNo EverandEducação escolar em busca de sentido: estudo de caso de uma escola fundamentada em Viktor FranklAinda não há avaliações
- Docência DecenteDocumento8 páginasDocência DecenteRaphaela Nogueira de AlmeidaAinda não há avaliações
- 5 Analogias Metaforas e A Construcao Do ConhecimentoDocumento16 páginas5 Analogias Metaforas e A Construcao Do ConhecimentoEduardo MachadoAinda não há avaliações
- Danilo STRECK 2012Documento17 páginasDanilo STRECK 2012ferferrrAinda não há avaliações
- Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: A Defesa do Conhecimento na Educação das Novas GeraçõesNo EverandPedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: A Defesa do Conhecimento na Educação das Novas GeraçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Ensino de Evolução: uma análise histórico-culturalNo EverandO Ensino de Evolução: uma análise histórico-culturalAinda não há avaliações
- Epistemológia Entre Sujeito-ObjetoDocumento4 páginasEpistemológia Entre Sujeito-ObjetoEvandro MartinsAinda não há avaliações
- Interdiciplinaridade Curricular ThaynanDocumento10 páginasInterdiciplinaridade Curricular ThaynanMaria CarlaAinda não há avaliações
- Caminhos da Educação: debates e desafios contemporâneos: - Volume 3No EverandCaminhos da Educação: debates e desafios contemporâneos: - Volume 3Ainda não há avaliações
- Hermenêutica e formação (Bildung): a perspectiva de GadamerNo EverandHermenêutica e formação (Bildung): a perspectiva de GadamerAinda não há avaliações
- O "Saber de Experiência Feito" em Paulo FreireDocumento14 páginasO "Saber de Experiência Feito" em Paulo FreireJulio SosaAinda não há avaliações
- Educação superior:: Tramas e trilhas para o desenvolvimento profissional docente e institucionalNo EverandEducação superior:: Tramas e trilhas para o desenvolvimento profissional docente e institucionalAinda não há avaliações
- 06-O Que Significa AprenderDocumento4 páginas06-O Que Significa AprenderDaniel JunioAinda não há avaliações
- Impressao - 02 - 02Documento15 páginasImpressao - 02 - 02ricmanu ManoelAinda não há avaliações
- Gkafure, 08 EXPERIÊNCIA E SENTIDO COMO PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO RevisadoDocumento11 páginasGkafure, 08 EXPERIÊNCIA E SENTIDO COMO PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO RevisadoAndrey TorquesAinda não há avaliações
- Higiene e Representação Social: o sujo e o limpo na percepção de futuros professores de ciênciasNo EverandHigiene e Representação Social: o sujo e o limpo na percepção de futuros professores de ciênciasAinda não há avaliações
- A Relação Entre Epistemologia e EducaçãoDocumento19 páginasA Relação Entre Epistemologia e EducaçãoDani Boneti (Dany)Ainda não há avaliações
- PoiesisDocumento6 páginasPoiesisAdalberto PinheiroAinda não há avaliações
- Resumo de PESQUISA PEDAGÓGICA IDocumento7 páginasResumo de PESQUISA PEDAGÓGICA ILarissa BernardoAinda não há avaliações
- Estruturas Do Conhecimento Pedagógico Docente em Tempos PandêmicosDocumento19 páginasEstruturas Do Conhecimento Pedagógico Docente em Tempos PandêmicosgiovanascavassaAinda não há avaliações
- Maria Bernadete OliveiraDocumento17 páginasMaria Bernadete OliveiraFranciela ZamariamAinda não há avaliações
- Ppe - 2 - Texto - 2 - Interdisciplinaridade e Formação Docente Fvero Et Al 2019 - Documentos GoogleDocumento13 páginasPpe - 2 - Texto - 2 - Interdisciplinaridade e Formação Docente Fvero Et Al 2019 - Documentos GoogleLetícia GarciaAinda não há avaliações
- O Discurso do Outro na Linguagem do Outro: O Híbrido Energia Enunciado por Professores em Formação InicialNo EverandO Discurso do Outro na Linguagem do Outro: O Híbrido Energia Enunciado por Professores em Formação InicialAinda não há avaliações
- Isabel Campos Araujo PaduaDocumento16 páginasIsabel Campos Araujo PaduaTeresa SoaresAinda não há avaliações
- A Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisNo EverandA Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisAinda não há avaliações
- ARTIGO Débora, Emile, RosangelaDocumento7 páginasARTIGO Débora, Emile, RosangeladeboraAinda não há avaliações
- Didática Coerente com a Pedagogia Histórico-Crítica: Elementos de Aproximação da Educação do Jovem Adulto TrabalhadorNo EverandDidática Coerente com a Pedagogia Histórico-Crítica: Elementos de Aproximação da Educação do Jovem Adulto TrabalhadorNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pedagogia Do Evento - Dennis Atkinson - TraduzidoDocumento17 páginasPedagogia Do Evento - Dennis Atkinson - TraduzidoJuliana QueirozAinda não há avaliações
- MABEL Aprendizagem Ao Longo Da Vida...Documento14 páginasMABEL Aprendizagem Ao Longo Da Vida...ADRIANA MOREIRA DA ROCHA VEIGAAinda não há avaliações
- A Epistemologia Da EducaçãoDocumento8 páginasA Epistemologia Da Educaçãomedaly99Ainda não há avaliações
- Aprendizagem Significativa ConceitosDocumento6 páginasAprendizagem Significativa Conceitoscaduanegues100% (1)
- Narrativas autobiográficas de professores: Quando nossas memórias contam nossa trajetória de formaçãoNo EverandNarrativas autobiográficas de professores: Quando nossas memórias contam nossa trajetória de formaçãoAinda não há avaliações
- Abrantes e Martins. A Produção Do Conhecimento Científico - Relação Sujeito-Objeto, 2007Documento14 páginasAbrantes e Martins. A Produção Do Conhecimento Científico - Relação Sujeito-Objeto, 2007crisporumtrizAinda não há avaliações
- cachapuz+revis+2023 (1)Documento21 páginascachapuz+revis+2023 (1)DANIELE CRISTINA DE SOUZAAinda não há avaliações
- Algumas Reflexões Sobre o Conceito de Empatia e o Jogo de RPG No Ensino de HistóriaDocumento15 páginasAlgumas Reflexões Sobre o Conceito de Empatia e o Jogo de RPG No Ensino de HistóriaRogérioBrasilAinda não há avaliações
- A Interação Social em Paulo Freire e VygotskyDocumento10 páginasA Interação Social em Paulo Freire e VygotskyJoselia PraxedesAinda não há avaliações
- Fensterseifer 2006Documento10 páginasFensterseifer 2006Tafarel SilvaAinda não há avaliações
- Tese Claudio FelixDocumento268 páginasTese Claudio FelixTafarel SilvaAinda não há avaliações
- Taffarel - Escobar 1994Documento6 páginasTaffarel - Escobar 1994Tafarel SilvaAinda não há avaliações
- Original Texto 102 - Esporte Na Escola e o Esporte de Rendimento Celi Zulke TaffarelDocumento17 páginasOriginal Texto 102 - Esporte Na Escola e o Esporte de Rendimento Celi Zulke TaffarelTafarel SilvaAinda não há avaliações
- Carmo Junior 2011Documento11 páginasCarmo Junior 2011Tafarel SilvaAinda não há avaliações
- Carmo Junior 1995Documento10 páginasCarmo Junior 1995Tafarel SilvaAinda não há avaliações
- P1 - Psicogêneses Da Linguagem 2021.1Documento10 páginasP1 - Psicogêneses Da Linguagem 2021.1Jon SnowAinda não há avaliações
- Guia Didático - Sala de Ambientação e Introdução Aos Cursos de EaD Da UEMADocumento11 páginasGuia Didático - Sala de Ambientação e Introdução Aos Cursos de EaD Da UEMADaniel FerreiraAinda não há avaliações
- FURLANETTO, E C. Tomar A Palavra: Uma Possibilidade de Formação.Documento8 páginasFURLANETTO, E C. Tomar A Palavra: Uma Possibilidade de Formação.eliane.belaniAinda não há avaliações
- 2a. Comunidades PrimitivasDocumento2 páginas2a. Comunidades PrimitivasSonia Souza100% (1)
- Estudo de LiderançaDocumento225 páginasEstudo de Liderançawrmunhoz100% (1)
- Guia para Interposição de RecursosDocumento7 páginasGuia para Interposição de RecursosE. E. Alvacy de FreitasAinda não há avaliações
- (2.1) JogoParticulas10 - CAP - (FichaDiagnostico)Documento6 páginas(2.1) JogoParticulas10 - CAP - (FichaDiagnostico)Sara NaveAinda não há avaliações
- PCC Didática - Marina Bacelar Viana Barreto PDFDocumento2 páginasPCC Didática - Marina Bacelar Viana Barreto PDFFernanda BacelarAinda não há avaliações
- Carl Rogers EducaçãoDocumento142 páginasCarl Rogers EducaçãoFrederico Fernando NaguelAinda não há avaliações
- Introdução À Educação A DistânciaDocumento38 páginasIntrodução À Educação A DistânciaMarcos CruzAinda não há avaliações
- Avaliação Sumativa 02Documento1 páginaAvaliação Sumativa 02calbertina576Ainda não há avaliações
- Matrizes 2023 - EMG - Linguagens 1 SérieDocumento29 páginasMatrizes 2023 - EMG - Linguagens 1 SériebembenjamimAinda não há avaliações
- U1S3 - Atividade de AprendizagemDocumento7 páginasU1S3 - Atividade de AprendizagemPedro CruzAinda não há avaliações
- Gestão de Materiais e PatrimônioDocumento18 páginasGestão de Materiais e Patrimônioclara potterAinda não há avaliações
- Ruy Krebs (2010) Contexto Da Educação InclusivaDocumento6 páginasRuy Krebs (2010) Contexto Da Educação InclusivaCarolina Nutri100% (1)
- Tabela Colorida - Sistemas de Pontuação-Conversa - 231104 - 201850Documento2 páginasTabela Colorida - Sistemas de Pontuação-Conversa - 231104 - 201850FabianaAinda não há avaliações
- Manual GalegoDocumento495 páginasManual Galegoone2100% (1)
- Projeto Extensao UnoparDocumento23 páginasProjeto Extensao UnoparAndréa Evelise Debatin100% (1)
- Apostila Cinotécnico Versao 2018Documento226 páginasApostila Cinotécnico Versao 2018diegotaniguchiAinda não há avaliações
- Fichamento SciELODocumento4 páginasFichamento SciELOwillianbarbosaAinda não há avaliações
- Projeto de Extensão I - AdministraçãoDocumento5 páginasProjeto de Extensão I - Administraçãotrabalhos nota10spAinda não há avaliações
- Avaliação CVE SENASPDocumento4 páginasAvaliação CVE SENASPRose Claelton Nascimento67% (3)
- Caso NailtonDocumento2 páginasCaso NailtonalehandroAinda não há avaliações
- DiversidadeDocumento7 páginasDiversidadeMARIA NIEDJA PEREIRA MARTINSAinda não há avaliações
- 1 Serie 1 e 2 BimDocumento119 páginas1 Serie 1 e 2 BimCintia Ribeiro Alher De OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila Didática I - UnisulDocumento296 páginasApostila Didática I - UnisulJumeinerz100% (1)
- 10 Hist BDocumento13 páginas10 Hist BMartim DiasAinda não há avaliações
- Fichamento 4 de EstagioDocumento3 páginasFichamento 4 de EstagioMônica Andrade ModestoAinda não há avaliações
- Atividades Avaliativas AprendizagemDocumento7 páginasAtividades Avaliativas AprendizagemGabriela AmadorAinda não há avaliações
- 4 - Maquetes Volumétricas 2Documento24 páginas4 - Maquetes Volumétricas 2RosiAraujo2403Ainda não há avaliações