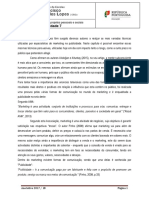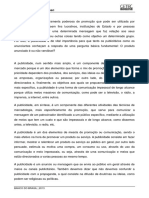Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Prod Graf Eletronica
Apostila Prod Graf Eletronica
Enviado por
Prs David Angelica Menezes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações144 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações144 páginasApostila Prod Graf Eletronica
Apostila Prod Graf Eletronica
Enviado por
Prs David Angelica MenezesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 144
1
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE GOIS
Publicidade e Propaganda
APOSTILA DE PRODUO
GRFICA E ELETRNICA
Prof. Ms. lvaro de Melo Filho
Goinia
2011
2
CAPTULO 1
INTRODUO COMUNICAO
Durante pouco mais de trs sculos, a propaganda brasileira foi quase
exclusivamente oral. Fora escassos avisos em locais pblicos (oficiais,
comerciais ou religiosos), esteve entregue aos arautos e ambulantes. S em
1808, surgiu o nosso primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, e nele o
nosso primeiro anuncio. A partir da, podemos determinar as vrias fases que
trilhamos.
Por todo sculo XIX, tivemos o predomnio dos jornais. E com eles, o
classificado imperou. No entanto, quando alcanamos a virada do sculo (XIX),
publicvamos grandes anncios ilustrados. Textos de poetas, desenhos de
artistas. Nos dois campos sempre brilhavam nomes conhecidos. Estvamos
preparados.
O segundo tempo da propaganda comea, exatamente em 1900, com a nossa
revista inicial: Revista da Semana. Com influencia francesa, cultural no
genrico e art-nouveau no estilo, que se refletia na propaganda fortemente, em
peas de maior bom gosto, ns tnhamos revistas que surgiam com um belo
padro grfico que ningum imaginava avanar to rpido.
Com o advento e o avano da tecnologia, os meio de comunicao deram um
salto to grande que nos traz aos dias atuais. Onde vivemos, como diz Ricardo
Ramos em seu livro Propaganda, em uma aldeia global, expresso
contempornea, que quer dizer que nos inscrevemos no mundo, temos com ele
uma relao de mo-dupla, receptiva e transmissora. (1998, p.32)Com todos
os recursos tecnolgicos que dispomos, ningum sabe, de imediato, do
amanh. E com isso, sofremos uma constante mudana, onde temos que nos
adaptar no dia-a-dia.
Segundo Armando SantAnna em seu livro Propaganda: teoria tcnica e
prtica, A urbanizao da populao e a concentrao de grandes massas
3
urbanas em reas metropolitanas acentuam ainda mais a revoluo que se
vem processando nos mtodos de comercializao dos produtos e no perfil do
consumidor. (2000, p.10) O desenvolvimento dos meios de transporte elimina
os centros econmicos, aproximando todas as atividades comerciais, estejam
elas onde for, lgico que existem aperfeioamentos no sentido de distribuio e
comercializao, mas o consumidor passa a estar no centro de tudo. Ao
mesmo tempo, o desenvolvimento do sistema nacional de telecomunicaes
promove a integrao nacional na rea de comunicaes culturais, comerciais
e promocionais.
Segundo SantAnna, A propaganda tem que falar a linguagem de uma
gerao mais instruda, mais objetiva, mais arejada e moderna. (2000, p.11)
Ele ainda afirma que um dos maiores problemas da sociedade moderna o da
comunicao, diz que comunicar bem um dos grandes segredos do xito em
nossa sociedade. E a propaganda , por excelncia, a tcnica de comunicar.
E comunicar apenas, no basta. Do ponto de vista de Francisco Gracioso, em
seu livro Propaganda Engorda e Faz Crescer a Pequena Empresa, ... no
existe boa propaganda se ela est solta no espao, sem o apoio de uma boa
estratgia de marketing (2002, p.59). Segundo ele, a propaganda deve ser
encarada como uma parte do conjunto de atividades que compem o
marketing, ou seja, o conjunto de atividades que tem por objetivo criar ou
estimular a demanda por nossos produtos e servios, satisfazendo s
necessidades e expectativas do consumidor.
Gracioso faz certas afirmaes que podem parecer polmicas sob a viso dos
publicitrios, mas convincente quando afirma que: Na verdade, a
propaganda no a alma do negcio, mas ajuda muito. Ela caixa de
ressonncia que amplifica e aumenta a penetrao de tudo o que fazemos em
nossa loja ou fbrica.(2002, p.19).
A propaganda informa e relembra o consumidor da existncia de um produto,
persuade-o dos benefcios que poder desfrutar se compr-lo e predispe-no a
4
fazer tal compra. A falta de uma viso clara de nosso papel no mercado uma
das principais razes para tantos fracassos.
A resposta para o xito nem sempre est onde esperamos, e por isso conhecer
os atributos e as maneiras que as ferramentas de marketing podem se
relacionar com a publicidade s aumentam as possibilidades de um trabalho de
sucesso.
Deve haver um gerenciamento de propaganda. Que junto com a promoo de
vendas e a relaes pblicas, formam as trs principais ferramentas a serem
trabalhadas na publicidade. (Comunicao Integrada)
Segundo Philip Kotler, Para desenvolver um programa, os gerentes de
marketing, devem sempre comear pela identificao do mercado-alvo e dos
motivos do comprador. Depois, podem tomar as principais decises no
desenvolvimento de uma campanha publicitria, conhecidas como os 5 Ms.
Misso: quais so os objetivos da propaganda? Moeda: quanto gastar?
Mensagem: que mensagem deve ser transmitida? Mdia: que meios devem ser
utilizados? Mensurao: como sero avaliados os resultados? (2000, p.596).
Ainda que no venha trabalhar diretamente o marketing, necessrio que o
profissional de propaganda saiba seus conceitos e fundamentos para que haja
uma integrao entre o plano de marketing feito para um produto ou servio e a
comunicao (campanha publicitria) feita para oferecer razes para o
consumidor comprar tal produto ou servio. S assim, alcanam-se os objetivos
estipulados e almejados por um cliente. A falta de informao ou a m
interpretao de dados podem sacrificar uma campanha inteira.
Segundo Francisco Gracioso, os objetivos de uma comunicao eficiente
jamais poderiam ser atingidos com o emprego unicamente da propaganda.
Vendas e distribuio so fatores importantes, da mesma forma que a
embalagem e a exposio no ponto-de-venda. O preo tambm vital, sem
falar no prprio produto, do qual tudo depende, em ltima anlise (2002, p.36)
Alis, o autor, mais pra frente ressalta mais uma vez a importncia da
5
embalagem, dizendo: A embalagem pode ser uma pea promocional em si
mesma, informando, persuadindo e valorizando o produto. (2002, p.66). Em
suma, no conjunto desses esforos de marketing, a propaganda contribuir
para o xito dos objetivos estipulados, difundindo informaes, criando ou
modificando atitudes mentais e predispondo o consumidor a uma ao benfica
a nossos interesses.
SantAnna afirma que compramos aquilo que nos agrada e no o que nos
til. No compramos o que realmente precisamos, mas sim o que desejamos.
Os produtos valem, no por suas qualidades intrnsecas, mas pelo prestigio ou
satisfao que eles conferem. sobretudo esse prestgio (o valor psicolgico
ou subjetivo) dos objetos que a publicidade deve salientar e vender, pois ele
que d ao consumidor a verdadeira satisfao. No se deve, porm, iludir a
massa. O valor subjetivo de um produto deve ser fundamentado em qualidades
reais. (2000, p.91). Por isso, a agncia que souber trabalhar produto,
distribuio, embalagem, vendedores, promoo de vendas, preo e a
publicidade em si, juntamente com o sentimento e o desejo, s ter que colher
os frutos, afinal, a publicidade s eficaz quando existe um germe de desejo,
consciente ou inconscientemente, em cada um dos indivduos a quem ela se
dirige. (2000, p.95)
Concluindo, SantAnna expressa a funo da publicidade: comunicar a um
pblico especfico informaes e uma idia que estimule a ao.
precisamente, atuar na mente da massa, condicionando-a para o ato da
compra. Seu propsito transmitir informaes e criar atitudes acerco do
produto de tal forma que o consumidor fique predisposto a compr-lo. Ela
tambm conhecimento, dando maior identidade ao produto e empresa,
aumentando a convico racional e emocional do consumidor em relao ao
produto. (2000, p.122)
Hoje em dia a agncia de publicidade uma empresa independente sem
filiao legal ou econmica com o anunciante, que se dedica ao planejamento,
execuo e distribuio da publicidade de qualquer firma que precise de tais
servios.
6
SantAnna afirma: Uma agncia , antes de mais nada, os clientes que ela
conquista e conserva. Os servios ela presta porque tem bons profissionais. A
agncia a soma dos talentos a seu servio na criao, arte, mdia,
planejamento, pesquisa e administrao. Assim, o negcio publicitrio repousa
sobre a qualidade dos servios prestados, e nele h uma constante, o talento.
(2000, p.242)
As funes da agncia so, essencialmente, aconselhar e assistir o cliente em
seus problemas de publicidade, promoo de vendas e, eventualmente, de
relaes pblicas. sua funo tambm garantir o mximo de eficincia e
rendimento das campanhas, para isso deve acompanhar as atividades de seus
clientes.
Consagrando as palavras de SantAnna: O trabalho publicitrio resultado de
um grande esprito de equipe, nunca a tarefa de um s homem. O anncio
eficiente aquele bem fundamentado, bem planejado, bem pensado, bem
produzido e bem veiculado. (2000, p.263)
7
CAPTULO 2
Uma histria da construo artstica do layout da propaganda brasileira
O anncio
A propaganda nasce como expresso de uma necessidade de formao
diversa daquela que o jornalismo comeava a suprir to bem. O veculo
preferencial, alm do boca a boca, era o jornal. Ou seja: a propaganda nasceu
prestando servios, na forma que poderamos chamar de primrdios dos
classificados modernos.
Do ponto de vista estrutural, ela surgiu como brao informativo do sistema
econmico em que se inseria, num tempo em que as cidades cresciam e as
populaes comeavam a passar de centenas de milhares. Contar aos outros
transformou-se em comunicar alguma coisa ao mercado.
O anncio, formato to habitual na mdia impressa contempornea, nasce
assim de uma colagem de recursos e manifestaes preexistentes e
conhecidos. Da literatura e do jornalismo, a publicidade importou o texto; do
desenho e da pintura, trouxe as ilustraes dando origem a algo diverso e
novo, mas de certa forma j incorporado ao universo conhecido das pessoas.
Uma armadilha para assegurar eficcia aos objetivos publicitrios de comunicar
e vender.
Ao longo de sua histria, no entanto, o anncio publicitrio vai ganhar tal
personalidade e independncia em relao a suas formas de origem que se
transformar, por si prprio, num cone cultural da sociedade moderna e da
comunicao de massa.
No final do sculo XIX, os anncios deixam de ser meros classificados para
assumirem uma personalidade mais parecida com a que conhecemos hoje.
Crescem de tamanho e ganham qualidade grfica.
Tambm o esprito do anncio j outro, bem mais leve, irreverente, solto,
eventualmente com um toque de humor e a primeira presena daquilo que
mais tarde se chamaria de criatividade publicitria: no mais a mensagem com
forma e contedo de um comunicado direto, mas embrulhada num pacote de
elementos, que requerem a participao inteligente e a cumplicidade do
consumidor para decifr-los.
A agncia de propaganda
Dos anunciantes nacionais que conhecemos hoje, o mais importante dos
primeiros dez anos do sculo XX a cervejaria Antarctica, que produziu no
perodo peas de qualidade, com esprito e forma inspirados no art-noveau.
So todas feitas pela prpria companhia e produzidas internamente.
8
Genericamente, os anncios das companhias internacionais so j de melhor
padro do que a maior parte da comunicao das empresas brasileiras.
Importam know-how e tcnicas desenvolvidas nos Estados Unidos, onde a
publicidade consolidou modelos e processos comprovadamente eficazes desde
o incio de sua histria.
Sem jeito de Brasil
Por ser assim, a propaganda das empresas estrangeiras, embora correta para
os padres da poca, no tem muito a ver com a cultura brasileira, nem com os
hbitos de consumo nacionais. Funcionava porque a comunicao publicitria
tende a gerar resultados, mesmo no sendo de alta qualidade e mesmo no
respeitando a cultura local. O consumidor brasileiro desenvolveria seu
repertrio particular anos depois (nas dcadas de 1960 e 1970, mais
propriamente), a partir do interesse de alguns anunciantes e do trabalho
especfico de algumas agncias (e profissionais de criao) nacionais, que
tentaro, teimosamente, descobrir como que se faz propaganda com sotaque
de Brasil.
Layout o design da pgina impressa
O layout um processo que a maioria dos artistas grficos tende a considerar
como absoluto, resultado de uma ao intuitiva que dispensa anlise ou
avaliao. Na verdade, porm, h evidncias quase dirias de que este um
processo que precisa ser melhor compreendido pelos profissionais.
O estudo do design contemporneo revela indiscutvel inter-relao de todas as
suas modalidades - industrial, de arquitetura, de interior e grfica -, da mesma
maneira que estas se relacionam com as artes da pintura e da escultura.
Razes do Design
Ao final do sculo, a tipografia comeava a mostrar os resultados do
renascimento clssico iniciado por William Morris e j acusava a influncia do
movimento Art Noveau.
Bem no incio do sculo XX, ocorreram vrios e significativos movimentos, que
viriam alterar profundamente o curso do Design. A fonte mais comumente
apontada como a origem da moderna arte grfica o Cubismo, iniciado em
Paris por Pablo Picasso e Georges Braque.
No mesmo ano, 1909, em que Wright completava a Robie House e em que o
Cubismo recebia este nome, Sigmund Freud publicava o monumental A
interpretao dos Sonhos, obra que revolucionou as atitudes do homem em
9
relao a si prprio e sua sexualidade. Lado a lado com seus efeitos na
medicina e na cincia, o livro de Freud estava destinado a exercer profunda
influncia na literatura e nas artes, com a revelao dos processos do
inconsciente.
Em 1905, Albert Einstein enunciava a teoria da relatividade, que viria mudar
nossa viso da realidade e abrir as portas para as influncias cientficas e
abstratas na arte grfica.
Nesse sculo, mais do que em qualquer outro, as mltiplas disciplinas do
design so entrelaadas para formar o tecido do estilo contemporneo.
O movimento cubista estava relacionado apenas com a pintura e a escultura,
mas em composio com o Dadasmo e o Futurismo, os estilos e influncias
comearam a disseminar-se das artes mais nobres para outras reas do
design. Ao mesmo tempo, na dcada de 20, que os designers do De Stijl e do
Bauhaus formulavam, juntos, as idias do design moderno, estava sendo
concluda uma inseparvel unio entre as diversas reas do design.
Assim, ainda hoje possvel sentar numa cadeira clssica, contempornea,
desenhada por L Corbusier, entre paredes de sua arquitetura, em meio a
trabalhos grficos e ao design de interior de sua criao e ler um livro com
projeto grfico assinado por ele.
10
CAPTULO 3
Idias so insights luminossos que, no melhor dos casos, acontecem quando
nos desprendemos da realidade e mergulhamos na fantasia, privilgio de um
mundo absolutamente infantil..
(Newton Csar, pg. 01)
A propaganda criativa e algumas consideraes profissionais
[...] CRIATIVIDADE implica emergncia de um produto novo, seja uma idia ou
uma inveno original, seja a reelaborao e aperfeioamento de produtos ou
idias j existentes. Tambm presente em muitas das definies propostas o
fator relevncia, ou seja, no basta que a proposta seja nova; tambm
necessrio que ela seja apropriada a uma dada situao (ALENCAR, 1995, p.
16)
Assim, percebe-se que a comunicao publicitria deve ser um instrumento
afiadssimo de interpretao das necessidades do cliente para auxili-lo de
forma certeira a atingir seus objetivos mercadolgicos. Em razo disso, surge
seu aspecto adequao no contexto dos objetivos especficos da propaganda.
Como prope Rafael Sampaio em Propaganda de A a Z (1999, p. 16):
necessrio analisar se a idia ousada consistente e pertinente ao objetivo
definitivo e pblico visado. preciso avaliar se a proposta coerente e objetiva,
que parece perfeita para o anunciante, suficientemente destacvel e
emocionante para ser percebida e apreendida pelo consumidor.
O grande criador de propaganda aquele que consegue detectar o que cada
produto precisa e o que cada consumidor daquele produto quer ouvir. No
fundo, fazer propaganda tentar inventar algo novo, ou transformar o velho.
Podemos citar o que afirma Serpa sobre o trabalho de criao: O melhor
trabalho significa comunicao que chame ateno das pessoas, abra a retina
11
delas. A surpresa no previsvel. E, no dia em que a propaganda perder o
papel de surpreender as pessoas, perdeu sua razo de existir.
Na propaganda, o emissor considerado o anunciante; o receptor, o leitor; o
significado transmitido refere-se tentativa de induzir o leitor a adquirir o
produto; o cdigo a linguagem; o canal consiste no veculo de comunicao
adotado e o contexto inclui aspectos sociais e culturais onde a
comunicao/propaganda esto inseridas.
12
Evidenciao e identificao das etapas apresentadas no processo de
criao
Dentro do primeiro levantamento do processo, temos identificadas claramente
as etapas demonstradas na seqncia:
a) briefing de criao
b) raf
c) layouts
d) briefing de criao / aprovao
e) arte finalizao
Briefing de criao
A palavra briefing vem do ingls, do verbo to brief que significa
resumir, fazer a apresentao sumariada de alguma coisa (FREITAS, 199, p.
121).
O termo j faz parte do modismo dos profissionais de marketing e
comunicao. Em razo disso, pode-se encontrar briefings para a mdia,
briefings para a criao, briefings para o marketing, e assim por diante.
Dentro das variantes, surgem grandes confuses entre elguns
profissionais. Apesar dos aspectos de resumo das informaes de uma
empresa, o briefing deve conter informaes relevantes e adequadas
atividade a que est sendo destinado.
Ao estudar os briefings de criao, podemos identificar algumas
caractersticas que se apresentaram de forma semelhante em todo o corpus
selecionado. Trata-se de um documento centralizador e abrangente em termos
de informaes gerais e, pode ser considerado um aglutinador de informaes
entre todos os profissionais e reas envolvidas.
13
Esse documento (briefing de criao) apresenta um cabealho
onde se identificam:
- nome da empresa (ou
logomarca)
- data do documento
- numero do trabalho (JOB)
- destinatrio
- emitente
- cliente
- classificao
- produto
- campanha
- verba mxima (para
criao)
- prazo solicitado
- prazo previsto
Talent 20/07/98
TRABALHO N TA-8.1998.0330.TA
De: DIRATE-TA-8
Para: DIRERC-TA
Cliente: SEMP TOSHIBA
Classificao: PROPAGANDA
Produto: LINHA DE PRODUTOS
Campanha: HOME THEATHER 98
Verba mxima: R$ 15000,00
Prazo solicitado: 30/07/98
Prazo previsto:
ESPCIES SOLICITADAS:
ANNCIO PARA REVISTA
PEDIDO SIMPLIFICADO
BRIEFING LANAMENTO DO HOME THEATHER TOSHIBA
Data: 20/7/98
Prazo de criao: 30/7/98
Na primeira pgina do briefing de criao deve conter uma rea
de preenchimento identificada como espcies solicitadas, que nada
mais seria se no PEAS SOLICITADAS. Em seguida, aparecendo a
identificao de pedido simplificado onde se deve descrever, com
detalhes, o produto a ser anunciado. Grficos mostrando a participao
do mercado, aes de concorrentes, preo e promoes realizadas
anteriormente, histrico de anncios passados, ou qualquer outra
informao que o departamento de marketing ou responsvel pela
14
comunicao da empresa possa passar devem ser colocadas no PEDIDO
SIMPLIFICADO.
(VER EXEMPLO DE BRIEFING DE CRIAO DA TALENT)
Obs.: Os termos DIRATE e DIRERC (encontrados no exemplo de
briefing de criao da agncia Talent para o cliente SEMP TOSHIBA),
respectivamente identificados como emitente e destinatrio, significam Diretoria
de atendimento e Diretoria de Redao e Criao.
O briefing de criao exerce o papel de reunir informaes que
procuram direcionar, nortear e selecionar o caminho do contedo da
mensagem da campanha para a criao.
Verificando as primeiras informaes dos pedidos de servio de
criao, h na ordem de texto os seguintes ttulos: fato principal, problema que
a comunicao deve resolver, promessa e razo da promessa, e fato principal,
o que a propaganda pode resolver, objetivo, posicionamento, target e mdias
que iro compor a campanha. Aparece tambm em letras mais encorpadas o
prazo de entrega dos layouts.
Percebemos que o briefing de criao apresenta-se com cpias para
outros departamentos. redigido como um documento da agncia com
caractersticas de ordem de servio (OS) em papel timbrado, identificado pelo
relator do documento e protocolado pelo departamento de trfego, que cuida
da cobrana dos cumprimentos de prazo de todos os departamentos
envolvidos em qualquer projeto publicitrio.
Como contedo, pode-se verificar tambm que todos esses
documentos, de forma geral, apresentam informaes baseadas nos
diversos profissionais envolvidos, um documento completo, ento, alm
do cabealho, deve trazer:
- os produtos ou servios a serem anunciados
- target da empresa, ou at mesmo uma restrio de um target
para um determinado anncio,
- preo do produto no mercado ao consumidor final,
15
- condies de pagamento para consumidor final,
- caractersticas tcnicas e prticas do rpoduto,
- pesquisa e dados de produtos concorrentes,
- pontos negativos e positivos do produto,
- hbitos do consumidor,
- histricos da empresa e produtos que sejam relevantes
comunicao.
- informaes a respeito de uma ao de marketing seguida
aps a veiculao do anncio,
- sugesto de temas para serem abordados,
- as peas a serem desenvolvidas, bem como as mdias a serem
utilizadas (Anncio para meio impresso Revistas, Jornais, Panfleto,
Folder, Catlogos, Out-doors Spot Jingle VT Banners para internet,
Sites...),
- os meios em que se pretende veicular (Jornal O Popular, TV
Serra Dourada, Rdio 89 Rock...),
- as datas ou o perodo da campanha (durante todo o ms de
maro),
- e principalmente, quanto se pretende investir.
Para todas as campanhas, o briefing de criao exerce o papel de
reunir informaes que procuram direcionar, nortear e selecionar o caminho do
contedo da mensagem da campanha para a criao.
So importantes todos os caminhos que propiciem ao criador
melhores e mais seguras informaes sobre o produto, a marca e o
consumidor. Briefings e pesquisas no cerceiam a criao, pelo contrrio,
abrem caminho para uma comunicao melhor direcionada, que nem por isso
deve deixar de ser criativa.
O briefing de criao deve ser considerado um documento
fundamental e extremamente importante na criao de uma propagada. Ele d
o foco da campanha.
16
CONCEITO: Briefing um documento criado por profissionais
diferentes e destinado a esses mesmo profissionais; organizado,
embora seja feito pelas pessoas que vo receb-lo; claro e objetivo; usa
texto coloquial.
Criar livremente no significa poder fazer qualquer coisa, a qualquer
momento, em quaisquer circunstncias e de qualquer maneira. As
delimitaes so como as margens de um rio pelo qual o indivduo
aventura-se no desconhecido. Vemos o ser livre com uma condio
seletiva, sempre vinculada a uma intencionalidade presente, embora
talvez inconsciente, e a valores individuais e sociais de um tempo.
(OSTROWER, 1989, p. 85).
SEGUE NA PRXIMA PGINA EXEMPLO DE UM BREIFING DE
CRIAO COMPLETO
17
Talent 20/07/98
TRABALHO N TA-8.1998.0330.TA
De: DIRATE-TA-8
Para: DIRERC-TA
Cliente: SEMP TOSHIBA
Classificao: PROPAGANDA
Produto: LINHA DE PRODUTOS
Campanha: HOME THEATHER 98
Verba mxima: R$ 15000,00
Prazo solicitado: 30/07/98
Prazo previsto:
ESPCIES SOLICITADAS:
ANNCIO PARA REVISTA
PEDIDO SIMPLIFICADO
BRIEFING LANAMENTO DO HOME THEATHER TOSHIBA
Data: 20/7/98
Prazo de criao: 30/7/98
Mauro,
Solicitamos criao de campanha impressa (mdia revista) para divulgao do
produto Home Theather Toshiba.
Segue briefing para a criao.
LANAMENTO DO HOME THEATHER TOSHIBA
A Semp Toshiba estar lanando o seu HOME THEATHER, em agosto-
setembro/98, com a mais nova tecnologia de imagem e som desenvolvida pela
prpria Toshiba do Japo.
Trata-se de um lanamento muito importante em termos de oportunidade para
criarmos uma campanha que agregue atualidade e inovao imagem da
marca Semp Toshiba.
Vale salientar que o atual estgio do negcio de um produto novo, destinado
a um pblico de alto poder aquisitivo, bom conhecimento e nvel de exigncias
quanto marca e recursos tecnolgicos de produto. Desta forma, precisaremos
enfatizar tanto a marca, quanto as informaes bsicas sobre o produto e seus
benefcios nessa comunicao.
O PRODUTO HOME THEATHER
O conceito home theather tem o objetivo de trazer as emoes e sensaes
do cinema para a casa do consumidor, proporcionando maior impacto de sm e
melhores recursos de imagem.
18
O Home Theather composto por um televisor tela grande ou telo de
projeo, um videocassete estreo, um DVD, 5 caixas de som e um receiver.
O receiver o principal aparelho do home theather, porque possui as entradas
para conexo com os equipamentos de udio e vdeo, nas quais so acoplados
os cabos do CD player, toca-fitas, toca-discos, videocassete, DVD.
COMO FUNCIONA ESSA ENGENHOCA?
O som distribudo por 2 canais frontais das caixas acsticas principais, que
do a sensao de que ele est se deslocando de um lado para o outro.
Assim, ouve-se balas passando de um lado para outro durante um tiroteio, por
exemplo.
O canal surround leva o som a 2 caixas auxiliares que produzem os efeitos de
ambientao que envolvem o pblico com as cenas s que assiste, destacando
os sons de fundo, o vento, gritos, motores...
H, ainda a caixa central, que reproduz os sinais sonoros referentes imagem
principal, como vozes, dilogos, etc.
O direcionamento do som que mantm o envolvimento do expectador com o
filme, por isso super importante que a TV fique entre as 2 caixas frontais, as
quais devem ficar em frente ao sof onde se assiste ao filme, uma esquerda
e outra direita. A caixa central deve ser posta abaixo ou acima da TV e as
caixas de surround, devem ser posicionadas lateralmente, um pouco acima da
linha dos ouvidos do pblico, uma esquerda, a outra direita.
Obviamente, quanto mais recursos de imagem tiver o telo (ou TV) maior
impacto e sensao de cinema em casa se ter.
E os equipamentos de videocassete e DVD tambm tm uma importncia vital
nesse conjunto, pois so responsveis pela transmisso dos filmes.
O MERCADO BRASILEIRO
O Home Theather, seguido pela TV megascreen, um grande objeto de desejo
do consumidor brasileiro. Todo mundo quer ter um.
Como so necessrios vrios itens e o custo total do sistema no barato,
hoje esse produto acessvel apenas para as classes de alto poder aquisitivo.
Nem todos os fabricantes vendem o set completo para o consumidor. Vrios
deles dispem do videocassete e dos televisores megascreen, mas somente a
Gradiente, a Pioneer e a Philips tm comunicado a venda do jogo completo
para o mercado. Nos demais casos, preciso comprar um ou dois itens de
cada marca.
Como se trata de alta tecnologia e de um mercado anda pequeno, em volumes
de venda, muitos varejistas tm trabalhado com produtos importados,
principalmente na parte de teles, udio e DVD.
COMUNICAO DA CONCORRNCIA
A Gradiente comunicou o lanamento do Home Theather in a Box durante
1997, assegurando a venda do set inteiro com sua marca, facilitando para o
consumidor a parte de instalao (conexes/sistemas compatveis) e
assistncia tcnica do produto.
A Philips tambm anunciou seu produto como Home Cinema Philips,
apoiando-se no conceito leve o som do cinema para sua casa, nessa
comunicao seu objetivo foi basicamente vender o receiver e as caixas de
19
som para um pblico que, segundo a empresa, j deveria possuir uma TV
megascreen e um vdeo estreo em casa.
J a Pioneer apoiou-se na acstica de alta performance.
CONTEXTO SEMP TOSHIBA NO SEGMENTO HOME THEATHER
At o momento, a Semp Toshiba no havia anunciado seu Home Theather
porque estava trabalhando no lanamento de seu receiver e caixas acsticas,
que so itens fundamentais na composio do produto.
Conforme sabemos, a Toshiba a empresa que desenvolveu o padro DVD, o
qual foi adotado posteriormente pelos fabricantes do mundo inteiro. Ela quem
detm o know-how de produtos e tecnologia de ltima gerao neste campo.
Conseqentemente, em termos de videocassetes, televisores e DVD, a
reputao da Semp Toshiba incontestvel. A partir de agora, estaremos
oferecendo ao mercado brasileiro o melhor receiver e melhores caixas
acsticas do mercado.
OBJETIVOS DE COMUNICAO e APELOS
1 Comunicar que o Home Theather Toshiba o melhor do mercado porque
o mais completo e mais moderno conjunto disponvel no Brasil;
- todos os itens so da marca Toshiba, logo inteiramente compatveis e
dispem da assistncia tcnica Semp Toshiba.
2 EXPLORAR BASTANTE O RECEIVER E O DVD:
- possui o DVD de quem criou o padro DVD
- o nico com receiver com sistema Dolby Digital AC3
- Obs.: nos home theathers da Sony, Gradiente, Philips, nem as verses top de
linha tm o recurso AC3 dolby digital, tampouco a potncia do nosso receiver.
Ou seja, estamos falando de recursos de udio hiper modernos.
Nosso receiver dispe da ultima tecnologia de distribuio de som, compatvel
como nosso DVD e superior aos receivers da concorrncia. RESULTADO:
HOME THEATHER TOSHIBA, O MAIS SOFISTICADO E DE MAIS ALTA
PERFORMANCE DO MERCADO.
3 AINDA ASSIM, DEVEMOS TOMAR CUIDADO PARA NO TORNAR O
PRODUTO ACIMA DAS POSSIBILIDADES PSICOLGICAS DO
CONSUMIDOR (VAMOS FALAR).
APELOS:
- Qualidade um item genrico, devemos especificar que em termos de
diferenciao de produto o Home Theather Toshiba o melhor conjunto porque
na sua composio temos o DVD Toshiba (de quem criou o padro DVD/ c/
sada Dolby Digital) e um receiver impecvel Dolby Digital AC3
- Marca Toshiba (institucional) fora em tecnologia, know-how comprovado,
excelente reputao
- Exemplos:
20
Se voc quer um Home Theather, voc merece logo o Melhor. Por isso,
compre um Home Theather Toshiba
* Projetar o Home Theather na condio de estrela e agregar imagem para
toda a Marca
DESENVOLVIMENTO DO POSICIONAMENTO E CONCEITO PARA O HOME
THEATHER TOSHIBA, BASEADO NAS CONSIDERAES ACIMA
(VAMOS FALAR)
NOSSO PREO
Preo ao consumidor:
DVD 1500,00
Receiver 1500,00
6 caixas 2000
telo 50 5000
vdeo 400
total cjto 10400,00
BENEFCIOS DO HOME THEATHER PARA O CONSUMIDOR
Uso: entretenimento (msica, filmes) aliadas aos recursos tecnolgicos
principalmente a qualidade de som e imagem.
Emoo do cinema trazida para casa.
PBLICO-ALVO DE COMUNICAO
vital lembrar que o parque de eletrnicos brasileiro relativamente novo, j
que logo aps o Plano Real houve um boom de compra no setor, onde
grande parte dos consumidores, principalmente de classe mdia e baixa,
adquiriram CD players, videocassetes, televisores coloridos, etc...
Esse pblico, que representa a grande massa de consumidores brasileiros no
ser quem, de fato, comprar o nosso produto.
Nesse primeiro momento, visaremos atingir o pblico mais inovador em termos
de adoo e interesse por produtos relacionados a entretenimento (udio e
vdeo). Ou seja, pessoas bem sucedidas com renda disponvel para implantar
home theathers de primeira linha em suas casas, etc...
Nosso foco ser despertar o desejo de compra pelo Home Theather Toshiba,
para consumidores que valorizem o apelo de diferenciao baseado na
qualidade e superioridade tecnolgica, comprovadas atravs do receiver e
padro DVD criados pela Toshiba.
Quem quiser ter o melhor Home Theather em casa, ficar louco de vontade de
comprar um conjunto inteiro Toshiba, porque Toshiba o melhor do mercado.
Observao:
Ainda assim, esse forte apelo deve contribuir para que o produto seja
percebido como um desejo acessvel a seu pblico. Ou seja, um produto
21
extremamente avanado e diferenciado, que a Toshiba desenvolveu para
atender a um pblico igualmente sofisticado e exigente.
OUTROS OBJETIVOS IMPORTANTES DESSA CAMPANHA DE
LANAMENTO
1) Reforo dos elementos atualizao e inovao para a imagem institucional
da marca Semp Toshiba. Ou seja, usar o Home Theather TOSHIBA, para
indicar o avano tecnolgico e qualidade incontestvel da marca.
2) Gerar envolvimento e despertar interesse de compra no pblico mais
inovador, de maior poder aquisitivo, evidenciando particularidades do Home
Theather TOSHIBA, como altamente desejvel dentro da categoria.
3) O enfoque da comunicao NO deve ser dirigido a tornar obsoleto o
videocassete ou qualquer outro produto eletroeletrnico disponvel no mercado.
4) Ateno questo da acessibilidade do produto.
FORMATO DAS PEAS:
Revistas: pgina dupla 4 cores
Folheto de apresentao do produto
Anncio para Veja e Caras Home Theather Toshiba
Veja ed. 30/8 mat. 21/8
Caras ed. 2/9 mat. 21/8
PRODUO:
O cliente solicita que seja orada produo fotogrfica, ambientada, para o
home theather, contendo os produtos abaixo:
Home Theather: telo 50 + DVD + Vdeo + receiver + caixas
*QUANTO VERBA DE PRODUO, CONSIDERAR MESMA ORDEM DE
GRANDEZA DO JOB REF. AO DVD E LINHA DE TELEFONES. (FOTOS +
PRODUO)
Deveremos respeitar o seguinte cronograma de produo:
- cronograma de produo
criao 13 a 22/7
aprovao/ arte-final 31/7
produo 01/8 a 14/8
material 20/8
Atenciosamente,
Nociti e Maria
P.s. seguiro anexos lminas com features dos produtos e referncias de
propaganda e apelos usados pela concorrncia.
22
Talent 20/07/98
TRABALHO N TA-8.1998.0330.TA
De: DIRATE-TA-8
Para: DIRERC-TA
Cliente: SEMP TOSHIBA
Classificao: PROPAGANDA
Produto: LINHA DE PRODUTOS
Campanha: HOME THEATHER 98
Verba mxima: R$ 15000,00
Prazo solicitado: 30/07/98
Prazo previsto:
ESPCIES SOLICITADAS:
ANNCIO PARA REVISTA
PEDIDO SIMPLIFICADO
DATA: 3/8/98
PRAZO: 4/8/98
ADENDO JOB HOME THEATHER TOSHIBA
MACHADO E ADERBAL,
NOSSA APRESENTAO DE HOME THEATHER FOI SUPER BEM.
AGORA PRECISAMOS ENVIAR A PROPOSTA DE TEXTO AMANH DE
MANH PARA O CLIENTE.
EM RELAO AOS LAYOUTS, VAMOS ORAR OS CUSTOS DE
PRODUO FOTOGRFICA PARA OS TTULOS ABAIXO:
1 VOC NO BEBE, NO JOGA, NO FUMA... T NA HORA DE
ARRUMAR UM VCIO
2 VOC NO VAI QUERER SAIR DA FRENTE DA TV (SOF COM
MARCA DE UMA PESSOA SENTADA)
3 SOM E IMAGEM QUSAE COMO NA VIDA REAL JULIA ROBERTS
4 NOVO HOME THEATHER TOSHIBA. VOC NUNCA VIU NEM OUVIU
NADA PARECIDO. (LAYOUT COM FURO NO TETO)
QUANTO AOS LAYOUTS, O CLIENTE SOLICITA OS SEGUINTES AJUSTES:
1 INSERIR NMEROS NOS PRODUTOS, COM LEGENDA REF. AO NOME
E MODELO DE CADA PRODUTO
2 QUANTO S FOTOS:
23
- A PRINCPIO, O CLIENTE AUTORIZAR A PRODUO DE 2 LAYOUTS
PG. DUPLA (1A. INSERO VEJA E CARAS). POR ISSO, ELE NOS
ORIENTOU PARA ESTUDARMOS ESSES LAYOUTS DE FORMA QUE NA
AMBIENTAO DE UM DELES SEJA UTILIZADO UM TV DE TELA GRANDE
51 OU 60 NO SET JUNTO AOS DEMAIS PRODUTOS (RECEIVER, CAIXAS,
VDEO E DVD) E NO SEGUNDO LAYOUT, O PROJETOR MULTIMDIA (+
PRODUTOS).
- O CLIENTE TAMBM PEDE UMA REUNIO DE PR-BRIEFING
FOTOGRFICO, NA QUAL DISCUTIREMOS QUE A AMBIENTAO
DEVER VALORIZAR OS PRODUTOS COMO PROTAGONISTAS, NUM
AMBIENTE NOBRE COMPONDO O CENRIO.
- A SEMP TOSHIBA PATROCINA UMA MOSTRA DA ARTEFACTO, NA QUAL
J TEMOS SALAS DE HOME THEATHER MONTADAS POR IMPORTANTES
DECORADORES. O CLIENTE GOSTARIA DE CONVERSARMOS COM O
FOTGRAFO E DIRETOR DE ARTE PARA TENTARMOS APROVEITAR
ESSES SETS J MONTADOS PARA AMBIENTARMOS A FOTO.
- TAMBM SER NECESSRIO A PRESENA DO GERENTES DE
PRODUTOS DA SEMP TOSHIBA NA MONTAGEM DA FOTO, P/ ORIENTAR
QUE OS PRODUTOS SEJAM ALOCADOS NAS POSIES E FORMAS
TECNICAMENTE CORRETAS.
24
CAPTULO 4
1. Agncia: Histrico e Funes
Data de 1914 a primeira agncia fundada no Brasil, a Ecltica Publicidade. A
agncia de publicidade surgiu como um desdobramento dos servios de
corretor de anncios. As primeiras agncias apareceram no sculo XIX na
Inglaterra, Frana, Alemanha e Estados Unidos, a princpio s para a venda de
espaos nos jornais. Depois se capacitaram de que era preciso dar ao
anunciante uma colaborao mais eficiente, ou seja, fazer com que os
anncios fossem mias eficazes, para que eles, animados com os resultados,
aumentassem a verba, e que tambm servisse de exemplo que para novas
pessoas anunciassem.
Hoje em dia a agncia de publicidade uma empresa independente sem
filiao legal ou econmica com o anunciante, que se dedica ao planejamento,
execuo e distribuio da publicidade de qualquer firma que precise de tais
servios.
Uma agncia , antes de mais nada, os clientes que ela conquista e conserva.
Os servios ela presta porque tem bons profissionais. A agncia a soma dos
talentos a seu servio na criao, arte, mdia, planejamento, pesquisa e
administrao. Assim, o negcio publicitrio repousa sobre a qualidade dos
servios prestados, e nele h uma constante, o talento.
As funes da agncia so, essencialmente, aconselhar e assistir o cliente em
seus problemas de publicidade, promoo de vendas e, eventualmente, de
relaes pblicas. sua funo tambm garantir o mximo de eficincia e
rendimento das campanhas, para isso deve acompanhar as atividades de seus
clientes.
1.2. A Instituio Agncia de Publicidade
O negcio de publicidade no Brasil movimenta uma faturamento da ordem de 2
bilhes de dlares anuais. Esse valor equivalente a uns 2% do produto do
setor tercirio da nossa economia e est em torno de 1% do produto nacional
bruto. portanto maior do que os negcios de setores reconhecidamente
importantes economicamente como papel, plstico e derivados.
Em termos econmicos, tecnolgicos e sociais, a instituio Agnica de
Publicidade um dos setores mais representativos e atuantes na iniciativa
privada no Brasil.
A publicidade um negcio peculiar na sua funo multiplicadora da atividade
industrial e comercial. A Agncia de Publicidade tem sido a grande geradora da
dinmica do negcio da publicidade. tambm grande geradora de tecnologia
25
de comunicao social. Dela dependem, direta e indiretamente, outra reas
como: pesquisa, produo grfica, cinema comercial, estdios de fotografia e
de som, e os prprios veculos de comunicao.
2. Organizao Geral
Como em qualquer empresa, uma agncia de publicidade deve ser regida por
grandes princpios como: Diviso de servios, Hierarquia, Competncia e
Controle.
A organizao visa capacitar todos a produzir mais, quantitativa e
qualitativamente, dentro de uma certa unidade de tempo, como a adoo de
mtodos mais racionais, sem aumento de tempo de trabalho ou esforo. Sua
estruturao deve ser embasada nos valores que sero seguidos por todos os
elementos que integram o quadro social da agncia, de modo a assegurar o
cumprimento de suas finalidades sociais e econmicas.
6. Diretrizes Administrativas
As diretrizes administrativas devem ser elaboradas de modo a manter
suficiente flexibilidade para serem modificadas sempre que necessrias,
respeitando as normas bsicas praticadas pela organizao. O objetivo do
grupamento e da estruturao da organizao do trabalho visa fazer que sua
organizao se processe automaticamente.
7. Reengenharia e Conceitos Administrativos
Consiste a organizao em criar e dispor sistematicamente as diversas partes
de todo no exerccio das respectivas funes, para alcanar os objetivos com a
mxima economia e maior eficincia. A boa organizao comea na boa
administrao que tem como funes bsicas prever, estruturar, comandar,
coordenar e controlar.
8. Aptides do Publicitrio e o Trabalho de uma Agncia de
Propaganda
O publicitrio deve ter algo de psicolgico, deve ter uma slida base tcnica,
tem que conhecer os princpios da comunicao e saber as limitaes que
impem diferentes meios de comunicao de massa. O profissional deve
entender que as mutaes sociais, econmicas e mercadolgicas no so um
meio para lev-lo a um cenrio futuro, mas ao prprio cenrio. O principal
predicado deve ser estar preparado para construir esse futuro. Por isso, deve
atualizar-se permanentemente, acompanhando de perto as mudanas que
esto sendo engendradas e no ter medo delas. Deve ter mente ousada,
assumir riscos e no ser eclipsado por preconceitos.
Deve ainda possuir um amplo conhecimento da estrutura e fatores do anncio
para que este seja potente, atrativo e alcance seu objetivo prtico, que o de
vender o produto anunciado. Em todas as atividades da propaganda preciso
26
ter e usar talento. O trabalho publicitrio resultado de um grande esprito de
equipe, nunca a tarefa de um s homem. O anncio eficiente aquele bem
fundamentado, bem planejado, bem pensado, bem produzido e bem veiculado.
1. Prospeco de Novas Contas
A aquisio de novos clientes por uma agncia preocupao constante de
todo diretor geral. Ao apresentar-se perante um novo cliente-anunciante em
perspectiva, a agncia procura fornecer-lhe todas as informaes que lhe
parecem convenientes sobre sua histria, mtodos, habilidade e experincia,
campanha de xito, provas de anncios e sua situao financeira.
Procurar convencer o cliente que conhece as particularidades do negcio e
problemas de divulgao estando em condies de apresentar planos de
propaganda que resolvam suas dificuldades de venda.
2. Funes do Atendimento
O Atendimento em uma agncia de publicidade um profissional que
desempenha dupla funo: em relao aos clientes que lhe so destinados,
representa a agncia; em relao aos servios internos da agncia, representa
os clientes. Assim, a quase totalidade das relaes entre agncia e clientes
realiza-se por intermdio do atendimento, mas ele no se limita a ser apenas
um intermedirio, um verdadeiro orientador do jogo.
3. Funes do Trfego
O Trfego, subordinado ao Planejamento, tem a funo de fixar e controlar os
prazos em que devem ser executadas as diversas operaes da empresa,
orientando e interligando os diversos setores envolvidos. O trfego deve ter
suficiente autoridade e firmeza para assumir o papel ingrato de fiscal, e
diplomacia bastante para resolver da melhor maneiras os conflitos que possam
surgir entre os diversos servios.
4. Servios de Produo e Criao
O Departamento de Criao o responsvel pelo padro de criatividade da
agncia. Executam o trabalhos atendendo solicitao dos clientes e zelando
para garantir um trabalho perfeito tecnicamente, e talentoso sobre a
perspectiva artstica. Engloba os trabalhos de arte, redao, produo, estdio,
montagem e computao grfica.
5. Servios de Arquivo e Documentao Artstica
Trata-se de arquivar racionalmente todos os documentos criados pelo servio
artstico e, todos os documentos suscetveis a apresentar quaisquer interesse,
do ponto de vista da arte grfica (anncios e publicaes de arte e de
publicidade).
27
6. Servios de Mdia
Este servio est encarregado das negociaes, requisies e controle das
encomendas de compra de espaos (imprensa, tapumes, paredes) e tempo
(rdio, Tv, cinema). Este servio, aps ter negociado de acordo com as
indicaes aprovadas no planejamento, faz as encomendas mediante uma
autorizao de publicidade especificando as caractersticas do anncio.
7. Oramentos e Previses de Custo
O oramento de publicidade de uma empresa um elemento de previso, que
permite o estabelecimento do programa de ao. Este oramento tem que ser
preparado de tal maneira que a despesa publicitria possa variar conforme as
circunstncias. Do ponto de vista contabilstico, um oramento de publicidade
apenas uma previso e no um compromisso rgido de despesa.
28
CAPTULO 5
ALFABETIZAO VISUAL
Se nos voltarmos para a nossa infncia, constatamos que tanto no
colgio quanto em casa nos foram transmitidas e ensinadas dois tipos de
linguagem: a falada e a escrita.
Pergunto-me at que ponto no est na hora de rever esses conceitos
para gerar o que eu chamo de revoluo no aprendizado. As pessoas
desenvolveriam desde cedo uma terceira linguagem, que por sinal a nica
das trs que universal, a to "falada" linguagem visual.
Nossa gerao exposta diariamente a uma imensa quantidade de
informao. Observando de fora, estas pessoas estariam de uma certa forma
frente das demais, pelo simples motivo de estarem se comunicando mais
rapidamente. E no mundo atual todos vocs sabem disso, o tempo precioso e
vale dinheiro.
Se desde o princpio a linguagem visual for aperfeioada, a tendncia
que cada um de ns possa resolver melhor os seus problemas, com mais
viso e menos palavras.
Posso ir alm: a linguagem visual deve ser considerada a comunicao
mais importante, porque quando falamos nela, retratamos a primeira
impresso, pois instantaneamente reconhecemos uma marca, um produto,
uma empresa ou at mesmo uma pessoa. E nada como essa apresentao
ser impecvel, pois se houver falha dificilmente teremos uma nova
oportunidade.
5.1 - MARKETING RAZO, BRANDING EMOO
Um correto programa de branding se baseia no conceito de
singularidade. Ele simplesmente almeja fixar na mente do consumidor em
potencial a percepo de que no h outro produto no mercado como o seu.
Traando um paralelo com a psicologia experimental, pode-se dizer que o que
se busca desenvolver a marca de forma que se torne um estmulo altamente
discriminativo para a resposta de compra, o que aumentaria grandemente a
29
probabilidade de que o cliente volte a se comportar quando exposto novamente
a ela.
Segundo Al e Laura Ries, consultores americanos especializados em
posicionamento de marcas, podemos visualizar um momento em que os
conceitos de marketing se tornaro obsoletos para serem substitudos por um
novo conceito, chamado branding.
O fato bastante simples, basta observar que o marketing determina
aes e o gerenciamento de marcas, configurando-se uma atividade ligada
razo e baseada em pesquisas que so respondidas e medidas de forma
racional. O branding, por sua vez, muito mais que o planejamento estratgico
da marca. A compra ou a escolha de uma marca est ligada emoo, que
intangvel, e mesmo os produtos commodities como a gua, sabonete e frutas
podem ser escolhidos atravs do ponto de vista emocional.
A partir das necessidades dos clientes e de suas expectativas, o
branding um conceito que est baseado nas relaes humanas e nas
experincias do cliente em relao marca e a todos os pontos de contato
"experimentados" por ela. uma identidade formada para ser absorvida pelos
clientes, que podero chegar ao extremo de ser considerados verdadeiros
"advogados da marca", uma marca que viver com eles.
Por isso, pode-se dizer que quando uma marca se instala no corao
de uma pessoa, ela muitas vezes determina o comportamento de compra, as
atitudes, conquistando assim a lealdade do consumidor.
5.2 - SMBOLO: UMA MARCA UNIVERSAL
A sociedade est vivendo numa civilizao visual. As pessoas pensam
e sonham visualmente. Tudo que observamos tem um determinado significado:
as formas, tamanhos, cores e texturas.
No ponto de vista global, este sentido, o sentido da viso, disparado o
mais intuitivo, rico e detalhado de todos. Ressaltando-se em relao aos
demais pelo fato de estar ligado de forma independente em relao ao tipo de
religio, nacionalidade, faixa etria, classe social, etnia, enfim qualquer um
reconhece o smbolo da Pepsi em qualquer lugar do mundo; o mesmo no
ocorre com a marca da Johnson & Johnson.
30
Quando se opta por representar uma marca atravs do smbolo
juntamente com seu logotipo, seus pontos positivos so bem explcitos:
- Em termos de aplicao ela facilitada por permitir maleabilidade
(entre o smbolo e o logotipo), dependendo do uso horizontal ou vertical.
- Estamos falando de sntese da comunicao, o que mais rpido de
se ler: uma palavra ou uma frase? O mesmo acontece com marcas que se
comunicam corretamente apresentando sntese grfica e exemplos errneos
que demonstram uma grande quantidade de detalhes.
- O smbolo, uma vez aprendido, jamais esquecido. Seu poder de
assimilao bem maior. Como j vimos, independe do tipo de cultura,
nacionalidade, religio etc.
Talvez o melhor exemplo a ser dado so os smbolos mundialmente
conhecidos que so transmitidos de gerao em gerao. So eles: quadrados,
crculo ou bola, tringulo, sol, estrela, e lua.
Como vimos anteriormente, suas representaes visuais no so
exploradas na totalidade. Para que uma marca seja utilizada no sentido amplo
da palavra, e d o primeiro passo para se tornar visualmente universal,
fundamental que o logotipo seja acompanhado de um smbolo.
como eu sempre digo, no mundo globalizado a tendncia :
- Trabalhar com produto customizado
- Comunicao local
- Marca global (da a minha preocupao com o smbolo)
Tendo toda essa preocupao em mente, por incrvel que parea sua
empresa j est frente em relao s demais. Pense nisto e principalmente
coloque esses conceitos em prtica.
5.3 - RELACIONAMENTO: UMA CONQUISTA DIRIA
Vivemos numa sociedade espantosamente dinmica, instvel e
evolutiva. Partindo desse pressuposto, posso adiantar que atualmente quem
ficar esperando para ver o que vai acontecer ficar sem opo e correr srio
risco.
H pouco tempo, o maior desafio de uma empresa ou de um profissional
31
estava diretamente ligado capacidade de se adaptar rapidamente e de forma
precisa ao meio que lhe era proposto. Isso de fato era um diferencial. No
mundo atual, tal exigncia de adaptao realidade est automaticamente
ligada a uma questo de sobrevivncia.
Atualmente as bancas de jornal vendem tudo. A mesma coisa acontece
com os postos de combustveis. Volto a reforar: os Correios no entregam
mais apenas cartas, entregam tambm produtos.
Hoje em dia, o sucesso de uma organizao est cada vez mais
associado ao "amor" pelo detalhe. Ns precisamos estar atentos s tendncias
do mercado para identificar e produzir, rapidamente, aquilo que o cliente quer.
Vocs sabiam que:
- 65% da mdia dos negcios de uma empresa vm de atuais clientes e de
clientes satisfeitos;
- custa 5 vezes mais adquirir um novo cliente do que manter um;
- um negcio que durante um ano perde a cada dia um cliente de 50 dlares por
semana sofrer um declnio de vendas da ordem de um milho de dlares no ano
seguinte;
- 91% dos clientes infelizes nunca mais compraro produtos da empresa que os
decepcionou e cada um deles comunicar esta insatisfao a pelo menos 9
outros consumidores. Enquanto que os satisfeitos compartilham essa
experincia positiva com apenas 2 pessoas.
Se trouxermos estes exemplos para o dia-a-dia e compararmos com a
nossa vida pessoal, constataremos que assim como no mercado, as marcas se
relacionam com seus consumidores, as empresas com outras empresas, ns
tambm nos relacionamos com nossos chefes, professores, pais, namoradas
etc. Talvez o maior desafio esteja em manter um relacionamento. Sempre
lembrando que o relacionamento uma conquista diria.
Ns teremos a oportunidade de discutir mais adiante a questo do Marketing
de Relacionamentos, especialmente o CRM, porm gostaria de adiantar o que
chamo de:
32
5.3.1 - Os 10 mandamentos do marketing de relacionamento:
1 O marketing de relacionamento exige uma viso estratgica e no ttica.
2 No comece um dilogo se voc no pretende continu-lo.
3 Satisfazer importante, mas no o suficiente. O fundamental
surpreender.
4 O comportamento precede a atitude.
5 Um cliente mais importante que um no-cliente e alguns clientes so mais
importantes que outros.
6 O pblico-interno to importante quanto o cliente final.
7 Na comunicao, a abundncia to perigosa quanto a escassez (observe
os momentos mgicos).
8 Mais importante que a freqncia a seqncia.
9 Vender fcil. Fidelizar que difcil. Precisamos vender o produto certo,
para o cliente certo, na hora certa.
10 J no mais suficiente o cliente lembrar de voc, ele tem que gostar de
voc.
Um dos melhores e pioneiros exemplos de relacionamento so os
programas de fidelizao das companhias areas (TAM), Ns, clientes,
optamos por gastar com eles, pois quanto mais compras fizermos atravs do
carto de crdito, mais milhas teremos em nosso benefcio. A reteno de
sada imposta de forma subjetiva. Digamos que faltem duas viagens para
So Paulo para voc ganhar uma ida para qualquer pas da Europa. Aposto
que seu carto de fidelizao ser guardado como se fosse um objeto de muito
valor e que voc tentar realizar o mais rpido possvel as duas viagens
restantes para desfrutar seu prmio, no?
33
CAPTULO 6
Grandes momentos - A dupla de criao
Duplas em dose dupla
Trabalhar em dupla, muitas vezes j se fez essa comparao bvia, como
casamento. No verdade. Quem trabalha em dupla convive mais com o
parceiro do que qualquer casal casado. Uma analogia melhor a do
Alexandre Gama, Chief Executive Officer (CEO), ou diretor-geral, da Neogama,
que v uma dupla de criao como uma dupla de tnis. Essa verso mais
precisa: o objetivo da dupla de tnis conquistar pontos, jogar em conjunto e
vencer (infelizmente, nem todos os casamentos so assim...)
Neil Ferreira e Jos Zaragoza fizeram uma das duplas talvez mais carinhosas
da propaganda brasileira. Estiveram juntos na DPZ, entre idas e vindas, por 17
anos.
Quando o Neil saiu da agncia e acabou indo para a Salles, Zaragoza fez um
anncio (desta vez sozinho, texto e layout) em que chamava seu duplo de
volta, na maior mensagem de amor e respeito de que se tem notcia na histria
das duplas de criao no Brasil. O anncio dizia: NEIL QUERIDINHO: VOLTA
PRA CASA. TUDO EST PERDOADO.E assinava com o Z do Zorro. O Z de
Zaragoza.
Eles criaram juntos o Baixinho da Kaiser, o Leo do Imposto de Renda, o filme
do orelho depredado da Telesp, o menino de olhos vendados da Sadia. Neil
voltou. Ficou mais um tempinho e abandonou a propaganda de agncia, como
a conhecemos, para continuar atendendo a alguns clientes seus, de forma
independente.
34
35
36
No fique preocupado. A pgina que voc viu no tm texto, no tm
imagem, no tm numerao. Nada. Esto em branco, exatamente como o dia-
a-dia de um Diretor de Arte. Por mais que se aprenda, o Diretor de Arte no
consegue se livrar de ter que preench-las. No importa o que necessrio
criar nem os meios. Filme, anncio, folheto ou qualquer outra pea, tanto faz. O
branco sempre ser o seu primeiro contato com o trabalho. E preciso respeito
para no sufocar o espao em branco que voc tem. como a vida: quanto
maior o nmero de coisas que voc coloca, maior a possibilidade de no
conseguir administr-las.
Agora voc pode comear.
CRIAO
Risque, rabisque, recorte, pinte. Lembre-se dos tempos em que estava no
jardim-de-infncia. As crianas so muito mais criativas que os adultos.
Segundo pesquisas, quando voc nasce, tm-se 100% de criatividade que
cortada ao longo dos anos com simples palavras educativas (?), tais como:
No! ou Solte isso agora! e Isso no brinquedo de criana!. Logo,
estima-se que uma pessoa de 40 anos tenha, em mdia, 20 a 30% de sua
criatividade inicial. Portanto, na hora da criao, no tenha medo de parecer
que est usando fraldas.
A criao do anncio
O anncio, considerando todas as peas grficas, a menina dos olhos do
Diretor de Arte. De modo geral, o que mais gosta de fazer. Tanto faz anncio
de revista ou jornal. Ambos so vistos como uma possibilidade poderosa de
vitrine. Um bom anncio que contenha uma boa idia, veiculado nos maiores
jornais ou revistas do pas, ser visto, criticado ou elogiado por milhes de
37
pessoas. Diante de tantos espectadores, preciso saber: A idia mais
importante que a forma? O ttulo vende mais que o visual? O que, afinal, mais
importante?
Tudo.
Quando se cria um anncio, tudo precisa estar funcionando como uma
engrenagem. Sem uma das partes, no vai funcionar. Pense sempre num todo.
Texto precisa completar imagem; imagem, completar texto.
Fica mais fcil quando voc parte com o caminho definido, os porqus
respondidos; coisas mnimas que voc precisa saber: quem o cliente, o que
ele pretende, o que ele vende, qual o problema, qual a verba, qual o
formato, qual o pblico.
Pode ser que, ao criar um anncio, voc no pense claramente sobre tantos
aspectos. Mesmo assim, algumas dicas so importantes e nunca devem ser
esquecidas.
Dicas:
1- Procure se informar, sempre e sobre tudo.
2- Nunca tenha medo do novo. Errar, inclusive, faz parte disso.
3- Comece criando o anncio, fazendo rabiscos. Mesmo que voc no seja
desenhista, trace no papel a sua idia. Preencha-o. S quando estiver
absolutamente certo, v para o computador.
4- Aguce seu senso de observao.
5- Veja revistas, livros, edies sobre arte. Comear pela Revista Archive pode
ser uma boa.
38
6- Tome cuidado com a diagramao. Obedea alguns critrios de distribuio
e equilbrio.
7- Evite imagens fceis.
8- Cuidado com imagens difceis. Elas precisam, alm de fazer parte do
anncio como um todo, ser entendidas. De nada vale uma imagem que o
consumidor no entenda, s voc.
9- Bancos de imagens s vezes ajudam, bom ver. Mas no se prenda.
Nenhum banco de imagem conhece o problema do seu cliente e o que ele
precisa. Use uma imagem de locao apenas se ela for absolutamente
necessria e pertinente ao seu anncio.
10- Se o anncio for de meia pgina, no lote de coisas. Se o anncio for de
uma pgina, no lote de coisas. Se o anncio for de pgina dupla, no lote de
coisas. Quanto maior o nmero de elementos, menores sero os pontos de
ateno.
11- Brinque com cores, mas use o bom senso.
12- Faa adequao do anncio com o pblico. Pblico jovem merece
linguagem jovem. Pblico srio, linguagem sria, e assim por diante. Quer
entender uma linguagem jovem, pergunte o que os seus filhos ou os filhos dos
amigos gostam.
13- Cuidado na escolha da tipologia. Por mais moderna que seja, preze pela
boa leitura.
14- No esconda demais a marca do cliente, afinal, quem paga ele.
15- No exagere demais na marca do cliente se no for absolutamente
necessrio. Nenhum consumidor fica emocionado s porque est vendo uma
marca.
39
16- Tome cuidado com os espaos de segurana nas margens dos anncios.
Textos no devem estar muito colados nas margens verticais nem nas
horizontais. Se voc deixar muito rente, corre o risco da revista cortar quando
for publicar. Deixe, no mnimo, 1 centmetro de segurana.
17- Nos anncios de pgina dupla, quando o ttulo for grande o suficiente para
pegar as duas pginas, deixe um espao de 6 milmetros a 1 centmetro nas
palavras que ficam bem no centro do anncio. J viu aqueles anncios de
pgina dupla que, ao abrir a revista, voc no consegue ler o ttulo direito
porque ele ficou escondido na dobra da pgina? Faltou o espao necessrio.
Normalmente isso acontece com revistas que tm a lombada quadrada, isto ,
que no so grampeadas e sim coladas. Em tempo: se voc for criar um
anncio que vai ser veiculado em revistas tanto com lombada quadrada quanto
com lombada grampeada, opte por deixar o espao pensando na lombada
quadrada.
18- Anncios para jornal permitem mais versatilidade no formato, pois o Diretor
de Arte trabalha em centmetro por coluna. Isto , o nmero de colunas do
jornal versus a altura em centmetro que voc determinar. Claro, o Diretor de
Arte deve enxergar o que melhor se adapta em propores para a sua criao:
mais altura que largura, mais largura que altura. Mas no esquea que
preciso trabalhar com formatos que a verba do cliente possa pagar. O que
normalmente acontece ao se definir o formato para anncios de jornal, o
Diretor de Arte reunir-se com a mdia e juntos, chegarem a um formato
adequado tanto para a criao quanto para a verba do cliente.
19- Diferentemente da revista, o jornal tem um papel que absorve demais a
tinta e, como a qualidade do papel no boa, normalmente, a tinta espalha-se
mais. Corre-se o risco de a imagem ficar mais escura do que o normal e voc
pode ter a sensao de que toda a imagem est um pouco entupida, perdendo
um pouco as formas voc achou timas na tela do computador. s vezes,
tambm pode acontecer o contrrio e a imagem ficar lavada, clara demais. O
anncio que era lindo, ficou ruim. Para resolver, o melhor uma empresa
40
especializada tirar uma prova digital, voc analisar e, a sim, mandar para o
jornal. Se voc tiver que liberar um arquivo direto do computador, bom que a
imagem seja produzida um pouco mais clara do que se fosse para o anncio
de revista, e vale tirar uma prova em papel numa boa impressora. Ainda assim,
voc pode ser surpreendido com um resultado aqum do esperado.
20- Procure informar-se sobre fotografia, ilustrao, artes, produo grfica,
tipologias. Como Diretor de Arte, importante que voc conhea um pouco de
cada processo para saber us-los e, principalmente, analis-los. Faa um
curso de desenho. Voc pode no se tornar um desenhista, mas vai ajudar no
momento em que precisar fazer rough ou, popularmente falando, um esboo da
sua idia.
21- Conhea informtica, especialmente os programas grficos. Embora muitas
agncias venham confundindo a funo do Diretor de Arte com a do operador
de computador, importante voc saber e manter-se atualizado. Mas no se
esquea, o computador no faz nada sozinho. Ele no tem idias. Essa parte
do Diretor de Arte. Desconfie da agncia que quer lhe contratar e quer que
voc faa direo de arte e, ao mesmo tempo, faa a parte final do anncio no
computador. Ela com certeza ir prejudicar sua capacidade de produo de
idias em detrimento de produzir arte, ou, no mnimo, quer pagar o salrio de
um para fazer a funo de dois. Em tempo, de novo: Diretor de Arte precisa
criar e dirigir sua criao. Pode at criar no computador. Entretanto, depois do
anncio aprovado, a execuo final deve ser feita por um assistente sob sua
orientao e aprovao. No , em absoluto, radicalismo do meu ponto de
vista. fato. Operador de computador serve mesmo para isso, executar idias
que o criador teve. Desculpem-me os operadores, mas comum encontrar
pessoas nesse cargo achando que, apenas porque sabem usar os comandos
grficos dos programas, podem fazer um trabalho de criao bom. Por isso,
tantos trabalhos so mal executados, sem muito critrio. J viu um anncio
onde voc no entende nada de to bagunado textos e imagens distribudos
de forma que lhe incomoda ver? Ento voc sabe do que eu estou falando.
41
22- No se esquea: qualidade, sim. Modernidade, sim. Mas simplicidade
acima de tudo.
23- Regras foram feitas para serem quebradas. Algum sbio j disse isso.
42
CAPTULO 7
Se voc prestar ateno na vida, vai perceber que o
inesperado faz parte de tudo, especialmente da criao.
Layout
O layout baseia-se em diagramao, organizao, equilbrio e contraste e
inovao.
Diagramao
Em artes grficas, diagramao nada mais do que diagramar uma revista, um
anncio, um catlogo, um folheto ou qualquer outra pea, distribuindo e
colocando as coisas no devido lugar, obedecendo ordens simtricas ou
assimtricas, tanto faz.
A diagramao segue trs caractersticas bsicas:
1- Textos em colunas, o que facilita muito a leitura nos casos de um espao
muito grande ou textos em dois ou at um nico bloco, geralmente usados em
anncios.
2- Pesos diferenciados entre ttulos, subttulos e textos.
3- Alinhamentos: centralizao, justificao, texto direita, texto esquerda.
Esses exemplos, normalmente encontrados em peas grficas, so corretos,
equilibrados, bons. Mas no so criativos.
O que , afinal, uma diagramao criativa?
A diagramao criativa aquela que quebra os padres, mnimos que sejam.
Um alinhamento diferenciado, por exemplo. Entrelinhas mais abertas, ou mais
fechadas. Ou, ainda, uma interao maior entre imagem e texto. Todavia, h
que tomar cuidado, no se deve encher o copo at transbordar.
43
Organizao
Para se obter uma organizao ideal em uma pea impressa, deve-se seguir
alguns passos. D importncia s coisas:
1- Qual o objeto principal do anncio? A imagem? Mas voc tem duas. A qual
delas dar maior importncia?
2- E o ttulo? Tem que ficar na direita ou na esquerda do anncio? Em cima ou
embaixo?
3- E qual a melhor posio para o texto, o telefone e o logotipo?
Assim que essas respostas estiverem claras em sua cabea, a organizao do
layout estar praticamente resolvida. Encontre prioridade entre os elementos.
Sempre um dever sobressair mais do que o outro. S que isso obriga voc a
resolver outros problemas: o equilbrio e o contraste.
Equilbrio e Contraste.
A maneira mais fcil de resolver o equilbrio num layout optar por uma criao
simtrica, certo? Errado. A maneira mais fcil observar, pensar. No importa
qual seja a forma do layout, os objetos que esto dispostos na pea precisam
ter um grau de importncia, seja ele simtrico ou assimtrico.
Para fazer um layout equilibrado siga algumas dicas:
1- Alinhe o bloco de texto com algum outro objeto: pode ser a foto, o ttulo ou
os dois.
2- Se voc tiver mais do que uma foto no layout e elas estiverem com o mesmo
grau de importncia, procure alinhar uma com a outra na horizontal ou vertical.
3- No deixe o logotipo perdido na pgina. Alinhe o logotipo com algum outro
objeto. Texto ou foto, tanto faz.
44
4- D importncia s coisas, eu j disse. No raro ver anncios ou peas
grficas onde o ttulo, a foto e o texto tm o mesmo peso visual. Anncios de
varejo normalmente so assim. O ttulo grande. O produto grande. A oferta
grande. O logotipo e o telefone do cliente so grandes. O que, a princpio,
seria uma soluo para valorizar, desvaloriza. Quando tudo tem o mesmo peso
visual numa pea grfica, o leitor no sabe o que olhar primeiro. No h o
contraste entre as coisas.
Que bom seria se o cliente entendesse que, s vezes, o contraste entre os
objetos se consegue com um espao em branco enorme. Por isso mesmo, s
vezes, a melhor maneira de atrair a ateno do leitor para uma pea grfica ou
anncio usar ttulo ou foto bem pequena, deixando mais de 50% da pea
grfica sem absolutamente nada, apenas reas livres. Os olhos sentem-se
confortveis ao fitar grandes espaos com um, no mximo dois pontos de
atrao.
5- Cuidado com as cores. A pea grfica ou anncio no somente cor. No
roube outras coisas importantes da pea fazendo a cor sobressair demais. A
dica da escolha correta da cor fazer com que ela combine com a imagem
principal do anncio. Se a cor predominante numa imagem , por exemplo, o
marrom, cores como amarelo, ocre, bege, creme e laranja podem cair bem. Se
no tiver uma cor predominante na imagem, talvez voc possa usar a cor do
cliente ou do produto. Se, ainda assim, voc tiver dvida, abuse do branco, no
tem erro.
Inovao
Voc j sabe que muitos fatores influenciam na hora da criao. Clientes, via
de regra, so conservadores. Com isso, eu diria que 70% do seu trabalho vai
ser correto, bom ou at muito bom, mas dentro dos padres aceitveis pela
maioria. Os outros 30% sero espetaculares se voc no tiver medo de inovar.
45
Inovar ignorar regras em detrimento de novas regras:
1- No alinhe o texto
2- No coloque a foto com o recorte perfeito.
3- No utilize a cor que todo mundo usaria.
4- No escolha uma tipologia que o outro Diretor de Arte escolheria.
5- No d ateno s muitas opinies.
6- No seja previsvel.
7- No mostre o produto inteiro.
8- No obedea o cliente.
9- No use imagem que seja apenas uma simbologia do ttulo.
10- No use ttulo.
11- No use formatos padronizados.
12- No se preocupe em ser politicamente correto.
13- Especialmente, no tenha medo de perder o emprego!
Se voc perceber que inovar transformar ou agregar novos valores aos
antigos, a chance de acertar muito grande. Entenda, com isso, que para fazer
o novo imprescindvel saber o antigo. Quer um exemplo?
Salvador Dali.
Algumas figuras em seus quadros obedecem uma proporo completamente
diferente. As pernas so longas demais, finas demais. Os msculos so
exagerados. A anatomia modificada. Entretanto, existe lgica. Chega a ser
possvel ver a anatomia antiga mesclando-se com a nova. Embora mostrados
de maneira original, os msculos obedecem os princpios bsicos. Antes do
Surrealismo, Salvador Dali tambm foi um mestre do Realismo.
Concluindo: inove, mas no esquea a anatomia original do anncio.
46
CAPTULO 8
Preldio: Art Nouveau
O Art Nouveau foi o primeiro movimento orientado exclusivamente para o design. Por
isso, seu estilo marcado, algumas vezes, pela decorao elaborada e superficial e
pelas formas curvilneas ou sinuosas.
O Art Nouveau importante para o artista grfico por causa do estilo que fixa para a
pgina impressa; por sua influncia na criao de formatos de letras e de marcas
comerciais; por sua criao e primeiro desenvolvimento dos modernos posters.
Embora o Art Nouveau seja uma manifestao tpica do sculo XIX, podem-se
encontrar traos desse movimento nos layouts tipogrficos dos anos 60 e mesmo da
dcada de 70.
RESUMO ART NOUVEAU:
- estilo das letras (ressurgido
recentemente);
- posters parisienses, londrinos e NY;
- estampas orientais;
- linhas sinuosas e arredondadas
Maiores nomes do movimento:
- Toulouse - Lautrec
- Pierre Bonnard
- Gustav Klimt
47
O Cubismo arma o cenrio
Os cubistas no mudaram apenas o curso da pintura sua influncia teve reflexos
diretos no futuro da pgina impressa. Quando Picasso e Braque abandonaram a iluso
tridimensional e recolocaram na pintura o plano bidimensional, estabeleceram o design
como o principal elemento do processo criativo. Ao grudar nas suas telas fragmentos
impressos e rtulos, eles sugeriram novas maneiras de combinar imagens e
comunicar idias. Alm disso, o uso de letras estampadas ou gravadas, em suas
pinturas, abria novas possibilidades para a tipografia.
Dois outros importantes pintores desse perodo que sofreram influncia do Cubismo
foram o alemo Piet Mondrian e o russo Kasimir Malevitch.
Nas dcadas de 20 e 30, a nova concepo pictrica do Cubismo inspirou sucessivas
geraes de artistas e designers. At mesmo a arte da camuflagem, durante a
Primeira Guerra Mundial, teve influncia cubista.
A inspirao cubista impregnou ainda todos os aspectos da arte comercial e aplicada,
e foi decisiva, na dcada de 20, na criao de posters e no design publicitrio.
RESUMO DO CUBISMO:
- 1907 para frente (at 1 Guerra)
- aprimorou a tipografia lanando novas
letras
- traos mais retos e com formas
geomtricas
- desenho bi-dimensional
Maiores nomes do movimento:
- Pablo Picasso
- Braque
- Mondrian (s bebe no Cubismo)
48
FUTURISMO
A idia comeou a tomar forma por volta de 1909, quando um grupo de jovens artistas e
escritores italianos criaram o estilo para expressar sua viso mais dinmica do futuro.
Enquanto os cubistas utilizavam formas geomtricas e adotavam mltiplos pontos de vista para
retratar naturezas-mortas e essencialmente objetos estticos, os futuristas usavam pontos de
vista em movimento para revelar uma ao dinmica em sucessivas imagens sobrepostas.
O grupo dos futuristas tambm inclua o visionrio arquiteto SantElia, cujos desenhos de
cidades futuristas foram um prenncio da arquitetura de 1920, particularmente os arranha-cus
no estilo Art Dco.
Ao contrrio do movimento dadasta, que gradualmente desapareceu para dar lugar ao
Surrealismo, o Futurismo encontrou um trgico fim nas cinzas da Primeira Guerra Mundial. No
obstante a destruio dos sonhos de uma arquitetura do futuro, suas reentrncias e suas
curvas aerodinmicas reapareceriam em muitos edifcios dos anos 20 e 30.
O Futurismo mais importante por sua contribuio arte do que para o design grfico. Talvez
a contribuio mais significativa deste movimento tenha sido servir de ponte para o estilo Art
Dco que viria a seguir.
RESUMO DO FUTURISMO
- ponto de vista em movimento para revelar
ao dinmica em sucessivas imagens
sobrepostas;
- influencia a arquitetura por completo, atravs
das reentrncias e curvas aerodinmicas no
edifcios de 20 e 30.
Maiores nomes do movimento:
- Duchamp;
- Marinetti (organizador do movimento)
49
DADASMO, O DERRUBAR DAS ESTRUTURAS
Se o Cubismo golpeou as convenes da arte e do design, o Dadasmo foi ainda mais longe:
derrubou toda a estrutura da representao racional. Muito mais do que criar um novo estilo, o
objetivo dos dadastas era reduzir a cacos todos os conceitos tradicionais. Com isso pretendia
revitalizar as artes visuais, quebrando todas as regras.
Manifestao de protesto que rejeitava todos os valores respeitados pelas artes e pela
sociedade, o Dadasmo est relacionado com o movimento anarquista, em voga poca da
Primeira Guerra Mundial.
O Dadasmo influiu nos designers grficos de duas maneiras igualmente importantes: ajudou-
os a se libertarem das restries retilneas e reforou a idia cubista do uso da letra em si
mesma com uma experincia visual. Despertou tambm os designers para o fato de que o
chocante e o surpreendente podem representar um importante papel na superao da apatia
visual.
RESUMO DADASTA:
- anarquista
- quebra de elementos
- reduo a cacos, dos conceitos tradicionais
- desconstruo frmica
Maiores nomes do movimento:
- Duchamp
- Arp
- Picabio
- Max Ernst
50
SURREALISMO
Muitos estudos sobre o design do sculo XX no fazem distino entre os movimentos
dadasta e surrealista. Embora os expoentes do Dadasmo tenham passado para o Surrealismo
na dcada de 20, levando as posies dadastas, as contribuies desses dois movimentos
para o design grfico so um tanto diferentes. Enquanto a corrente dadasta fez com que o
design grfico se libertasse das posies restritivas em relao forma, os surrealistas
contriburam para um novo enfoque do contedo e das imagens visuais. A arte surrealista
adota como tema o simbolismo, as imprevisveis justaposies do inconsciente, do modo como
normalmente acontecem nos sonhos. Ambos os movimentos tm um dbito para com Sigmund
Freud e as fantasias do inconsciente, objeto dos primeiros estudos da psicanlise. Entretanto,
enquanto a perspectiva dadasta era anarquista, o Surrealismo combinou o revolucionrio
universo subjetivo com tcnicas artsticas muitas vezes convencionais, no raro tradicionais.
Em virtude da estreita relao do Surrealismo com as reaes emocionais e os estmulos do
inconsciente, este movimento teve influncia particularmente decisiva na comunicao visual e
na ilustrao contempornea.
RESUMO SURREALISTA:
- elementos simblicos
- justaposio de objetos com forma
inconsciente (como nos sonhos)
- subjetivo
Maiores nomes do movimento:
- Max Ernst
- Salvador Dal
- Joan Mir
51
ART DCO
Este movimento s veio reafirmar que o apego do homem a tudo que ornamental ou
decorao superficial, sem significados mais profundos, no pode ser deixado de lado to
facilmente.
Embora deva muito da sua formao ao Art Nouveau, o Art Dco abandonou as curvaturas
livres e a espontaneidade em favor de um design mais ordenado geometricamente. Os
arranha-cus Art Dco eram, muitas vezes, nada mais que uma extenso dos esboos
futuristas de SantElia.
As manifestaes de Art Dco foram to variadas quanto suas razes. Na arquitetura, o
movimento estabeleceu o estilo arranha-cu. O Art Dco exerceu influncia no design de
mveis e em toda a quinquilharia correlata. A era Art Dco foi um perodo de elegantes
embalagens, extravagantes cenrios cinematogrficos, tipos de letras cheios de filigranas, com
extremidades e cantos de complicado desenho. Foi um estilo que chegou at nossos dias e
brilha nas noites entre coloridos tubos de neon.
Os efeitos desse movimento na pgina impressa so tambm de difcil avaliao, mas
impossveis de ignorar. Como sua melhor contribuio, o estilo forneceu elegantes designs que
faziam bom uso dos espaos em branco e das linhas de composio amplamente
entrelinhadas, no raro contrastando com pesados ttulos em negrito.
RSUMO ART DEC:
- arquitetura
- retorno ao ornamental, decorao
superficial
- abandono da forma e curvaturas livres
- design mais ordenado geometricamente
- tipografia com muito filigrana, serifa e rococ.
52
DE STIJL
O nome De Sitjl (que literalmente significa O Estilo) foi particularmente apropriado
para o movimento que, em muitos sentidos, firmou o estilo do design do sculo XX.
Os designers do grupo De Stijl fizeram-se notar pela rigorosa preciso com que
dividiam o espao; pela tenso e pelo equilbrio; por seu arrojado e criativo uso das
formas bsicas e das cores primrias; e pela mxima simplicidade de suas solues.
A revolucionria concepo formal do De Stijl foi resumida por Van Doesburg em
1928: A linha reta corresponde velocidade do transporte moderno, os planos
horizontais e verticais manipulao mais sutil, ou s mais simples tarefas da vida e
da tecnologia industrial. (...) O homem moderno desafia a forma ortogonal (simtrica)
com uma forma oblqua (assimtrica). Estas renovaes elementares encontram seu
equivalente na teoria da Relatividade, nas novas pesquisas sobre a natureza da
matria e numa atitude aberta em direo inteligncia ilimitada e s iniciativas
criadoras dos seres humanos.
RESUMO DE STIJL:
- espaos equilibrados
- uso de formas bsicas
- uso de cores primrias
- simplista
- 1 fase: simtrica / 2 fase: assimtrica
- tipografia reta e sem serifa. Letra com
trao pesado e geomtrico
Maiores nomes do movimento:
- Mondrian
- Van Doesburg
53
BAUHAUS
O Bauhaus, menos do que um movimento, foi um centro de estudos que reuniu, em
uma escola dedicada a testar novas concepes artsticas, as idias acumuladas nas
duas primeiras dcadas do sculo.
O objetivo original do Bauhaus era formar arquitetos, pintores e escultores num
ambiente de oficina, e seu sucesso nesse campo est alm das dimenses deste
nosso trabalho.
Com a publicao do primeiro manifesto do grupo, a pgina impressa assumiu
importante papel no Bauhaus. A influncia do Bauhaus na pgina impressa baseada
principalmente nas contribuies de cinco mestres. A melhor maneira de compreender
a nova dimenso que esse grupo trouxe para as formas grficas reexaminar as
contribuies de cada um individualmente.
Paul Klee deu sua contribuio tanto visual quanto no campo das idias. Ele
introduziu na pintura uma apreciao intuitiva da viso einsteiniana do espao e as
revelaes de Freud sobre o inconsciente.
Segundo seu conceito de design, o espao contnuo comea com um ponto que se
move para formar uma linha que, por sua vez, se move para formar um plano que,
finalmente se movimenta para formar uma massa ou volume.
Wassily Kandinsky levou ao Bauhaus um enfoque intensamente geomtrico do
design. sua a contribuio tambm nfase no uso das cores primrias, o que havia
sido j explorado e desenvolvido por Van Doesburg e Mondrian.
Lszl Moholy-Nagy preparou um caminho mais amplo para o Bauhaus, mais
orientado para a tecnologia e a mquina; como comunicador, ajudou a estender ao
layout da pgina impressa as novas atitudes do design, com as suas inovadoras
combinaes de imagens visuais e simplificada tipografia.
Josef Albers A principal influncia de Albers na criao grfica foi a sua avanada e
complexa teoria da cor.
Herbert Bayer Restava Bayer para fundamentar o estilo tipogrfico do Bauhaus.
Uma das suas concepes mais radicais neste sentido foi a eliminao da letra
maiscula. Muito embora a letra maiscula tenha permanecido, a despeito da lgica
dos argumentos de Bayer, seus esforos reduziram gradualmente o excessivo uso de
maisculas, principalmente em ttulos, do que resultou uma utilizao de tipos mais
simples e mais articulada.
A escola Bauhaus reconhecida como responsvel pela introduo, na arquitetura e
no design de interior, alm de ter sido a lanadora dos fundamentos do estilo do
design industrial.
Estas realizaes so de vulto, mas, como designers grficos, nossa maior dvida para
com o estilo Bauhaus est ligada s suas coerentes concepes no tratamento da
forma e do espao e ainda liberdade trazida para o layout da pgina impressa.
54
RESUMO BAUHAUS:
- influncia total na tipografia
- utilizao das formas como espaos
geomtricos ( 3D) volumes
- uso da sombra para caracterizar volume
- uso de cores primrias
- uso de imagens combinado com
tipografia simples
- uso de letra minuscula
- formas
Maior nome do movimento:
- Kandinsky
55
CAPTULO 9
Arte, tcnica e cincia da propaganda
Celso Japiassu
A propaganda uma arte. Como todas as outras artes, precisa de talento,
criatividade, imaginao, dedicao em tempo integral. S no uma grande
arte porque no dispe da capacidade de instaurar novos valores estticos. A
criao publicitria comercial.
Tem como objetivo vender produtos e por isso precisa seguir o que est em
voga, observar o comportamento dos consumidores e s ento elaborar suas
peas, destinadas a influenciar seu grupo alvo e predispor as pessoas
compra das mercadorias que anuncia.
Se fosse uma grande arte, seus valores e princpios estticos pertenceriam a
seu prprio universo e nele se bastariam. O que faz uma grande arte a
militncia do artista na arte pela arte.
Picasso nunca pediu a aprovao dos clientes, Rimbaud no precisou de
plataforma criativa e Michelangelo, artista pago pelo poder da Igreja, recusava-
se a mudar suas concepes para agradar o cliente. Eles deixaram uma obra
que vai durar pelos tempos afora e os anncios devem durar no mximo o
tempo de vida dos produtos que anunciam. J foi dito, no entanto, que a
propaganda ficar marcada como a arte tpica do Sculo XX sendo o cartaz de
rua a melhor de todas as suas manifestaes.
bem provvel que a publicidade realmente permanea como a arte do sculo
XX. A propaganda de massa, exposta nos veculos de comunicao e no ar
livre das ruas mostra a tendncia de perder importncia enquanto crescem as
tcnicas da comunicao endereada diretamente ao indivduo. Esta deve ser
a grande conquista da propaganda do sculo atual.
Embora no sendo uma grande arte, a publicidade uma arte dita
arquitetnica, porque faz uso de todas as outras artes: numa pea publicitria
esto presentes a msica, a pintura, a escultura, o teatro, a poesia, o cinema, a
literatura e muitas vezes uma ou outra das artes que j morreram, como a
oratria e a declamao.
56
A propaganda uma tcnica. Muito da sua estrutura e forma dependem de
regras estabelecidas pela experincia acumulada atravs dos anos, num
saber-fazer que conduz e orienta sobre quando e como agir para se obter os
efeitos desejados. A utilizao de critrios adotados padronizadamente, como
o caso dos Gross Ratings Point ou a crena inabalvel na pesquisa de
mercado revelam o quanto atividade publicitria tem de elaborao
puramente tcnica.
A propaganda no uma cincia, pela dificuldade de entendimento contida na
expresso Cincias Humanas. Lidando com uma matria obscura e
controvertida, pulverizada em centenas de diferentes caracteres, como a
matria do comportamento humano, a propaganda carece de verdades
cientficas ou filosficas. Imaginar, como faziam os publicitrios da primeira
metade deste sculo, que o consumidor seria posto automaticamente em
movimento diante de determinados estmulos, verdadeiros ou no, levou
inmeras campanhas ao fracasso.
Os tericos e os professores de jornalismo asseguram que o leitor tanto mais
levado a comprar um jornal quanto mais esse jornal tenha notcias contendo
alguns dos elementos mgicos que movem o ser humano dinheiro, poder,
sexo e violncia. Sem qualquer paradoxo, estes so tambm os elementos
mgicos da propaganda.
O consumidor acrtico, que parecia ser o cidado dos anos trinta, transformou-
se no consumidor atuante das associaes de defesa, capazes de lobbies
polticos superiores aos das grandes corporaes. Os Servios de Atendimento
a Consumidores, implantados por praticamente todos os fabricantes de
produtos de consumo, foi uma conquista dos prprios consumidores, que se
mostram imunizados contra a propaganda que no parea convincente e
verdadeira.
Os SAC das empresas equivalem seco de cartas dos jornais, ou ento,
melhor ainda, aos ombudsman dos jornais que pretendem maior modernidade
e so tratados como produtos em busca de posicionar-se claramente diante do
mercado leitor.
A propaganda no uma receita para todos os problemas de comunicao
com a sociedade ou qualquer um dos seus segmentos. Erro generalizado entre
polticos e publicitrios o de pretender abordar o eleitorado com as mesmas
tcnicas usadas para promover as vendas de um produto junto ao mercado
consumidor. Os produtos, embora costumem ter vida mais longa que os
polticos, destinam-se a preencher necessidades diferentes. A propaganda
poltica objetiva o cidado, a propaganda comercial pretende atingir os
consumidores. Estas duas entidades, consumidor e cidado, costumam
conviver numa nica pessoa que, por causa dessa mesma dualidade, tem
expectativas diferentes de um e de outro: candidato ou produto.
57
Os polticos compreenderam a importncia da arte e da tcnica da propaganda
e demonstram essa conscincia quando buscam, de todas as formas, aparecer
na mdia. At as comisses parlamentares de inquritos so instrumentos para
se obter maior presena nos noticirios. Tendo ou no o que dizer, alguns
pagam o mico de posar para anncios vendendo sapato ou shopping center,
como foi o caso dos adversrios Brizola, Maluf e Csar Maia.
Como lcito desconfiar que eles no posaram em troca do valor do cach,
claro que a motivao foi a de simplesmente aparecer na TV, na crena de que
forte exposio na mdia corresponde a crescimento na preferncia do
eleitorado. Ou seja: o meio acaba sendo a mensagem.
58
CAPTULO 10
A tendncia simplicidade est constantemente
em ao na nossa mente. Ela cria a organizao
mais harmoniosa e unificada possvel.
Tipos de fontes
Embora nos dias de hoje o nmero de fontes seja incontvel, possvel, em
sua maioria, classificar os tipos por categoria. So eles:
1- Antigo
2- Moderno
3- Com serifa
4- Sem serifa
5- Manuscritos
6- Decorativos
Tipos antigos:
So conhecidos por terem sido criados com base nos traos das letras dos
escrives pblicos e todos que usavam a pena como ferramenta de trabalho.
Os tipos tm uma pequena variao entre traos grossos e finos. No significa
que so manuscritos. Falo do desenho da letra. Dos ngulos. Das serifas.
Exatamente porque possuem traos grossos e finos, os tipos tornam-se
elegantes, clssicos, e, por isso mesmo, eternos.
Os tipos antigos so os melhores para a utilizao em textos longos. Se quiser
que um leitor no se distraia, utilize esses tipos. So mais confortveis aos
olhos.
59
Tipos modernos:
Mesmo ainda tendo serifa, os tipos modernos passaram a ter uma serifa mais
delicada. Os traos das serifas so mais finos. Retos. E as transies de traos
finos e grossos so muito mais acentuadas. Os tipos modernos tm uma
caracterstica elegante, porm menos potica. Lembram muito os tipos
construdos por computador e pouco os desenhados por penas. E, para longos
textos, devem ser usados com moderao e cuidado, dependendo do tipo
escolhido. Como possuem as linhas das serifas finas e alguns traos grossos
demais, podem prejudicar a leitura.
Tipos com serifa:
As serifas so as perninhas que acompanham alguns tipos. s isso.
Simples assim.
Tipos sem serifa:
O desenho do tipo muito uniforme. A transio de traos grossos e finos
praticamente no existe. O peso da letra um s.
60
Tipos manuscritos:
So manuscritos, oras! No geral, se parecem com tipologias escritas a caneta
tinteiro, penas, pincis, lpis. No so bem vindos para utilizao em textos
corridos.
Tipos decorativos:
Os tipos decorativos so os mais complicados de usar. So fantasiosos,
brincalhes, radicais. Como so tratados como arte e no como texto, so
incorporados ao trabalho com a mesma importncia que a imagem.
61
CAPTULO 11
Por maior que seja a vontade e o prazer de
apreciar um bom vinho, nunca encha
o copo at transbordar.
Cores
Processo aditivo de cores:
Isaac Newton estudou a luz e as cores, reproduzindo o arco-ris dentro de
casa. As faixas de cores que conseguiu separar com a incidncia da luz solar
atravs de prismas e lentes foram: o azul-violeta, azul-cian, verde, amarelo,
vermelho-alaranjado e vermelho-magenta. Trs cores visveis no espectro colar
so consideradas as cores bsicas: vermelho, verde e azul. O processo aditivo
quando a acor gerada atravs da luz mistura os comprimentos das ondas que
irradiam o vermelho, o verde e o azul. Quando uma cor adicionada a outra
em sua carga mxima de luz, o resultado branco. Na luz branca esto todas
as outras. Cientificamente comprovado.
Este processo de adio de cores conhecido como RGB (Red, green and
blue) mais usado para monitores de vdeo e TV, pois a luz emite a prpria cor
atravs de cristais e prismas.
62
Processo subtrativo das cores:
No processo subtrativo, a cor determinada pelos pigmentos e exatamente o
inverso do processo aditivo.
As cores, no processo subtrativo, no so determinadas pelas diferentes
emisses de ondas de luz, e sim pela absoro e subtrao das cores da luz
branca. Isto quer dizer que quando a luz branca direcionada a um objeto,
parte desse objeto absorve a luz. A parte da luz que no absorvida refletida
para nossos olhos, desvendando-nos a cor do objeto atingido, revelando-nos
sua pigmentao. E as cores so determinadas pela maior ou menor
quantidade de pigmento das tonalidades vermelho, amarelo e azul.
A partir do processo subtrativo, criou-se o sistema CMYK, usado pelas grficas,
pelas empresas de fotolito, pelas impressoras de nossos computadores. O
CMYK baseia-se nas trs cores primrias: Cian (azul), Magenta (vermelho),
Yellow (amarelo). Adicionamos o K (preto) a essas trs cores para reproduzir
uma quantidade infinita de cores. Tecnicamente falando, o CMYK conhecido
como processo de impresso em quatro cores.
63
PROCESSO DE IMPRESSO EM 4 CORES
Pantone
Outro padro de cores para impresso o PANTONE. O mesmo uma tabela
que rene todas as cores, primrias, secundrias e tercirias, incluindo as
cores especiais (Prata, Bronze, Dourado e outras cores metlicas).
O padro Pantone definido por nmeros onde cada colorao (mistura dos
pigmentos CMYK em %) representa uma tonalidade.
Ex.: C0% M26% Y100% K26% = PANTONE 125 C
Cores Primrias:
64
Cores secundrias:
Combinando as cores primrias em propores iguais, de duas em duas,
teremos as cores secundrias.
Cores tercirias:
As cores tercirias so todas as outras cores. Se no so cores primrias nem
secundrias, so tercirias.
Associao das cores:
Branco paz, pureza, frio, vulnerabilidade, dignidade, divindade, harmonia,
inocncia.
Preto noite, sujeira, medo, morte, maldio, pessimismo, negao, tristeza,
opresso, dor, etc. Na publicidade, est associado nobreza e seriedade.
Cinza p, neblina, chuva, tdio, tristeza, frieza, sabedoria, sobriedade,
seriedade, etc.
Vermelho guerra, sangue, perigo, vida, fogo, sol, mulher, conquista,
masculinidade, fora, energia, movimento, violncia, excitao, emoo, ao,
etc.
Laranja outono, calor, robustez, euforia, alegria, apetite, prazer, senso de
humor, etc. Muito usado em embalagens de alimentos.
Amarelo ouro, sol, calor, luz, vero, conforto, idealismo, espontaneidade,
euforia, alegria, expectativa, etc. Combinado com vermelho, azul-violeta, roxo,
verde e preto torna-se to atrativo que no h como no olhar.
65
Verde primavera, natureza, floresta, flores, folhas, mar, vida, bem-estar,
tranqilidade, segurana, liberdade, juventude, firmeza, coragem, esperana,
etc. Dependendo da tonalidade, pode estar associado energia. O guaran
possui tima combinao exatamente por isso. uma planta forte, energtica.
O verde usado nas peas grficas e nas embalagens do guaran Antarctica
simboliza a natureza e a energia. Alm, claro, de juventude. Especialmente
pela tonalidade vibrante do verde-limo.
Azul cu, frio, mar, feminilidade, tranqilidade, espao, fantasia, infinito, afeto,
noite, serenidade. Dependendo da tonalidade, sobriedade, seriedade,
credibilidade (quando escuro).
Roxo igreja, sonho, mistrio, dignidade, egosmo, grandeza, espiritualidade,
sexualidade, etc. Em contraste com o amarelo ou o laranja, fica uma cor muito
atrativa.
Marrom chocolate, caf, terra, frio, melancolia, sensualidade, desconforto.
No uma cor que se possa usar em comunicao para jovens. Mas se
combinado com a cor dourada, o creme, o bege, o vinho, pode resultar numa
sensao de elegncia e requinte.
Rosa feminilidade, criana, calma, afeto, delicadeza.
A cor na embalagem
O poder de sugesto e persuaso indiscutvel. Por isso mesmo, o lado
psicolgico da cor pensado, repensado e trabalhado com cuidado para atingir
o consumidor pelo lado emotivo da compra. As cores completam a embalagem,
revestindo-a de visibilidade, atrao e impacto.
De modo geral, escolher a cor para a embalagem com base nas associaes
psicolgicas garantia de acerto.
Chocolate marrom, vermelho, alaranjado, ocre, dourado, roxo, azul.
Caf dourado, marrom, vermelho.
66
Leite em p branco, azul-claro, amarelo, verde. s vezes, toques de
vermelho.
Massas vermelho, dourado, azul-celeste, branco.
Ch e mate vermelho, marrom, amarelo, verde (vai depender do sabor do
ch).
Sorvetes branco, laranja, dourado, amarelo, verde-limo, azul (neste caso
tambm depende do sabor).
Queijo branco, vermelho, azul-claro, amarelo.
leos e legumes verde, amarelo, toques de azul e vermelho (cuidado na
tonalidade do verde: dependendo da cor, pode sugerir que o produto est
estragado).
Iogurte branco, azul.
Cosmticos azul, rosa, dourado, prata.
Ceras marrom, branco, vinho.
Desinfetantes vermelho, azul-marinho, branco, verde.
Bronzeadores laranja, amarelo, vermelho, branco.
Produtos para bebs azul-claro, rosa, creme, tons suaves em geral.
Aparelhos (lminas de barbear) amarelo, azul, verde-escuro, prata, preto.
Remdios branco, azul, alaranjado (vermelho e preto so cores reservadas
somente para as tarjas. Cuidado!).
Cervejas dourado, prateado, azul-prateado, vermelho.
Cigarros dourado, prateado, branco, vermelho, azul ( muito variado, pois
variado o pblico).
A cor nos anncios
Pesquisas demonstram que cores que atendem a uma demanda muito grande
nos Estados Unidos, no atendem em iguais propores na Europa. A
influncia que a cor de um anncio exerce no consumidor est diretamente
ligada com a moda, o tempo e o lugar.
Como nosso mercado no exatamente a Europa nem os Estados Unidos,
esquea um pouco a comunicao globalizada e siga algumas dicas para a
escolha da cor.
67
1- Pense na influncia das cores ao escolher qual delas usar no anncio
(TABELA PAG. 201)
2- No esquea a que pblico o anncio se destina.
3- Saiba o grau de ateno que voc deseja despertar. Cores como amarelo e
vermelho, por exemplo, chamam muito a ateno, mas us-las vai depender do
produto, do pblico, do cliente, do conceito do anncio.
4- Se desejar passar seriedade e confiana com o anncio, use cores sbrias.
O verde-escuro, o azul-petrleo, o cinza, o vinho, o preto.
5- Se o anncio for para o pblico jovem, no tenha medo, use cores fortes. De
preferncia, quentes.
6- Associe as cores. Se voc tiver uma fotografia com tons de vermelho, as
cores laranja ou vinho podem cair bem. Claro que vai depender do conceito do
anncio e, de novo, do pblico a que se destina.
7- Harmonizar as cores do anncio com as cores do produto uma sbia
deciso.
8- No faa um carnaval. Sem contar a foto imagem principal trs cores so
o bastante. Usar mais depender de cada caso.
9- Na dvida, deixe o fundo branco e o ttulo preto: no falha nunca. Mas corre-
se o risco de o anncio no se diferenciar.
68
CAPTULO 12
Introduo ao mundo da embalagem
Desenhar embalagens que realmente contribuam para o sucesso do produto
na competio de mercado no uma tarefa fcil. A embalagem hoje um
importante componente da atividade econmica dos pases industrializados,
em que o consumo deste item utilizado como um dos parmetros para aferir
o nvel de atividade da economia.
A embalagem final produto da ao de uma complexa cadeia produtiva que
comea na matria-prima com os fabricantes de vidro, papel, resinas plsticas,
alumnio, madeira e tecidos industriais. A indstria de matria-prima
composta em sua maioria por empresas de grande porte que exigem grandes
investimentos e operam em uma escala de produo muito alta.
Essas matrias-primas alimentam os convertedores que so as indstrias que
fabricam e imprimem garrafas, frascos, potes, sacos, cartuchos, e uma
infinidade de solues acompanhadas de rtulos, tampas, selos, lacres,
cdigos e outros acessrios que constituem o ncleo central da indstria de
embalagem reunindo o maior nmero de empresas no negcio.
Para produzir, esses convertedores utilizam equipamentos, que por sua vez
so fabricados por indstrias especializadas que formam um novo
agrupamento produtivo composto por empresas de porte variado entre grandes
e pequenas.
Os convertedores fornecem para as empresas que embalam seus produtos. As
embaladoras se distribuem em indstrias de alimentos, bebidas, higiene e
limpeza, personal care, cosmticos, produtos domsticos, e assim por diante
em uma cadeia produtiva que opera em linhas de produo utilizando os
equipamentos de envase, que por sua vez so produzidos por outro grupo de
indstrias.
Para as indstrias embaladoras, a embalagem um componente importante do
custo de produo, pois muitas vezes representa o principal item na
composio do custo final do produto, como acontece com a gua mineral e
alguns perfumes por exemplo. tambm um fator crtico na proteo e na
logstica de distribuio de seus produtos.
Muitas empresas embaladoras tm inventrios de embalagem que superam a
centena de milhes de dlares/ ano, o que nos d uma idia da importncia
que este item tem na estrutura de seus negcios.
Entre o fabricante do produto e o consumidor final da embalagem, operam as
empresas de transporte e logstica, os atacadistas e varejistas para os quais a
embalagem representa um papel fundamental em sua estrutura operacional.
Uma vez no ponto de venda, a embalagem se transforma em uma importante
69
ferramenta de marketing, tendo envolvido trabalho de profissionais e empresas
especializadas em marketing, pesquisa, promoo e design.
Compreender a existncia e a estrutura dessa cadeia produtiva que no mundo
todo movimenta anualmente mais de 500 bilhes de dlares o ponto de
partida para o trabalho do designer, pois precisamos estar conscientes que o
design a vitrine de um negcio mundial de grandes propores, e que
envolve o esforo de vrias indstrias e expectativas de empresas e
consumidores.
No se trata apenas de um trabalho de criao artstica, mas a imagem final de
tudo o que foi realizado at aquele momento, e o vnculo definitivo do produto
da cadeia produtiva com o consumidor final, pois a embalagem carrega
tambm a imagem das empresas que a produziram e a marca de seu
fabricante.
Desenhar embalagem atuar em um mundo complexo em que a tecnologia, a
pesquisa e a cincia trabalham intensamente criando e desenvolvendo
processos de conservao e proteo de alimentos, novos materiais,
pigmentos, adesivos, sistemas de fechamento e envase, tudo para obter mais
eficincia e destaque em um cenrio global cada vez mais competitivo.
O mundo da embalagem o mundo do produto, da indstria e do marketing,
em que o design tem a responsabilidade de transmitir tudo aquilo que o
consumidor no v, mas que representa um grande esforo produtivo para
colocar nas prateleiras o que a sociedade industrial moderna consegue
oferecer de melhor.
A embalagem no sentido amplo
Alm das funes bsicas originais da embalagem, ela desempenha uma srie
de funes e papis nas empresas e na sociedade.
Abaixo, agrupamos os principais componentes da amplitude da embalagem
para que ela possa ser compreendida em seu sentido amplo.
70
71
72
73
Principais tipos de embalagens e suas aplicaes
74
O que o design de embalagem
Para falarmos sobre design de embalagem, primeiro preciso posicionar
claramente sobre o que exatamente estamos falando, pois o termo design foi
sendo descaracterizado com o passar do tempo e hoje utilizado para
designar coisas que no correspondem ao conceito original, servindo muitas
vezes mais para confundir que explicar.
O design qual nos referimos foi formatado como conceito e atividade de
projetar objetos, impressos, tecidos, estamparia e cermica tendo seu
desenvolvimento acentuado com a Revoluo Industrial ocorrida no sculo XIX.
A grande questo enfrentada na gnese do design foi projetar para a
reproduo em srie, apoiada por mquinas em um modo de trabalho distinto
do artesanato que era a forma de produo utilizada at ento.
Essa questo foi equacionada de maneira satisfatria na Escola Bauhaus na
Alemanha que reuniu profissionais de diversas especialidades e sintetizou o
conceito como ns o conhecemos hoje. Por sua importncia e influncia na
histria do design moderno, a escola Bauhaus merece destaque em nossas
consideraes sobre o que design.
Como se trata de um temo muito amplo em que os vrios autores que a ele se
dedicaram no so conclusivos e empregam nfases diversas na interpretao
dos fatos histricos e caminhos percorridos para a constituio do design como
atividade, fica difcil fixar uma posio consensual. Por isso adotaremos uma
simplificao arbitrria para que os leitores que no so especializados em
design possam acompanhar a seqncia da obra.
Desde o seu nascimento, o design compreende a atividade de desenhar para a
indstria segundo uma metodologia de projeto que leva em considerao a
funo que o produto final ir realizar, as caractersticas tcnicas da matria-
prima e do sistema produtivo utilizado em sua confeco, as caractersticas e
necessidades do mercado e do destinatrio final do produto, ou seja: o
consumidor.
Tudo isso precisa ser considerado a princpio e levado em considerao no
processo de desenho, para que o produto final seja compatvel com os
equipamentos ou mquinas utilizadas em sua produo e atenda s
expectativas da indstria e dos consumidores.
No caso do design de embalagem, entra tambm como fator decisivo no
projeto a compreenso da linguagem visual da categoria que o produto
pertence. A linguagem visual da embalagem constitui um vocabulrio que os
designers precisam conhecer para poder se comunicar com os consumidores.
Esse o principal diferencial do design de embalagem em relao s outras
linguagens do design; existe um repertrio exclusivo, construdo ao longo dos
sculos com a evoluo do comrcio e o desenvolvimento da sociedade de
consumo, que dotou os produtos de uma roupagem que permite a identificao
de seu contedo e facilita o processo de compra.
75
Assim sendo, podemos chamar de design de embalagem o ato de percorrer o
trajeto estabelecido pela metodologia de projeto atendendo s peculiaridades
que a embalagem tem em relao aos demais produtos industriais, ou seja:
1. A embalagem um meio e no um fim. Ela no um produto final em si,
mas um componente do produto que ela contm e que, este sim, adquirido e
utilizado pelo consumidor. Sua funo tornar compreensvel o contedo e
viabilizar a compra.
2. A embalagem um produto industrial freqentemente produzido em uma
indstria e utilizado na linha de produo de outra com caractersticas tcnicas
rigorosas que precisam ser respeitadas.
3. A embalagem um componente fundamental dos produtos de consumo,
sendo considerado parte integrante e indissocivel de seu contedo.
Caractersticas da categoria em que o produto se insere, hbitos e atitudes do
consumidor em relao a esta categoria precisam ser conhecidos e
considerados no projeto de uma embalagem.
4. A embalagem um componente do preo final do produto e tem implicaes
econmicas na empresa que precisam ser consideradas no projeto. Ela agrega
valor ao produto, interfere na qualidade percebida e forma conceito sobre o
fabricante elevando ou rebaixando sua imagem de marca. A logstica de
distribuio e a proteo so fatores crticos em um projeto de embalagem.
5. A embalagem constitui um importante componente do lixo urbano, e
questes como ecologia e reciclagem tambm esto presentes em um projeto
de embalagem.
6. A embalagem, como suporte da informao que acompanha o produto,
contm textos que devem obedecer a legislao especfica de cada categoria e
o cdigo do consumidor.
7. A embalagem uma ferramenta de marketing sendo que nos produtos de
consumo tambm um instrumento de comunicao e venda. Na maioria dos
casos, ela a nica forma de comunicao que o produto dispe, uma vez que
a grande maioria dos produtos expostos em supermercados no tem qualquer
apoio de comunicao ou propaganda.
Do ponto de vista mercadolgico, podemos citar os objetivos de marketing do
produto como o tema principal nesta lista, pois o design de embalagem
profissional est sempre ligado rea de marketing da empresa. Assim, temos
os seguintes pontos relevantes a serem levantados:
1. Caractersticas e tamanho do segmento de mercado em que o produto
participa.
2. Caractersticas da concorrncia e sua participao no segmento.
3. Distribuio e exposio do produto com caractersticas de cada canal
utilizado.
76
4. Pblico-alvo e comportamento do consumidor em relao a esta categoria
de produtos.
5. Imagem da empresa fabricante a ser transmitida pelo produto, como aval da
marca.
6. Linguagem visual da categoria a que o produto pertence.
Esses so os principais aspectos que envolvem o projeto de design de
embalagem e que precisam ser considerados em sua elaborao.
Estamos falando realmente em design de embalagem quando, no trabalho de
projetar todos estes aspectos so considerados, estudados, equacionados e
respondidos pelo desenho final. Trata-se de uma forma especfica de desenhar
que difere fundamentalmente do conceito de criao ou desenho artstico e tem
caractersticas peculiares que o distinguem das outras variantes do design.
A famosa lata de sopa Campbells
transformada por Andy Wahol em
cone da Pop Art.
O movimento artstico que
compreendeu pela primeira vez o
impacto da embalagem e sua
eficincia cultural na sociedade de
consumo.
Quem vai desenhar embalagens ou tem de alguma forma responsabilidade, ou
participao, neste processo, precisa saber que para se alcanar um resultado
final necessrio atender aos 10 pontos-chave que so:
Os 10 pontos-chave para o design de embalagem
1 CONHECER O PRODUTO
A embalagem expresso e atributo do contedo. No podemos desenh-la
conhecer profundamente o produto. Assim, as caractersticas, a posio do
produto, seus diferenciais de qualidade e principais atributos, incluindo seu
processo de fabricao, precisam ser compreendidos.
77
Uma visita fbrica necessria e recomendada. A histria do produto, o
material de divulgao, anncios, pesquisas de embalagens antigas, tudo
isso precisa ser levantado.
Quanto mais e melhor conhecermos o produto, maior ser a chance do
nosso trabalho vir a ser uma verdadeira expresso de seu contedo. Sem
isso, ocorre e vemos com muita freqncia no mercado embalagens de
fachada semelhantes s casinhas dos filmes de bangue-bangue.
2 CONHECER O CONSUMIDOR
Saber quem compra e utiliza o produto fundamental para estabelecer um
processo de comunicao efetiva por meio da embalagem.
As caractersticas desse consumidor, seus hbitos e atitudes em relao ao
produto e principalmente motivao que o leva a consumi-lo so um ponto-
chave a ser conhecido pelo designer e pelos profissionais responsveis pelo
projeto que devem procurar compreender por que este consumidor compraria o
produto.
O conhecimento do consumidor to importante que projetos de grande
responsabilidade devem contar sempre com o apoio de pesquisas
especializadas em avaliar a relao desse consumidor com a embalagem.
Um produto indito requer mais
estudo e compreenso por parte
do design, pois o consumidor
nunca viu algo assim, e o
supermercado no tem um ponto
estabelecido para ele. Tudo so
hipteses.
3 CONHECER O MERCADO
O mercado onde o produto participa tem suas caractersticas prprias. Tem
histria, dimenses e perspectivas.
um cenrio concreto que precisa ser conhecido, estudado e analisado
para que o design da embalagem no seja um salto no escuro.
O fabricante do produto deve fornecer as informaes que dispuser sobre o
mercado ou busc-la nas fontes de pesquisa para subsidiar o projeto de
design.
78
Todo consumidor usa este produto,
mas existem muitas marcas e
variaes de preo nesta categoria.
Conhecer o consumidor-alvo do
produto fundamental para o
sucesso de qualquer projeto.
4 CONHECER A CONCORRNCIA
Por melhor e mais bonito que seja o design, de nada ele adiantar ao
produto se no conseguir enfrentar a concorrncia no ponto-de-venda.
Conhecer in loco e as condies em que se dar a competio
fundamental para o design de embalagem.
Estudar o ponto-de-venda, cada um dos concorrentes, analisar a linguagem
visual da categoria e compreend-la so pontos-chave para a realizao de
projetos de sucesso.
O estudo de campo deve ser realizado com critrio e dedicao pelo
designer.
5 CONHECER TECNICAMENTE A EMBALAGEM A SER DESENHADA
A linha de produo e de embalamento, a estrutura dos materiais utilizados
as tcnicas de impresso e decorao, o fechamento e a abertura, os
desenhos ou plantas tcnicas da embalagem a ser desenhada precisam ser
conhecidos meticulosamente. Tanto para se obter o mximo dos recursos
disponveis como para evitar erros que podem prejudicar o projeto.
Visita linha de embalamento e contato com os fabricantes da embalagem
so fundamentais para a qualidade final do trabalho.
6 CONHECER OS OBJETIVOS MERCADOLGICOS
Saber por que estamos desenhando uma embalagem e o que estamos
buscando com o projeto outro ponto-chave que precisa estar bem claro.
Os objetivos de marketing, a participao de mercado, o papel da embalagem
no mix de comunicao e as diretrizes comerciais do projeto precisam ser
conhecidos para estabelecer os parmetros que nortearo o projeto e
devero ser atendidos pelo design final apresentado.
preciso ter uma meta a ser buscada para poder avaliar os resultados
alcanados.
79
Muitas vezes o produto compete
em um mercado complexo com
muitas nuances e limites poucos
precisos. Cada mercado tem
caractersticas prprias que
precisam ser conhecidas.
7 TER UMA ESTRATGIA PARA O DESIGN
Todos os itens anteriores uma vez compreendidos precisam ser
organizados e transformados em uma diretriz de design com uma
estratgia clara e consciente.
Antes de desenhar preciso pensar.
A funo da estratgia na metodologia fazer com que as premissas
bsicas do projeto sejam equacionadas e indiquem uma direo a ser
seguida no processo de design para responder aos objetivos traados.
Esse o ponto central da nossa metodologia, pois de nada adianta todo o
esforo empreendido no projeto se o resultado final no for competitivo.
Posicionar visualmente o produto de forma que se obtenha vantagem
competitiva no ponto-de-venda o melhor que um projeto de design de
embalagem pode alcanar, e a estratgia de design deve sempre buscar este
objetivo.
Para a montagem da estratgia
fundamental conhecer os produtos
concorrentes e a posio que ocupam na
categoria. Em cada posio ocupada, a
atividade do produto diferente e o espao
para a ao do designer tambm.
Cada situao oferece oportunidades e
exige uma estratgia. Neste exemplo,
quem fizer uma embalagem que pare em
p e mostre todo o painel frontal vai
conquistar a vantagem visual e sair do
lugar comum.
8 DESENHAR DE FORMA CONSCIENTE
Para atender s premissas estabelecidas e os objetivos mercadolgicos do
projeto, preciso que o trabalho de design seja realizado de forma consciente
e metdica, e no baseado puramente no impulso criativo.
80
A criatividade necessria e desejvel, mas precisa ser exercida em favor dos
objetivos estratgicos do projeto.
O designer deve aproveitar cada oportunidade para evoluir, e por isso precisa
empenhar-se de verdade em cada projeto buscando superar o que j fez no
passado.
Cada projeto deve ser tratado com cuidado e dedicao para ser um ponto
forte do produto que nos foi confiado.
importante observar tambm os
limites da categoria, e os produtos
posicionados ao lado dela.
9 TRABALHAR INTEGRADO COM A INDSTRIA
Conhecer a indstria que vai produzir a embalagem uma das proposies
bsicas para o sucesso do projeto. Muitos problemas que normalmente
ocorrem em projetos de embalagem so evitados com esta providncia
simples. Porm, o grande benefcio do projeto integrado a possibilidade de
encontrar melhores solues, pois por meio da indstria que as novas
tecnologias chegam aos designers.
O trabalho integrado do designer com a indstria permite embalagem final se
beneficiar da experincia e das melhores solues tecnolgicas em prol do
cliente.
As embalagens cartonadas asspticas so
formadas e recebem o produto em um
ambiente esterilizado. Elas entram em
bobina e saem da mquina em um
processo cheio de detalhes que exigem do
design o conhecimento de processo e da
tcnica de impresso.
Nesta embalagem foi introduzido pela
primeira vez no mercado um rtulo
transparente para este tipo de produto.
Esta inovao s foi possvel graas ao
trabalho integrado do cliente, da agncia de
design e da indstria que produziu o rtulo.
81
10 FAZER A REVISO FINAL DO PROJETO
Quando a embalagem final chega ao mercado, o designer e o cliente devem
fazer uma visita a campo para avaliar o resultado final e propor eventuais
melhorias ou ajustes que possam ser incorporados s novas produes e
reimpresses.
S no ponto-de-venda, em condies reais de competio, que podemos
avaliar o resultado final alcanado. Ao fazermos isso, estaremos evoluindo
nosso trabalho e evitando pequenas falhas no futuro.
Estes produtos no so idnticos. Existem
entre eles diferenas significativas de preo
e desempenho. Ao designer cabe propor
de forma consciente o estabelecimento de
uma hierarquia de valor que informe ao
consumidor o porqu de um produto ser
mais caro que o outro.
82
Captulo 13
O que um logotipo?
Smbolo que serve identificao de uma empresa, instituio, produto, marca
etc., e que consiste ger. na estilizao de uma letra ou na combinao de
grupo de letras com design caracterstico, fixo e peculiar.
O que uma logomarca?
1 Conjunto formado pela representao grfica do nome de determinada
marca, em letras de traado especfico, fixo e caracterstico (logotipo) e seu
smbolo visual (figurativo ou emblemtico) .
2 Representao visual de qualquer marca
O PRODUTO ALGO QUE FEITO NA FBRICA; A MARCA ALGO QUE
COMPRADO PELO CONSUMIDOR. O PRODUTO PODE SER COPIADO
PELO CONCORRENTE; A MARCA NICA. O PRODUTO PODE FICAR
ULTRAPASSADO RAPIDAMENTE; A MARCA, BEM-SUCEDIA ETERNA.
Stephen King
Grupo WPP, Londres
Um pouco de histria
- O Brand Manager, uma funo criada em 1931 pela Procter & Gamble.
- Em 1967, 84% das indstrias norte-americanas haviam em seu corpo de
funcionrios profissionais que trabalham com o gerenciamento de marcas.
- Hoje, com a velocidade de evoluo dos mercados, o Brand Manager
descobriu uma poderosa ferramenta de trabalho e sofreu um update, se
tornando um Brand Equity Manager, que nada mais do que o Gerente de
Patrimnio Lquido da Marca, o Gerente de Lucros que a marca rende.
Como funciona isso?
O Brand Equity um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu
nome e seu smbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado
por um produto ou servio para uma empresa e/ou consumidores dela. Para
que certos ativos e passivos determinem o brand equity, eles devem estar
ligados ao nome e/ou smbolo da marca. Se o nome da marca e/ou smbolo for
mudado, alguns ou todos os ativos e passivos podero ser afetados, e mesmo
perdidos, embora parte deles possam ser desviados para um novo nome e/ou
smbolo. Os ativos e passivos nos quais o brand equity se baseiam vo definir
de contexto a contexto. Contudo, porm, de forma prtica, ser agrupados em
cinco categorias:
83
1 LEALDADE A MARCA
atrair novos consumidores, mesmo que seja dispendioso.
conquistar novos compradores, que se trata de CRIAR na mente do
consumidor uma imagem de conhecimento do produto, que envolve: qualidade,
suprimento da necessidade, o desejo de TER, o status, entre outros. Gerando
assim, segurana na marca e finalizando a conquista da compra satisfatria.
MANTER os antigos consumidores, fazendo o mesmo trabalho de sempre,
mostrando que seu produto sempre tem a qualidade, a segurana, a sade, a
economia, entre outros, que voc precisa.
2 CONHECIMENTO DA MARCA
Faa seu consumidor conhecer o que est por trs da marca.
Seja humano levando a ele um conhecimento de ttulo curioso, bem no estilo
voc sabia que...
Assim voc faz sua marca se tornar familiar, simptica.
Isso gera um sinal de substncia/ comprometimento.
Alm de ser uma ncora de ligao para outras associaes.
Ex: Uma marca to importante, que se sua empresa desenvolve algum tipo
de projeto social ou faz parte de qualquer um outro que seja de conhecimento
nacional, e voc no comunica para o consumidor (atravs de uma logo de
conhecimento universal) ele pode deixar de comprar o seu produto. Ele nunca
compra um produto por ter em sua embalagem uma marca de atividade social,
mas ele deixa de dar preferncia pra sua empresa se faltar a comunicao.
3 QUALIDADE PERCEBIDA
o que gera a razo de compra.
Diferenciao/ posio em relao ao concorrente.
Preo.
4 ASSOCIAES DA MARCA
Ajuda a interpretar fatos e passar mensagens e conceitos.
Cria atitudes e sentimentos percebidos.
5 OUTROS ATIVOS DA EMPRESA
Que so as vantagens competitivas
Os diferenciais.
Isso tudo proporciona valor ao consumidor aumentando: interpretao/
processamento de informao; confiana no processo de deciso Satisfao
de uso.
84
Ao mesmo tempo proporciona valor a empresa aumentando: eficincia e
eficcia nos programas de marketing, lealdade marca, alavancagem
comercial e vantagem competitiva.
A IMAGEM DA MARCA
o conjunto de percepes, crenas, idias e associaes cognitivas ou
afetivas que uma pessoa tem sobre um produto/ servio e que condiciona seus
hbitos de consumo.
Em outras palavras, ns vivemos em um mundo de smbolos. Smbolos
cognitivos, que passam uma srie de sensaes, sejam elas positivas ou
negativas.
As pessoas compram a marca, no a origem. (Made in China, Japo, etc.) A
Sony, por exemplo, pesquisa seus produtos no Japo, mas dificilmente fabrica
os mesmo l. Sua produo se concentra basicamente na China.
O consumidor compra um produto se a imagem deste corresponder:
- imagem que ele tem de si mesmo (identidade com sua auto-imagem). Ex:
Produtos bsicos, normais, do dia-a-dia.
- Ou a imagem que desejam ter de si mesmos (imagem aspiracional). Ex:
Produtos com marca consagrada geralmente comprado com esforo.
- Ou ainda a imagem que ele deseja transmitir para os outros (auto-imagem
projetada).
Ex: Geralmente produtos de status.
TIPOS DE MARCA
1 DE PRODUTOS E SERVIOS: COCA-COLA, LEITE NINHO, BOMBRIL,
BRASTEMP, NIKE, LEVIS,VEJA, O ESTADO DE SO PAULO E SEDEX.
2 DE EMPRESAS: VARIG, UNILEVER, BRADESCO, GENERAL MOTORS,
EDITORA ABRIL, MC DONALDS E PETROBRAS.
3 COMUNS A EMPRESAS E SEUS PRODUTOS E SERVIOS: NESTL,
BAUDUCCO, SAIDA, VOLKSWAGEN, PHILIPS, REDE GLOBO DE
TELEVISO.
4 DE LINHAS, FAMLIAS OU PRODUTOS E SERVIOS UMBRELLA:
BRAHMA, BIC, KNORR, AUDI, TODDY.
5 DE SITEMAS OU REDES, TAMBM CHAMADAS DE BANDEIRAS:
VISA, SHELL, HOTELARIA ACCOR, POSTOS BR, GRUPO ODILON
85
SANTOS, GRUPO PAULO OCTVIO (BSB), AMBEV, IGUATEMI,
FLAMBOYANT.
6 DE INSTITUIES: EMBRATUR, USP.
7 DE MOVIMENTOS CIVIS, SOCIAIS, COMUNITRIOS OU CULTURAIS:
CRIANA ESPERANA, AMIGO DA ESCOLA, NATAL SEM FOME.
8 SOBRE MARCAS OU ESTENSES DE MARCAS: MOA FIESTA,
HAVAIANAS FASHION, SADIA KIDS, PERSONALIT.
9 PRPRIAS (DE EMPRESAS VAREJISTAS): QUALITT (PO-DE-
ACAR)
10 CONCEITUAIS: GERALMENTE DEFINEM UMA ATITUDE DE
COMPORTAMENTO DIANTE DO MERCADO. VIRGIN (GREAVADORA,
LIVRARIA, LOJAS DE CD, EMPRESAS AREAS, CYBER CAF)
11 DE ORIGEM: ASSEGURANDO A PROCEDNCIA. EX: LYCRA, INTEL
INSIDE.
12 DE ENDOSSO: GARATEM PADRES DE QUALIDADE E
COMPORTAMENTO. EX: FUNDAO ABRINQ, ISO 9000.
QUANTO VALE UMA MARCA?
As 10 marcas mais valiosas, em bilhes de dlares, no mundo so:
EMPRESA VALOR
Coca-cola 70,45
Microsoft 65,17
IBM 51,77
GE 42,34
Intel 31,11
Nokia 29,44
Disney 28,04
Mc Donalds 24,70
Malboro 22,18
Mercedes 21,37
Fonte: Interbrand, JP Morgan Chase & Co, Citigroup, Morgan Stanley
Uma marca um nome diferenciado e/ou smbolo destinado a identificar os
bens ou servios de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a
diferenciar esses bens e servios daqueles dos concorrentes.
Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e protege, tanto
o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos
que paream idnticos.
86
O PIOR INIMIGO DE UMA GRANDE MARCA O EMPRESRIO QUE NO
TEM PERSONALIDADE NEM SEGURANA PARA APROVAR UMA MARCA
QUE NO PAREA COM A DOS CONCORRENTES.
DIVERSIFIQUE SUA MARCA.
TENHA VISO.
UMA VEZ, LI EM UM LIVRO, DE UM GRANDE PUBLICITRIO BRASILEIRO,
QUE O VERDADEIRO ADMINISTRADOR DE MARKETING BUSCA UMA
AGNCIA DO TAMANHO DA SUA EMPRESA. ASSIM ELE PODE SER
MELHOR ATENDIDO E ENTENDIDO.
SEJA ADMINISTRADOR DO DESIGN. TENHA A SENSIBILIDADE DE
ESTUDAR O SEU CLIENTE. E PROCURE SABER QUAIS SO OS PLANOS
DELE PARA A EMPRESA QUE SER DESENVOLVIDA A MARCA.
PROCURE DESCOBRIR SE AS INTENSES SO REGIONAIS, NACIONAIS
OU INTERNACIONAIS.
DA SIM, VOC VAI PODER DESENVOLVER O RETORNO QUE A IMAGEM
DA MARCA DEVE DAR.
COMO?
OS INGLESES TM AS MELHORES MARCAS PORQUE NO COPIAM AS
TENDNCIAS MUNDIAIS, APENAS DESCREVEM A SUA CULTURA.
PARE DE IMPORTAR VISUAIS E COSTUMES. UTILIZE DE SUA CULTURA.
E PASSE A EXPORTAR MARCAS.
NESTE MUNDO PLURALISTA, CHEIO DE IDIOMAS E RELIGIES, A
MELHOR FORMA DE SE IDENTIFICAR ATRAVS DE UMA MARCA
FORTE E UNIVERSAL.
ENTO BUSQUE UM ELEMENTO DE LINGUAGEM NICA E TRABALHE
SUA LOGOMARCA. NO USE UM PEQUI PARA UM PRODUTO NACIONAL,
ASSIM COMO UM BERIMBAU PARA UM INTERNACIONAL. USE DA
RACIONALIDADE.
EMPRESRIOS TM A MANIA DE PROCURAR UM NOME, UMA SIGLA,
PARA SUA EMPRESA. SE O EMPRESRIO SRIO E ACREDITA NO SEU
NEGCIO, NO EXISTE MELHOR MARCA QUE O PRPRIO NOME. O
CONSUMIDOR GOSTA DE COMPRAR UM PRODUTO COM O NOME DO
DONO. CHIQUE.
87
VICTOR HUGO
CALVIN CLAIN
ARMANI
VERSOLATO
IDICE
COLCCI
RICARDO ARANTES
Quando fazemos uma maca nova, devemos nos preocupar com coisas que vo
muito alm do sucesso comercial ou da repercusso institucional do mercado.
Devemos considerar a opinio do empresrio. Ele tem que ficar orgulhoso da
sua nova marca, deve levar para casa e mostrar para a esposa, para os filhos,
para os amigos. E no s para pedir opinio. para envolver as pessoas que
compem a sua comunidade ao novo smbolo que carregar a imagem do seu
empreendimento. Isso se propagar dentro da empresa. O amor que pode
despertar uma nova marca agir de maneira positiva no funcionamento da
empresa, onde todos vo torcer pelo sucesso da nova marca.
Mais uma vez: OUA seu cliente.
Analise a estrutura funcional da empresa.
Conhea o produto. Se possvel, teste.
Apaixone-se, tambm, pelo que a sua marca ir representar.
Desenvolva a logomarca em cima de tudo isso.
E defenda ela com todos os argumentos conclusivos de sua anlise.
Faa que seu cliente, assim como voc, tenha a marca como um novo filho.
O que um publicitrio faz vender sonhos.
88
CAPTULO 14
UM POUCO DE HISTRIA DA IDENTIDADE VISUAL
Como j vimos em outras oportunidades o homem do Paleoltico
Superior, vivendo num mundo perigoso e hostil, deixava registrado nas paredes
das cavernas a sua experincia. Sua habilidade de expressar, por meio de
smbolos, os conceitos e ocorrncias mais comuns de seu dia-a-dia era uma
tcnica usada por esse homem primitivo e denominada de Naturismo, servindo
como um guia para a sobrevivncia de sua famlia ou da sua tribo.
Simbolicamente, ali no estavam representados somente os fatos do
seu cotidiano, como a caa de animais. Tambm registrava-se fatos at ento
sobrenaturais, como o fogo, o raio, o sol e a lua. E conseqentemente, os
indivduos que podiam desenh-los e interpret-los, passaram a ter com eles
uma relao mstica. E foram esses mesmos personagens que acabaram
estabelecendo regras para que se pudesse viver em comunidades. O
nascimento, a morte e outros fenmenos inexplicveis passaram a ser
atribudos aos deuses. Rituais e smbolos ordenavam sua comunicao com
essas entidades.
Fonte: http://cache02.stormap.sapo.pt/fotostore01/fotos//a2/87/be/1311125_dFQ1B.gif
At na Idade mdia (Sculo XII), os smbolos encontrados em objetos
no eram os dos seus criadores, que em sua grande maioria eram escravos,
mas sim dos seus senhores. Os smbolos continuavam a ser usados quase que
89
como uma prerrogativa das classes dominantes (reis religiosos e militares) e
dos deuses. Somente a partir dessa poca que artesos, artistas e
comerciantes comearam a alterar esse costume, passando a assinar seus
trabalhos e possesses.
nfora para vinagre marcada com as letras K e A. Primeiro sculo d.C.
Fonte: Strunck (2003, p. 60)
14.1 - AS PRIMEIRAS IDENTIDADES VISUAIS
Como vimos, historicamente o ensino da programao visual coisa
recente, mas o emprego da identidade visual remota antiguidade.
Normalmente considerados como uma expresso tpica da sociedade de
consumo, os smbolos, como os usamos hoje, nasceram com as primeiras
trocas comerciais e, desde ento, estiveram sempre presentes na sociedade
de uma outra forma. Descobertas arqueolgicas mostram que os oleiros
romanos usavam em seus potes sinais como o nome do fabricante e sua
localidade. Essas marcas serviam para controlar e evitar o roubo e tambm
representavam uma garantia de origem dos produtos ali embalados.
Com o emprego dos primeiros smbolos, aconteceram tambm as
90
primeiras falsificaes, que j davam, desde aquela poca, lugar a uma ao
civil (actio injuria ou actio doli, segundo o caso).
Smbolos tambm foram achados em nforas que continham vinho e
leo, indicando mercadores que existiam na regio do Mediterrneo. Eram os
ancestrais dos nossos atuais sistemas de identidade visual.
Na Idade Mdia surgem as corporaes. Os artesos de uma mesma
espcie juntam-se em associaes que tem regras, obrigaes, direitos e
princpios comuns. Cada corporao possua o monoplio da fabricao e da
comercializao de determinado produto. Em princpio, toda concorrncia era
proibida. Para facilitar esse controle, torna-se obrigatrio o uso de smbolos
corporativos. Como hoje em dia, esses smbolos eram uma espcie de selo do
autor, destinados a mostrar que o produto estava dentro da lei. Servia tambm
para comprovar que uma corporao no estava tirando os direitos da outra.
Junto com o smbolo da corporao, era tambm usado o do arteso
(mais discreto, facultativo, mas protegido por lei). Essa marcao identificava o
autor de um produto que por ventura tivesse m qualidade. Uma vez adotado,
esse smbolo no podia mais ser modificado, passando a autenticar todos os
objetos de sua produo. Dessa forma, aconteciam coisas curiosas, como
encontrar em uma s pea de tecido 4 smbolos: o do arteso que o fabricou, o
do que o tingiu, o do mestre que o supervisionou e o do fiscal que controlou
sua produo. Nos produtos destinados a exportao, era colocado tambm o
smbolo do mercador, que permitia identificar e recuperar as peas roubadas
por piratas. Por essa poca surgiram os smbolos honorveis, que eram
aqueles usados pelos artesos que forneciam seus produtos aos reis.
At hoje smbolos honorveis como o acima citado so usados. No
Reino Unido, todos os produtos de excelncia em qualidade que so
consumidos pela realeza britnica levam uma marca de certificao.
91
Selo de certificao de qualidade da Realeza Britnica. By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II. Tea
& Coffee Merchants R. Twinings & Co. Ltd. London.
Eram os primrdios do principal objetivo da identidade visual dos nossos
dias, com os smbolos sendo empregados como uma garantia pblica de
qualidade e responsabilidade sobre o que se produz.
Hoje, nas sociedades mais avanadas, essa postura levada a srio.
difcil encontrar uma empresa lder em seu mercado que no ostente
em suas embalagens o telefone de seu SAC (Servio de Atendimento ao
Consumidor), de forma a manter um canal permanente de comunicao com
seus consumidores para reclamaes e sugestes.
Outro ponto que com a criao do Cdigo da Proteo e Defesa do
Consumidor passamos a ter por lei uma srie de direitos antes inexistentes.
Surgem os PROCONs nas maiorias das cidades, para encaminhar as
reclamaes dos consumidores, e as empresas comearem a se conscientizar
que so enormes os prejuzos caso no respeitem seus pblicos.
E assim entramos na questo do marketing de relacionamento.
14.2 - IDENTIDADE VISUAL
Quando um nome ou idia sempre representado visualmente sob
determinada forma, podemos dizer que ele tem uma identidade visual.
Quando as vrias embalagens de uma linha de produtos foram
programadas visualmente para apresentarem uma consistncia entre si, esse
produto tem uma identidade visual.
Quando uma empresa, que presta algum tipo de servio, apresenta uma
mesma imagem em seus impressos, uniformes, veculos, etc., essa empresa
92
tem uma identidade visual que, nesses casos, pode tambm ser chamada de
identidade empresarial ou corporativa.
Segundo Strunck (2003, p.57) a identidade visual o conjunto de
elementos grficos que iro formalizar a personalidade visual de um nome,
idia, produto ou servio. Esses elementos agem mais ou menos como roupas
e as formas de as pessoas se comportarem. Devem informar,
substancialmente, primeira vista. Estabelecer com quem os v um nvel ideal
de comunicao.
Em nosso dia-a-dia temos inmeros contatos com as marcas. Esses
contatos podem ser conscientes ou inconscientes, racionais ou emocionais,
mas quase sempre tem conosco uma interface visual. Assim, fundamental
para o sucesso das marcas apresentarem identidades visuais consistentes,
que propiciem seu efeito acumulativo.
14.3 - OS ELEMENTOS INSTITUCIONAIS
Basicamente so quatro os elementos institucionais que compem uma
identidade visual:
OS PRICIPAIS: OS SECUNDRIOS:
- Logotipo
- Smbolo
- Cor (ou cores) padro
- Alfabeto padro
14.4 - LOGOTIPO
Strunck (2003, p.70) define logotipo como a particularizao da escrita
de um nome. Ele ainda completa: sempre que vemos um nome representado
por um mesmo tipo de letra (especialmente criado, ou no), isso um logotipo.
Toda marca tem sempre um logotipo. Um logotipo sempre vai possuir letras,
letras desenhadas, de alfabeto existente ou de algum alfabeto existente mas
que foi especialmente modificado.
14.5 - SMBOLO
Strunck (2003, p.71) define smbolo como um sinal grfico que, com o
93
uso, passa a identificar um nome, idia, produto ou servio. Porm, nem todas
as marcas tem smbolos.
Qualquer desenho pode ser considerado smbolo se um grupo de
pessoas o entender como representao de alguma coisa alm dele mesmo.
Ateno! muito importante no confundir smbolo com signo. Os
desenhos utilizados na placa de sinalizao de ruas so signos, pois tm um
significado especfico, destitudo de emoo. J um smbolo nos desperta uma
srie de informaes e experincias que tenhamos armazenados sobre uma
marca.
Um signo pode, por exemplo, ter significado apenas para uma
determinada cultura ou ser de uso universal.
Podemos classificar os smbolos como abstratos e figurativos:
- Abstratos: Nada apresentam a primeira vista, seus significados devem ser
aprendidos.
TELEMAR Servios em Telecomunicaes TERRA Provedor de internet
- Figurativos: Podem ser de trs naturezas:
Os baseados em cones, cujos desenhos so bastante fiis ao
que querem representar.
Fundao O Boticrio de Proteo a Natureza
94
Dominos Pizza
Os baseados em fonogramas, formados apenas por letras e
que no so logotipos, porque no so a escrita das marcas que
representam.
Jornal Nacional Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social
Os baseados em ideogramas, cujos desenhos representam
idias ou conceitos.
Vasp, uma figura alada INCRA, Instituto Nacional de Colonizao e Reforma
Agrria, um campo cultivado
Muita gente chama o smbolo de logotipo. Outros o chamam de marca.
bom que fique bem claro que marca um nome + smbolo, que tambm
95
denominamos de logomarca. Posso falar que gosto, por exemplo da marca
Natura, cujo logotipo e que tem como smbolo.
14.6 - COR PADRO
As pessoas podem no saber descrever o logotipo ou o smbolo das
marcas mais conhecidas, mas certamente so capazes de dizer suas cores.
Uma ou mais cores, que, sempre nos mesmos tons, so usadas nas
identidades visuais, so chamadas de cores padro. Na maioria das vezes
passam, com o uso, a ter mais reconhecimento do que o logotipo ou smbolo.
A Coca-Cola vermelha. A Pepsi azul. A BR verde e amarela, a
Shell, vermelha e amarela e a Ipiranga azul e amarela. Essas cores so
intrinsecamente relacionadas empresas que representam, fazem parte de
sua personalidade visual, podendo ser reconhecidas a grandes distncias,
antes mesmos que possamos ler seus smbolos ou logotipos.
As cores da UOL Universo Online so to caractersticas, vermelho,
amarelo e laranja, que se trocamos por outras como os tons de azul
apresentados, vamos achar que nosso monitor estragou ou que o site no
momento no se encontra seguro e pode estar a merc de hackers. Em uma
hora dessas, conseqentemente o consumidor se ausenta do portal
decepcionando muitos anunciantes que pagaram caro para o encontrar
naquele momento, naquele site.
14.7 - ALFABETO PADRO
aquele empregado para escrever todas as informaes
complementares numa identidade visual. Numa empresa, por exemplo, seria
aquele usado para escrever os textos nos impressos administrativos, folhetos
ou catlogos.
96
Talvez, o mais conhecido alfabeto padronizado que exista, mais uma vez
seja o da empresa Coca-Cola. Temos tambm o da NASA, o da Disney e o da
srie de filmes Guerra nas Estrelas.
A escolha de uma famlia de letras para alfabeto padro de uma
identidade importante porque ele a complementa e lhe confere consistncia.
97
Bibliografia
AAKER, David A. MARCAS BRAND EQUITY Gerenciando o valor da
marca. So Paulo: Negcio Editora, 1998.
COSTA E SILVA, Adriana Branding & Design. Rio de Janeiro: Rio Books,
2002.
COLLARO, Antnio Celso. Produo Grfica Arte e Tcnica na Mdia
Impressa. Prentice Hall (Pearson Education)
COLLARO, Antnio Celso. Produo Visual e Grfica. Summus.
COLARO, Antnio Celso. Projeto Grfico. So Paulo. Atlas, 1996. 3 ed.
HURLBURT, Allen. LAYOUT: O design da pgina impressa. Editora NOBEL.
JONES, JOHN PHILIP (Org.) A publicidade na construo de grandes
marcas. Coleo GRUPO DE MDIA DE SO PAULO. So Paulo: NOBEL,
2005.
MOLES, Abraham. O cartaz. So Paulo, Perspectiva, 1997.
MUNARI, Bruno. Design e Comunicao Visual. So Paulo, Martins Fontes
1997.
NETO, Mrio Carramillo. Produo grfica II - Papel, tinta, impresso e
acabamento~ So Paulo: Global, 1997.
NEWTON, Cezar. Direo de Arte em Propaganda. Distrito Federal: Senac
Distrito Federal, 8 ed., 2006.
PETIT, Francesc MARCA e meus personagens So Paulo: Editora Futura,
2003
PESTER, 1. & GEENSTR.EET. Manual de tcnicas grficas. So Paulo:
Alianza, 1994.
RIBEIRO, M. . Planejamento visual grfico. So Paulo, Linha Grfica, 1995.
RIBEIRO, Jlio e outros. Tudo o que voc queria saber sobre propaganda e
ningum teve pacincia para explicar. Editora: Atlas
RIES, AL & LAURA A ORIGEM DAS MARCAS. So Paulo: M.Books, 2006.
SANTANNA, Armando. Propaganda: Teoria, tcnica e prtica. Editora:
Thomson / Pioneira
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. Editora Campus.
98
SAMPAIO, Rafael Marcas de A a Z. Rio de Janeiro: Editora Campos, 2002.
STRUNCK, Gilberto Luis Teixeira Leite Como criar identidades visuais para
marcas de sucesso. Rio de Janeiro: Rio Books, 2003.
VIEIRA, Stalimir. Raciocnio Criativo na Publicidade. So Paulo, Loyola, 1999.
VILLAS-BOAS, Andr. Produo Grfica para Designers Srie Oficinas.
Editora 2ab.
99
ARTIGOS COMPLEMENTARES
100
O designer e o design da marca contempornea
Alvaro de Melo Filho
1
Resumo
Com a inteno de proporcionar um melhor entendimento ao que converge
rea do design de marcas, procurou-se estabelecer discusses sobre a marca
e suas relaes com o objeto, e as possibilidades que logotipos e signos esto
trilhando dentro de um universo contemporneo. A discusso comea com o
objeto e suas relaes com o sujeito, tendo este objeto coexistido dentro do
mbito das experincias de cada usurio. Descobre-se que, para serem
incorporados ao cotidiano do homem contemporneo, os objetos precisam ter,
alm da funo intrnseca para a qual foram projetados, uma segunda funo;
que pode ser o valor simblico atribudo ao objeto por cada indivduo, resultado
de sua experincia com ele. O estudo continua com conceituaes a respeito
da marca, no sentido de que esta serve para referir-se ao objeto por meio de
um signo visual fundamentado em um nome que designa, indica e significa
algo. O branding surge como um processo que incorpora valores culturais,
sociolgicos e comportamentais a tudo o que produzido para a sociedade de
consumo. Para se chegar a um resultado de design eficiente, seja com objetos
ou logotipos, importante estar aberto a estmulos externos, ser sensvel e
ouvir o usurio. Questiona-se como as qualidades e caractersticas do designer
contemporneo faro do design de marcas um trabalho que amplifica a
coerncia e a significao de um smbolo atribudo a um objeto; e como este
trabalho vai proporcionar ou desafiar o profissional a se preocupar com as
relaes que os objetos vo estabelecer com os usurios.
Palavras Chave: Design; Marcas; Objetos; Contemporneo.
Mestrando em Design pela Universidade Anhembi Morumbi UAM. Especialista em Publicidade e Audiovisual pela
Universidade Estadual de Gois UEG/ Ifiteg. Especialista em Formao de Professores para o Ensino Superior pela
Universidade Paulista UNIP. Professor da Faculdade de Comunicao Social da Universidade Catlica de Gois.
Endereo: Rua 12, n55, Setor Oeste, Goinia /Gois Brasil. CEP 74.140-040. E-mail: alvrin@terra.com.br.
101
O objeto e suas relaes contemporneas
Muito se discute sobre a percepo do design como linguagem. Bomfim
(1997) prope, pelos estudos de Wittgenstein, ser a linguagem parte do
repertrio do ser humano, como ele percebe seu ambiente e expressa sua
realidade. De acordo com isso, no existiria objeto sem sujeito, pois o objeto s
existe dentro do mbito das experincias de cada indivduo, dos seus
conhecimentos e linguagens. As caractersticas de um objeto so, na verdade,
as interpretaes subjetivas que dele fazemos (BOMFIM, 1997, p. 37).
Dorfles (1972) explica que a maioria dos objetos industriais tem em si
qualidades formais que simbolizam suas funcionalidades
2
. Esses elementos
so os responsveis por tornar esses objetos identificveis por seu pblico.
Mas tratar o funcionalismo como grande responsvel pela existncia de um
objeto no vivel para os conceitos contemporneos, uma vez que o
racionalismo e o formalismo dos tempos modernos no permitem uma
variedade e transformao dos objetos em signos
3
individuais (KEI, 2009, p.
20).
Na sociedade de consumo contempornea, existe uma procura contnua
pela individualidade. Kei (2009, p. 21) ressalta o aspecto funcional apresentado
por Dorfles e aprofunda a discusso, ao refletir que o objeto no deve somente
prestar-se s necessidades prticas do usurio, mas atender a propriedades
significativas que contribuem para a satisfao emocional do indivduo:
[...] todos os indivduos tm desejos alm das necessidades
prticas. Desejos que tangem emoes, projeo de uma
imagem de si mesmos, e possibilidade de se apropriarem de
objetos que lhes pertenam individualmente e conotem essa
imagem perante a sociedade.
2
Louis H, Sullivan (apud Brdek, 2006) marcou a arquitetura e, posteriormente, o design industrial com a doutrina do
funcionalismo, durante vrias dcadas, ao enunciar que a forma segue a funo. Ele reafirmou por outras palavras a
teoria de William Morris (HfG - Ulm), que propunha antes de tudo, unidade e praticidade do ambiente. De acordo com
este princpio, a ao do designer deveria concentrar-se na anlise das necessidades sociais e, por intermdio disso,
oferecer soluo prioritariamente comprometida com o mais alto grau de funcionalidade. Entretanto, o conceito de
funo foi muito limitado, pois que se considerava apenas a funo prtica ou a tcnica (usabilidade, viabilidade
construtiva).
3
Segundo Strunck (2003, p.32), signo est para um sinal, smbolo. Sinal um elemento designativo sem carga
emocional. J smbolo uma representao acrescida de emoo.
102
O designer Pedro Useche
4
ficou conhecido no Brasil por suas propostas
diferenciadas nos materiais utilizados, no acabamento e na fora esttica que
colocava em seu trabalho. H 20 anos, desenhou a cadeira Mulher, sua
primeira lurea no Brasil. Deste trabalho surgiram encomendas que
demandaram a montagem de uma metalrgica em So Paulo, espao
reservado para a realizao dos seus projetos. Por acompanhar de perto a
execuo de suas ideias, apurou, alm de esttica e funcionalidade, conceitos
como resistncia, economia de material e racionalidade espacial, princpios que
lhe garantiram reconhecimento no mercado.
Segundo Useche
5
, apesar da evoluo da espcie humana, as
necessidades se mantm. Mveis so assim chamados porque o homem os
movimenta, desloca. So suportes para o indivduo dependendo da atividade
que se estiver executando em um determinado momento. Embasado em um
discurso esttico, funcional e formal, prprios de seu trabalho, o designer
conta:
[...] Essa histria de modismo eu no acompanho muito... esse
negcio horizontal, japons, sofs com uma profundidade que
voc no consegue sentar... Voc meio que obriga o indivduo
a dar uma utilizao a um objeto, ou a uma pea de mobilirio,
ou um suporte, de uma maneira diferente da que necessita. Por
isso que os mveis - as cadeiras - normalmente so
humanides, elas precisam ser vivas, precisam se adaptar ao
formato do corpo para se encaixar. [...] Essa histria de moda...
difcil arraigar moda a um mvel. Eu acho que o mvel um
objeto de consumo duradouro, voc no pode estar trocando o
mvel pela estao do ano... eu acho isso... Moda ligada a
mveis so necessidades criadas pelo homem, pela velocidade
do tempo que a gente vive hoje.
6
Todas estas anlises levam-nos a refletir que, para serem incorporados
ao cotidiano do homem contemporneo, os objetos precisam ter, alm da
funo intrnseca para a qual foram projetados, uma segunda funo; por sua
vez, esta que determinar sociedade uma sistemtica de uso. Kei (2009, p.
22) finaliza o pensamento a respeito deste objeto contemporneo da seguinte
4
Formado em arquitetura pela Universidade Central da Venezuela, Useche enveredou pelos caminhos da movelaria
aps ganhar um prmio no Museu da Casa Brasileira com a cadeira Mulher. Com o prmio, o mercado comeou a
ligar o nome do arquiteto Pedro Useche ao design de mveis.
5
DVD desenvolvido pelos alunos do Mestrado em Design, lvaro de Melo Filho e Sidiney Teixeira Cardoso.
Minidocumentrio e relato colhido em entrevista com o designer Pedro Useche, sobre o Design Contemporneo, em
22/04/2009, So Paulo. Desenvolvido para a disciplina Teoria e Histria do Design sob a orientao da professora Dra.
Mnica Moura.
6
Ibid.
103
forma: no mais a funo intrnseca que determina o uso e o consumo, mas
sim o valor simblico que lhe atribudo.
O design de marcas e as emoes
Cauduro e Martino (2005, p. 7) observam que a marca um signo de
comando criado para fortalecer a identidade visual de uma empresa, instituio
ou entidade, e promov-la dentro de um contexto social que qualifica as
relaes humanas internas e externas. Logo, este conceito est ligado a um
projeto de Design Visual que ir abranger a totalidade da identidade
corporativa, da marca aos papis administrativos, da sinalizao ambiental aos
crachs, dos veculos aos uniformes.
Nesse contexto, fica claro que a criao de marcas est relacionada a
rea do design, rea esta que promove o desenvolvimento de novas
linguagens, principalmente as de natureza grfica utilizadas para representar
um artefato a ser produzido [...] (VALESE, 2009, p. 27)
O design da marca comea pelo nome, um signo verbal que designa
d nome e indica ao mesmo tempo. Serve para nomear, para referir-se ao
objeto/produto por meio da marca. Costa (2008, p. 23) afirma que o nome
chega a ser signo visual. Transforma-se por meio do design, em logotipo
7
.
Assim, esse signo visual fundamentado no nome designa e, ao mesmo tempo,
indica, significa. A funo dos signos significar. O logo significa um produto,
uma marca, uma empresa. (COSTA, 2008, p. 24).
Complementando a definio acima, para Chico Homem de Melo (apud
CAUDURO; MARTINO, 2005, p. 13) [...] logotipo o desenho da palavra
escrita. assinatura tipogrfica. Traduz a preocupao permanente em
projetar sinais que comuniquem de maneira particular e inequvoca a
identidade da empresa.
Valese (2009) acredita que as marcas so responsveis por atribuir
confiabilidade aos produtos, representando, mais que luxo, garantia de
qualidade. A autora ressalta que, para consolidar uma marca, existe um
7
Segundo Costa (2008, p. 23): (Logos = palavra ou ieia de base; tipo = caracteres da escrita).
104
processo que permite, por meio da criao de vnculos e emoes com os
consumidores, amplificar seu potencial: essa atividade denominada de
branding, e se faz essencial para alavancar as vendas de uma empresa.
Roland Kapaz (apud Valese, 2009, p. 29) da Oz Design v o branding
como uma atividade que ir delinear os cenrios profissionais e culturais
futuros. Segundo ele, o branding uma metodologia de reflexo que busca
incorporar valores culturais, sociolgicos e comportamentais a tudo o que
produzido para a sociedade de consumo. Tal conceito, pode-se dizer,
aproxima-se bem ao de Cauduro e Martino (2005).
Essa metodologia a que se refere Kapaz vai ser adotada em diversos
escritrios de design que trabalham com a criao de marcas. So diferentes
para cada trabalho a que se destinam, porm, basicamente envolvem desde a
conceituao participativa das marcas, avaliaes quantitativas e qualitativas,
direcionamentos e planejamento de aes de comunicao, at o
gerenciamento das marcas. Aes transdisciplinares
8
que abrangem
profissionais e saberes multiculturais e multirregionais; caractersticas
contemporneas para a busca de uma soluo de design eficiente.
Bonfim (1997, p. 40) entende que a teoria do design no est atrelada
conquista dos esforos de uma nica pessoa. Seus estudos mostram que a
transdisciplinaridade transforma-se e se desenvolve mediante o dilogo entre
as disciplinas e as pessoas envolvidas no processo, aqui se deve incluir o
usurio que, hoje, participa ativamente na concepo do projeto. Esta
participao, segundo o autor, est ligada a diferentes experincias
acumuladas, emoes, paixes, idiossincrasias e, principalmente, o
desconhecido.
Twemlow (2007) afirma que, para a maioria dos designers, as pessoas
que recebem e usam o seu trabalho so muito importantes, porm, existe um
8
Deve-se aqui adotar o que diz Moura (2003, p.115) sobre o design como teoria transdisciplinar. Segundo a autora, a
atividade compreende o estabelecimento de um campo varivel de conhecimentos, no qual existe o trnsito de
informaes e saberes comuns a uma ou mais disciplinas (multidisciplinar) ou referente a algo novo que se gerou por
meio dos estudos e das trocas de informaes das disciplinas envolvidas no processo, mas que ainda no pertence a
nenhuma (interdisciplinar). A transdisciplinaridade a ampliao dos estados multi e interdisciplinares. a aplicao
efetiva das atividades deste profissional em um universo alm da rea do design, mas destinado a todas as
ramificaes da sociedade, em um sentido complexo.
105
nmero muito menor que sente a necessidade de pesquisar a audincia ou
testar o trabalho antes de produzi-lo. O autor ressalta, ainda, que uma parte
importante de ser designer realmente estar aberto a estmulos externos, ser
sensvel e ouvir. E no design de marcas no poderia ser diferente: h uma real
importncia em se ouvir o usurio/consumidor.
Para conhecer o consumidor preciso conviver com seu cotidiano,
seus hbitos e comportamento. Isso se faz importante para detectar tendncias
e, consequentemente, oferecer ao mercado objetos com diferenciais que vo
ao encontro das expectativas do pblico. Ao trabalhar desta forma, as
empresas geram diferenciais competitivos que as destacam entre
concorrentes.
Valese e Kei (2009) so unnimes quando afirmam que somente
alcanar concorrentes e equiparar qualidade em objetos de consumo no
suficiente. Torna-se, neste meio, necessria a explorao de dimenses
emocionais e comportamentais que asseguram vantagens competitivas mais
prudentes. Nessa linha, Brdek (2006) fundamenta seu pensamento
destacando que, na contemporaneidade, existe uma valorizao das funes
simblicas. A isto acrescenta que os significados simblicos s podem ser
extrados dos contextos culturais de uma sociedade e poca.
A cultura torna-se, ento, uma varivel determinante da atualidade que
deve ser observada e ter sua anlise como parte do processo de soluo do
design.
Useche
9
ressalta esse processo de observao quando pensa o design
de seus mveis: a natureza, ela informa voc de absolutamente tudo, s
observar.
Este observar, tanto para o design de objetos quanto para o design
de marcas, vai determinar as variveis constituintes da cultura de uma
determinada sociedade, na qual esto inseridos os participantes do processo
9
DVD desenvolvido pelos alunos do Mestrado em Design, lvaro de Melo Filho e Sidiney Teixeira Cardoso.
Minidocumentrio e relato colhido em entrevista com o designer Pedro Useche, sobre o Design Contemporneo, em
22/04/2009, So Paulo. Desenvolvido para a disciplina Teoria e Histria do Design sob a orientao da Professora Dra.
Mnica Moura.
106
de consumo tanto fsico quanto de informaes simblicas dos objetos que
so produzidos por designers e oferecidos aos usurios.
Volta-se discusso proposta no incio deste estudo, de que a relao
designer-objeto-usurio extrapola as dimenses de funcionalidade do
modernismo e chega ao contemporneo buscando smbolos que possibilitam
uma experincia sensria e emocional. escopo do designer oferecer
solues ao indivduo, trazendo-lhe a satisfao e o bem-estar, tanto fsicos
como emocionais, trabalhando em projetos que permitam-lhe uma experincia
positiva (KEI, 2009, p. 23).
Segundo Valese (2009, p. 31), essa abordagem vlida para o branding
no design de marcas: o consumidor est cada vez mais disposto a pagar para
experimentar sensaes e no simplesmente adquirir produtos e servios. A
autora acredita que vender sensaes e emoes mais significativo do que
destacar as qualidades funcionais do produto. Logo, criar uma marca com
apelo emocional ser como construir uma relao de afeto com o usurio
consumidor, proporcionando valor a longo prazo.
O design da marca contempornea em um mundo de objetos
Bonfim (1997) prope enxergar o design por meio de uma relao entre
objeto e indivduo. No mbito da criao de marcas, Valese (2009) utiliza-se
das afirmaes de Cauduro e Martino (2005) e acredita que o designer o
interlocutor entre empresa e mercado, o elo de ligao responsvel por criar
uma linguagem que transpe o funcional e os significados emotivos dos
objetos.
Pode-se observar que, para obter sucesso nesse contexto, a marca
contempornea busca garantir um maior envolvimento dos indivduos. Para
isso, procura ampliar seu papel e influncia sobre o espao social mediante o
relacionamento entre objetos e usurios, ganhando novas dimenses ao fazer
parte da vida desses indivduos.
Dentro de um mercado competitivo, a marca tem necessidade de se
fazer cada vez mais ouvida, vista e entendida. E em um mundo diversificado,
107
como o contemporneo, Semprini (2006) apresenta um universo chamado de
below the line
10
; no qual se testemunha o surgimento de instrumentos e
suportes que enriquecem a exposio das marcas: embalagens, catlogos,
jornais e newsletters, materiais de pontos de venda, malas-diretas, eventos,
relaes-pblicas, sites, Internet, etc. Todo esse aparato permite variar o
discurso da marca e dirigir-se de modo diferente a pblicos diversificados.
As tcnicas below the line permitem enraizar melhor a marca
na vida cotidiana dos clientes, multiplicar os momentos de
contato e de interao entre a marca e o destinatrio e
construir um verdadeiro relacionamento de troca entre as duas
partes da relao. (SEMPRINI, 2006, p. 45-46)
No plano das dimenses anteriormente citadas, a marca mostra um
vetor de expresso particularmente flexvel e adequado. O individualismo pode
ser considerado pela marca de maneira infinitamente elstica. Pela
multiplicidade de suas manifestaes, a marca pode variar seus discursos,
diferenciar seus objetivos, dirigir-se de forma quase personalizada a cada
consumidor. Alm do mais, ela se inscreve obrigatoriamente no processo de
comunicao que implica uma troca entre emissor e receptor. Assim, os
mecanismos interpretativos inerentes a todo o processo de recepo permitem
a cada destinatrio filtrar as mensagens da marca conforme sua perspectiva e
suas expectativas pessoais.
Percebendo que hoje o indivduo se apropria de um signo por meio do
objeto para projetar sua imagem sociedade, verifica-se que o designer
contemporneo precisa ter uma atitude voltada experimentao e
explorao da linguagem. Deve tambm possuir uma posio inovadora e
criativa ao desenvolver um pensamento crtico em relao s questes sociais,
polticas, econmicas, culturais, ticas, tecnolgicas em mbitos regionais ou
globais. No se pode deixar, porm, de levar em conta os objetivos, anseios do
usurio, buscando sempre uma qualidade ao criar e produzir ideias, propor
solues de design. Aliados ao branding bom deixar claro que designers,
hoje, no so meros criadores de marcas e logotipos. So profissionais que
sabem da importncia de trabalhar o design para propor idias concisas de
10
Para Semprini (2006, p. 44), below the line so as tcnicas no tradicionais de comunicao, fora da mdia.
108
signo, desenho e desgnio, dentro de uma concepo de projeto e sistema. O
design de marcas um trabalho de um profissional propulsor da coerncia e da
significao de um smbolo atribudo a um objeto.
109
Referncias
BOMFIM, Gustavo A. Fundamentos de uma teoria Transdisciplinar do Design:
morfologia dos objetos de uso e sistemas de comunicao. Estudos em
Design, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 27-41, dez. 1997.
BRDEK, Bernhard E. Histria, Teoria e Prtica do Design de Produtos.
So Paulo: Edgard Blcher, 2006.
CARDOSO, Sidiney Teixeira; FILHO, Alvaro de Melo. Sobre Pedro Useche.
So Paulo: Mestrado em Design Anhembi Morumbi 2009. 1 Vdeo-disco (22
min): NTSC : son., color.
CAUDURO, Joo Carlos; MARTINO, Ludovico. Marcas CM Cauduro Martino
Arquitetos Associados. So Paulo: Imprensa Oficial, 2005.
COSTA, Joan. A imagem da marca: Um fenmeno social. Coleo
Fundamentos do design. Traduo: Osvaldo Antonio Rosiano. 1. ed. So
Paulo: Edies Rosari, 2008.
DORFLES, Gillo. Introduo ao desenho industrial. Lisboa: Edies 70,
1972.
MOURA, Mnica. Design Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. In: O
Design de Hipermdia. Tese de doutorado Programa de Ps Graduao em
Comunicao e Semitica. PUC, So Paulo, 2003. p. 112-116.
KEI, Adriana. A funcionalidade do design contemporneo. In: MOURA, Mnica
(Org.). Faces do Design 2: Ensaios sobre a arte, cultura visual, design
grfico e novas mdias. Coleo Textos Design. So Paulo: Edies Rosari,
2009. p. 17-23.
110
SEMPRINI, Andrea. A marca ps-moderna: poder e fragilidade da marca na
sociedade contempornea. Traduo: Elisabeth Leone. So Paulo: Estao
das Letras Editora, 2006.
TWEMLOW, Alice. Para que serve o design grfico? Amadora: Editorial
Gustavo Gili, 2007.
VALESE, Adriana. O design na construo de marcas: criando experincias e
emoes. In: MOURA, Mnica (Org.). Faces do Design 2: Ensaios sobre a
arte, cultura visual, design grfico e novas mdias. Coleo Textos Design. So
Paulo: Edies Rosari, 2009. p. 25-31.
111
Designing Marketing
lvaro de Melo Filho
11
RESUMO
Com a inteno de oferecer um melhor entendimento ao que converge s reas do design e
marketing procurou-se estabelecer o que gera distines ou at mesmo o que destaca as
peculiaridades de cada uma, caractersticas que, muitas vezes so individuais a uma ou outra,
e que corroboram a existncia dos dois, pois caso no houvesse tal aproximao talvez no
existiriam os dois campos de estudo e produo. Este texto detm-se em apresentar e justificar
as caractersticas do design, e assim, as congruncias entre design e marketing estaro
disponveis. A princpio, o leitor convidado a transitar pelas razes etimolgicas da palavra
design, que ainda fator de confuso; seguindo pelas origens histricas e suas relaes com
o marketing, bem como outras reas do conhecimento; sero abordadas algumas
conceituaes, ainda que sejam transitrias e jamais permanentes, apenas como objeto de
referncia. Finalmente, constatar-se- que as prticas e objetivos do design convergem-no a
multidisciplinaridade, especialmente atividade do marketing. O estudo levanta a discusso
sobre a proposio do design uma nova direo de trabalho, onde no existem fronteiras e a
participao de disciplinas de outros saberes se faz fundamental na hora de propor objetos,
servios e sistemas que mudam a relao do usurio com a sociedade: o designing do
marketing.
Palavras Chave: Design; Marketing; Convergncia.
ABSTRACT
With the intention to provide a better understanding which converges to areas of design and
marketing, the present article tried to establish what creates distinctions or even highlights the
peculiarities of each. Features that are often connected to a specific knowledge or another and
have confirmed the existence of the two areas, because if there were no such approximation
probably would not exist the two fields of study and production. The article holds up to present
and explain the characteristics of the design, and thus, the congruence between design and
marketing will be available. At first, you will be invited to transit the root etymology of the word
design, which is still a confounding factor; followed by the historical origins and its relations with
marketing and other areas of knowledge, some concepts will be addressed, even if they are
transitory and not permanent, just as an object of reference. Finally, it will be clear that the
practices and goals of design converges to a multidisciplinary context, especially the activity of
marketing. The study raises the discussion proposing design to a new direction of work, where
there are no boundaries and the involvement of other disciplines of knowledge is essential to
propose objects, systems and services that change the relationship of people with their
environment: the designing of marketing.
Key-words: Design; Marketing; Convergence.
11
Mestrando em Design pela Universidade Anhembi Morumbi UAM. Especialista em Publicidade e Audiovisual pela
Universidade Estadual de Gois UEG/ Ifiteg. Especialista em Formao de Professores para o Ensino Superior pela
Universidade Paulista UNIP. Graduado em Propaganda e Marketing. Professor da Faculdade de Comunicao Social
da Universidade Catlica de Gois e Universidade Paulista. E-mail: alvrin@terra.com.br.
112
A etimologia da palavra design
Design uma palavra da lngua inglesa que com o apropriado significado s
vai possuir correspondncia na lngua espanhola em diseo, que por sua vez,
no corresponde a desenho em portugus, este mesmo em espanhol seria
dibujo e em ingls draw, draft ou sketch -, contrariando a mais rpida traduo,
que, embora parea bvia e lgica, seria completamente equivocada para a
lngua portuguesa.
Alexandre Reis (in: MAKOWEICKY e OLIVEIRA, 2008, p. 100 e 101) afirma
que: As razes do termo design provm do latim designare, da preposio
de mais signum (marca-signo), que em portugus temos como mais prxima
a palavra desgnio: intento, inteno, plano, projeto, propsito.
Sendo assim, design - em ingls -, ou diseo - em espanhol -, no podem ser
entendidos em portugus se no houver a composio dos conceitos de
projeto, planejamento, desgnio ou concepo.
Hoje discute-se amplamente o termo design. Seus estudos e prticas so
utilizados e reconhecidos em todo Brasil. Porm, quando iniciado em 1963, o
primeiro curso de design em nvel superior brasileiro foi batizado como
desenho industrial, em uma rpida traduo de industrial design, em partes, um
ocorrido que talvez seja a responsvel por tantos desentendimentos na histria
do design em nosso pas.
Segundo o dicionrio Aurlio, design : 1. Concepo de um projeto ou
modelo; planejamento. 2. O produto desse planejamento. 3. Restr. Desenho
industrial. 4. Restr. Desenho-de-produto. 5. Restr. Programao visual. Assim
sendo, pode-se entender que o termo design se restringe aos campos do
conhecimento e atuao profissional.
Desta forma destina-se ao termo design, quando adequado lngua
portuguesa, um nico significado para o qual a lngua no possui outro
correspondente, quando o que se pretenda seja definir a consciente ao de
planejar, projetar, conceber e/ou designar, colocar em prtica um plano
intencional de prover os meios adequados para o alcance de uma interao
humana, seja ela com produtos, servios ou comunicaes.
O percurso do design e do marketing: as origens.
113
O primeiro registro da palavra design foi cunhado pelo Dicionrio Oxford em
ingls em 1588. A referncia citada o conceitua como: um plano ou esboo
concebido por um homem para algo que se deseja realizar ou o primeiro
esboo desenhado para uma obra de arte ou ainda como um objeto de arte
aplicada, necessrio para a execuo de uma obra.
sabido que a humanidade props vrias solues conscientes para
problemas de interao com o seu ambiente, seja na confeco de objetos
diversos como ferramentas, vestimentas, utenslios diversos ou at
ornamentos, mas somente no sculo XIX surgiu a necessidade do homem
configurar seu ambiente de acordo com uma nova dinmica social e
econmica: a industrializao. Muito mais do que a especializao de
profissionais tornou-se necessria, bem como a conseqente, reflexo quanto
ao que fazer, o porqu e o como fazer. Eis ento que surge o design, sendo
estruturado de maneira sucessiva e alcanando o status atual de campo de
conhecimento especfico.
De maneira geral, pode-se dizer tambm que essa foi uma das primeiras
atividades do marketing, ou atividades comerciais, que remontam poca em
que o homem comeou a descobrir que tinha necessidades e possua potencial
para conseguir produtos, extraindo-os da natureza.
Dentro desta linha, pode-se fazer uma retrospectiva histrica no sentido de
situar os fatos que nos trazem contemporaneidade.
Sabe-se que at o sculo XVII a produo era caracterizada como de
subsistncia, e cada membro familiar trabalhava para produzir o que fosse
necessrio para o seu sustento, proporcionando a estabilidade e prosperidade
de sua famlia. Mais frente, o excedente do que se obtinhas dessas
atividades era trocado pelos produtos de famlias que se dedicavam a outras
culturas.
A partir de ento foi estabelecido os primeiros processos comerciais, que
Yanaze (2006) coloca como simples troca, de modo a satisfazer mutuamente
as necessidades humanas. A simples troca de produtos da pesca, caa e
agricultura foi a primeira atividade conhecida de marketing, que pode ser
entendida como a identificao da necessidade de produtos que so obtidos e
trocados, estabelecendo-se, dessa forma, relaes comerciais.
114
Como os percursos a serem percorridos eram quase sempre longos, corria-se
o risco dos produtos deteriorarem pelo caminho ou serem desviados por
saqueadores. Para evitar isso, surgiram aqueles que pensaram em facilitar as
trocas, estabelecendo-se em locais estratgicos entre produtores e
consumidores, e montando pequenas infra-estruturas para possibilitar a
exposio e a troca de produtos diversos. Ali, eles no produziam nada, mas
ajudavam na troca. Surgiu, ento, a figura do comerciante, do intermedirio das
trocas.
Essa nova situao propiciou o aprimoramento dos meios de transportes e de
tcnicas de se apresentar e ofertar produtos. Algumas regies,
estrategicamente localizadas, comearam a se constituir em grandes plos de
distribuio e, principalmente, de troca de produtos.
Frente a esse processo de trocas, o sculo XVIII marcado pelo surgimento de
pequenas cidades, poca que distingue tambm as atividades de produo e
consumo, ou seja, quem produzia no era necessariamente o mesmo indivduo
que consumiria o produto produzido.
Para o design, esta nova relao produtiva bem como a disponibilidade de
determinados recursos, como a matria-prima, proporcionou uma economia
dos insumos utilizados, bem como as especializaes laborais que levaram ao
aumento dos volumes de produo, ainda que artesanais, surgindo ento os
mercados, seus segmentos e, por lgica correspondncia, tambm a produo
por encomenda. Os consumidores passaram a expressar suas necessidades,
que eram convertidas em mercadorias e podiam ser comercializadas antes
mesmo de serem produzidas. Foi uma poca em que se comercializava o
trabalho, a produo, e no o produto.
Entretanto, a viabilizao da troca gerou conflitos, em um mbito social,
relacionados essencialmente ao valor dos produtos, objeto das trocas. Para
resolver o problema, o homem comerciante passou a adotar critrios que
levavam em considerao o uso de uma medida de valor que fosse comum
sociedade, para que a troca fosse mais justa. Criou-se, portanto, o conceito de
moeda, o conceito do padro monetrio.
A circulao do que era conhecido como moeda aguou a ganncia dos seres
humanos. Comerciantes queriam vender seus produtos pelo maior valor
possvel e obter quantidades cada vez maiores de moedas. Por outro lado, os
115
compradores desejavam adquirir os produtos pelo menor valor possvel. Esse
fato acabou caracterizando a inteno de acumular riquezas, de guardar
dinheiro. A moeda adquiria um valor prprio que excedia a necessidade original
de se ter um equivalente comum para mediar as trocas de produtos e atender
s necessidades de sobrevivncia.
Tem-se ento que at meados do sculo XIX, uma nova fase da produo
especulativa toma forma: a exploratria, que no se baseava em encomendas
e que, por isso mesmo, era passiva ao risco o fabricante antecipava-se na
produo de mercadorias esperando que elas fossem procuradas pelos
consumidores. Como este trabalho poderia ou no ser comercializado, surgiu a
recompensa pelo risco, o lucro, maior ou menor segundo a dimenso
assumida, decorrente tambm da escassez de oferta.
A soluo para essa problemtica foi o aprimoramento e a racionalizao da
produo, mobilizao que resultou na Revoluo Industrial; que se difunde por
todo o ocidente com a metade do sculo XIX. No que diz respeito aos
processos de fabricao em massa de mercadorias, os efeitos foram mais
imediatos, j que a produo em srie tornou-se possvel pelas novas
mquinas e equipamentos, ao mesmo tempo em que favorecia a reduo do
lucro e o maior acesso a estas mercadorias por um maior nmero de
consumidores.
Essa fase caracterizou, basicamente, pela migrao do homem do campo para
as cidades, integrando-se s estruturas produtivas como operrios; pela
melhoria dos processos produtivos, como o uso de meios mecnicos no lugar
do processo manual e artesanal; pela inveno de equipamentos movidos a
vapor; pela formao de mo-de-obra especializada, para fazer frente s
demandas produtivas; pela distino clara entre classes sociais, compostas
pela burguesia e pela classe operria; e pela organizao das estruturas
produtivas de um modo mais profissional, voltada para resultados.
Com a dinamizao do mercado e o crescimento da indstria, comearam a
surgir novos empreendedores, empresrios interessados em produzir e vender
para essa crescente massa de consumidores. Proliferou a concorrncia,
fazendo com que os industriais passassem a se preocupar no somente com a
produo, mas tambm com outros fatores que poderiam ajud-los a se
manterem frente dos produtores emergentes.
116
A concorrncia fez com que os proprietrios das estruturas produtivas
pensassem em criar um diferencial competitivo.
Abre-se aqui um parntese para colocar em questo a necessidade de
industriais e comerciantes em se empenharem em tornar conhecidas as
vantagens de seus produtos, bem como preo e distribuio. Isso tambm no
quer dizer que a comunicao publicitria nasceu com a Revoluo Industrial,
ou que somente pode ser considerada como efetiva, de contornos definidos, a
partir do momento em que passou a ser integrante do processo produtivo. Na
verdade, ela esteve presente em todos os momentos da histria da civilizao,
nos mais diversos procedimentos.
No entanto, a Revoluo Industrial e seus desdobramentos foraram as
empresas a destinar parte de seu faturamento para custear as aes de
divulgao, permitindo que gradativamente se profissionalizasse a atividade de
comunicao. Se antigamente a publicidade era espordica e amadora, sem
planejamento, a partir da Revoluo Industrial ela se tornou cada vez mais
indispensvel. Ento, a publicidade passou a ser planejada e executada de
maneira profissional e constante, pois as empresas tinham de fazer seus
produtos ficarem mais conhecidos do que os de seus concorrentes.
Porm no este o foco desta pesquisa, muito menos o que se pretende
discutir a fundo aqui. E para no fugir de nossa reflexo retornemos ao design
e ao marketing fechando esses rpidos parnteses onde se encontram a
publicidade.
Esta fase de crescimento produtivo que visava atender a demanda de novos
mercados vai se estender at o incio do sculo XX, seguida da fase em que j
no era mais a produo o item comercializvel, quando ento se funde com o
surgimento - de fato - do design. Embora essa fuso tenha acontecido nesta
poca, j existia uma reflexo, durante o sculo XIX, quanto necessidade de
uma atividade especializada em dotar os produtos industrializados de
caractersticas atrativas, que os tornassem comparveis aos elegantes objetos
produzidos artesanalmente.
bom ressaltar que acreditava-se que a feira seria tpica dos processos
industriais, tanto que primordial mencionar aqui, at como fato histrico, a
fundao por Henry Cole - em Londres - do Journal of Design, em 1849. O
meio procurava promover a idia de que o bom design equivaleria ao good
117
business, j que naqueles tempos a tecnologia produtiva industrializada
engatinhava e a precariedade das mquinas permitia produtos desprovidos de
atenes estticas. O modo de utilizao do processo no era o centro das
atenes, apenas o atendimento da utilidade prtica, a economia de recursos e
a disponibilidade de um grande nmero de produtos para comercializao.
No foi por acaso que surgiram inmeras manifestaes que contestavam a
propriedade com que os produtos industrializados tomavam o lugar dos
objetos, at ento produzidos artesanalmente.
Foi ento que em 1919, com a fundao da Bauhaus, o design nasceu
verdadeiramente como saber, tendo como um de seus postulados unir arte e
tcnica em uma nova unidade. Delineava-se um novo perfil profissional para a
atuao na indstria, desviando a prtica profissional do tradicional arteso ao
designer industrial como se entende atualmente na contemporaneidade.
Louis H, Sullivan (apud Brdek, 1994) marcou a arquitetura e, posteriormente,
o design industrial com a doutrina do funcionalismo, durante vrias dcadas, ao
enunciar que a forma segue a funo. Ele reafirmou por outras palavras a
teoria de William Morris, que propunha antes de tudo, unidade e praticidade do
ambiente. De acordo com este princpio, a ao do designer deveria estar
concentrada em analisar as necessidades sociais e, a partir da, oferecer
soluo prioritariamente comprometida com o mais alto grau de funcionalidade.
Entretanto, o conceito de funo foi muito limitado, pois que se considerava
apenas a funo prtica ou a tcnica (usabilidade, viabilidade construtiva).
Em 1953 fundada a Escola Superior de Design de Ulm, sob a rigorosa
orientao do modelo Bauhaus. Considerada como a mais importante entidade
do design criada aps a segunda guerra mundial, Ulm destaca-se por firmar a
identidade acadmica do design; um marco no amadurecimento dos
fundamentos tericos do design e suas contribuies no campo da postura
cientfica da rea, que no teria sido possvel sem os trabalhos desenvolvidos
no campo da metodologia. Brdek (2006, p.51) ressalta a importncia dessa
instncia metodolgica: O pensamento sistemtico sobre a problematizao,
os mtodos de anlise e sntese, a justificativa e a escolha das alternativas de
projeto tudo isso junto, hoje em dia, se tornou repertrio da profisso de
design.
118
Durante os anos sessenta, a doutrina funcionalista perdia prestgio por seu
radicalismo, passando a ser fortemente criticada, principalmente na Itlia, pas
onde o design iniciava um perodo de reconhecimento internacional, tendo sido
ele um dos principais fatores da reestruturao industrial italiana do ps-guerra.
Inflexvel e fiel ao funcionalismo apropriado pela Bauhaus, de acordo com o
mais puro racionalismo germnico, a HfG-Ulm sucumbiu s crticas quela
doutrina. A prpria escola foi destinatria de muitos ataques por ser
reconhecida, posicionando-se no mais elevado ponto de destaque entre as
instituies acadmicas do design, como a principal defensora do
funcionalismo, tendo encerrado definitivamente as suas atividades em 1968.
O Brasil foi um dos beneficirios diretos da Escola de Ulm, com a colaborao
na implantao por alguns de seus ex-membros da Escola Superior de
Desenho Industrial (ESDI) no Rio de Janeiro, em 1963, a primeira escola de
design da Amrica Latina, assim como para a criao, em 1984, do Laboratrio
Brasileiro de Desenho Industrial (LBDI) em Florianpolis, onde Gui Bonsiepe,
graduado em design pela HfG-Ulm, foi coordenador at 1987. Contudo, o maior
marco desta escola foi a radical separao que estabeleceu entre o design, a
arte, a arquitetura e o artesanato, fundamentalmente pela emancipao
acadmica que proporcionou a este campo do conhecimento.
Paralelamente, o mundo conheceu no s o crescimento das empresas e o
conseqente aumento da produo, como tambm o surgimento de um novo
tipo de consumidor, mais exigente, imediatista e com disposio de aproveitar
melhor a vida por meio do consumo de produtos e servios diferenciados. Esse
consumidor emergiu das transformaes do mundo provocadas pelo
reconhecimento do poder destrutivo da guerra e pelo sentimento de incerteza
quanto ao futuro.
Este novo homem passa a valorizar mais o conforto e o gozo imediato da vida,
e encontra no progresso tecnolgico e nos produtos dele decorrentes os
suportes para sua realizao no curto prazo.
Diante desse consumidor emergente, as empresas passaram a se preocupar
em conhec-lo melhor, investigando mais profundamente seu comportamento e
suas motivaes de compra. Percebendo essa nova demanda empresarial,
universidades norte-americanas incorporaram em seus cursos de negcios,
Business Administration, disciplinas que privilegiavam a pesquisa e a anlise
119
de clientes e consumidores, dando origem a disciplinas dedicadas ao estudo do
mercado e congregando, no conjunto, uma nova especialidade, o Market
Studies.
Mais tarde, percebendo a limitao da expresso Market Studies, para
significar todas as possibilidades de estudo e de interao com o mercado, os
acadmicos passaram a utilizar a expresso marketing, mais abrangente por
usar a palavra market (mercado) com o sufixo ing, sinalizando que tudo o que
pudesse ser relacionado ao mercado estaria contido no marketing. Esse tudo
inclua a pesquisa, o desenvolvimento de novos produtos, a gerncia de
produtos, a logstica de vendas, a precificao, o controle de vendas, a
propaganda e diversos outros aspectos.
a partir dos anos 70 que surge uma fase nova dentre o meio empresarial, em
que o esforo produtivo passa ento a se orientar ao consumidor, descobrir o
que ele quer ou necessita, direcionando a ele uma produo mais
racionalizada, uma das heranas deixadas pela Ulm. Pontua-se aqui a
administrao voltada para o mercado: o marketing. O marketing e o design
foram alvos de vrias crticas desconfiadas de que verdadeiramente eles se
orientariam para uma suposta criao de necessidades, ao contrrio de
detect-las, no caso do marketing, e atend-las, no caso do design.
Hoje, existem aqueles que atribuem ao design falsas afirmaes de ser uma
arte vendida ou at mesmo uma arte a servio do capital. Tais convenes
vm dissimuladas de reflexes que buscam em nome do esclarecimento
anlise e clarificao de suas prprias ideologias, ignorando reflexes
necessrias e apropriadamente fecundas, particularmente, quanto ao que
ou qual a funo do design.
Por outro lado, a humanidade vive na contemporaneidade a era da informao.
As mentes do sculo XXI, mais esclarecidas e conscientes, demonstram
possuir um comportamento no mais desconfiado, porm crtico quanto aos
seus anseios, necessidades e possibilidades.
sabido que ainda existem vrios obstculos a serem vencidos, porm, h de
se lembrar que no h muito tempo os produtos no funcionavam to bem, a
tecnologia disponvel impunha sociedade uma srie de barreiras ao
atendimento de um nvel de qualidade minimamente satisfatrio. Contudo, nos
dias atuais, a qualidade dos produtos um requisito to bsico que passa a ser
120
subjetivo, a ponto de possuir concepes bem distintas entre as pessoas. Em
fins do sculo XX, a qualidade atrelava-se ao preo maior; hoje j no h esta
cultura, pois a qualidade, sendo a medida certa entre as caractersticas de um
produto e o desempenho que dele se espera, pode estar acessvel a preos
muito baixos, relativamente. As empresas que possuem seus trabalhos focados
no design praticam hoje este entendimento, sabem que o papel do design
estabelecer a direta ligao, at emocional, entre o que se disponibiliza e o que
se procura, em termos de produtos ou servios, pois que seu sucesso depende
da plena satisfao dos seus clientes.
Conceituando o Design
Pode-se considerar imprudente a tentativa de descrever algo por meio de uma
definio, pois no se imagina, ao menos neste caso, que possa existir uma
descrio que seja minimamente definitiva ainda que no se busque a
preciso ou uma pretensa verdade, ainda assim no chegaramos a um
consenso. Hoje, nem mesmo a mais cartesiana das cincias procura descrever
algo como verdadeiro, seja l o que for, entende-se todas as verdades como
meramente provisrias. O que se faz, ento, buscar em meios diversos,
algumas possibilidades para a tentativa de descrever mais ou menos
adequadamente conceitos para o que o design pode ser; longe, portanto, da
pretenso de uma certeza.
As contribuies de diversos autores, pensadores, profissionais e sociedades,
do design ou de outras reas, colhidas em diversas publicaes, sero aqui
colocadas no com a inteno de se esgotar o tema, mas sim de estabelecer
uma ligao entre as vrias partes e discuti-las.
Segundo o ICSID
12
(International Council of Societies of Industrial Design),
dentre as definies que temos para o design, prope-se ao mesmo o seguinte
conceito: uma atividade criativa que objetiva estabelecer qualidades
multifacetadas nos objetos, processos, servios e seus sistemas em todos os
seus ciclos de vida. Portanto, design o fator central da inovadora
humanizao de tecnologias e fator crucial em aspectos econmicos e
culturais.
12
Disponvel em <http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm>. Acessado em 14 de abril de 2009 s 15:45h.
121
Este conceito vem indicar a contribuio do design aos esforos de produo
de bens e servios sociedade. As tecnologias existentes permitem que
referncias afetivas sejam incorporadas produo humana, e o design vai
destacar-se como especialidade para este fim.
Existem aqueles que ainda no creditam ao design a competncia em entender
os anseios do ser humano e aplicar em novos projetos correspondentes
solues que sejam desejveis pelos indivduos. Kotler e Rath (1984) propem
a estes as competncias do design, ao considerarem que, como processo, ele
est intimamente ligado satisfao das pessoas, pois aspectos como
desempenho, qualidade, durabilidade, aparncia e custos podem ser aplicados
pelo design em produtos, ambientes, informaes e imagens corporativas. E
quando elevada a satisfao dos consumidores e usurios, eleva-se por
conseqncia a possibilidade de lucratividade das empresas, e apenas com a
integridade econmica destas instituies possvel disponibilizar sociedade
produtos e servios superiores.
Dentre estes elementos distintivos do design, a qualidade possui por si um
conceito muito genrico, e at como j colocado anteriormente subjetivo, j que
o nvel de qualidade aceitvel por algum no necessariamente o mesmo
correspondido por outros, e vrios so os fatores que influenciam um
determinado padro de qualidade. Neste sentido, um dos principais papis do
marketing estratificar grupos de consumidores/usurios que compartilhem os
mesmos padres de uso e comportamento; no design, cooperativamente, o
de compreender estes comportamentos, baseado em perfis scio-culturais, e
estabelecer vnculos entre eles e o que seus agentes procuram em produtos e
servios oferecidos, atividade de extrema complexidade dependente de
enorme preparao formal. H que se dizer que no processo de inovao o
design desempenha uma ao crucial, atendendo s possibilidades tcnicas e
demandas, novas oportunidades de mercado, o que exige elevado grau de
criatividade.
certo que a criatividade uma habilidade caracterstica do ser humano, mas
no pode ser entendida como uma mera inspirao ou um encanto inovador
trata-se do resultado de uma consistente preparao, do adequado
reconhecimento das limitaes e possibilidades que envolvem um determinado
122
problema. Dela tanto depende o design quanto as artes, mas interessante
tambm lembrar que dela depende toda cincia.
Quanto inovao e a criatividade, o design no pode ser colocado
simplesmente como uma ferramenta, mas sim um processo inovador que usa a
informao e o conhecimento a respeito da arte, cincia e comportamentos
scio-culturais. Tem-se como claro, portanto, a sua ao multidisciplinar
13
, com
efetivas possibilidades de prtica comum a duas ou mais disciplinas ou ramos
de conhecimento, atuando em sinergia e focando um objetivo comum, como
destaca Lorenz (apud REIS, 2008) ao considerar que o design contribui em
diversos aspectos e atribuies prprias da engenharia e do marketing, do
planejamento de novos mtodos de produo a novos mtodos de anlise
mercadolgica, conduo e interpretao de pesquisas de mercado, pois alm
das atividades prprias e rotineiras de um designer esto aquelas que o tornam
um valioso recurso, as suas multifacetadas habilidades de contribuir para o
trabalho de outras disciplinas.
Sobre essa multidisciplinaridade e seus vrios processos de colaborao,
Twemlow (2007) prope que o design est a se tornar cada vez mais
transdisciplinar
14
, geograficamente disperso e colaborador. Problemas
complexos, como os que so colocados ao designer, requerem respostas
sofisticadas provenientes dos saberes de vrias reas. Quando diversas
disciplinas convergem e colidem, podem nascer todos os tipos de novos
desafios: fatos como o de organizar grandes equipes de trabalho de todas as
reas de saber e de vrios lugares; como essas iro se comunicar uma com as
outras; como sero definidos os papis de trabalho; como dar-se- a
comunicao entre as diversas tecnologias utilizadas; entre outros.
Os designers e as empresas voltadas para o futuro esto despertando para os
infinitos benefcios que este tipo de abordagem no convencional traz. como
diz Tyler Mallison (apud TWEMLOW, 2007, p. 29) ao envolver as pessoas que
tem um entendimento alargado e empatia por vrias reas, juntamente com
13
Deve-se tomar aqui a definio do dicionrio Aurlio para multidisciplinar: Referente a, ou que abrange muitas
disciplinas.
14
Deve-se aqui adotar o que diz Moura (2003) sobre o design como teoria transdisciplinar. Segundo a autora, a
atividade compreende o estabelecimento de um campo varivel de conhecimentos, onde existe o trnsito de
informaes e saberes comuns a uma ou mais disciplinas (multidisciplinar) ou referente a algo novo que gerou-se a
partir dos estudos e das trocas de informaes das disciplinas envolvidas no processo, mas que ainda no pertence a
nenhuma (interdisciplinar). A transdisciplinaridade a ampliao dos estados multi- e interdisciplinares. a aplicao
efetiva das atividades deste profissional em um universo alm da rea do design, mas destinado a todas as
ramificaes da sociedade, em um sentido complexo.
123
uma experincia profunda em uma ou duas reas, podem-se conseguir novas
perspectivas.
Ao design credita-se uma excepcional responsabilidade, dado que sua
competncia no se localiza exclusivamente em aes de ordem tcnica, como
lembra Dorfles (1984), apontando que, ao iniciar o processo, o designer deve
ter conscincia de suas capacidades e sua tarefa no todo da operao
produtiva. Parte de seu trabalho analisar sinteticamente as informaes que
lhe so transmitidas pelos diferentes especialistas, tcnicos, estatsticos,
mercadlogos e peritos das tcnicas operativas, de modo que possa concluir
especificaes para o tipo de produto que deva projetar, utilizando, para tal,
ferramentas metodolgicas adequadas.
Ao afirmar que o design no est somente nos produtos acabados, mas no ato
de faz-los, que no est no resultado e sim no processo, Alexandre Reis
(2008) discorre que algo fundamental ao design o mtodo de sua produo,
sendo a metodologia em design considerada como uma das mais importantes
etapas de seus contedos. Portanto, sendo metodolgica, a atividade do
design cientfica, e todas as suas fases de desenvolvimento, desde o
reconhecimento, delimitao e decomposio de um problema de projeto e as
sistemticas pesquisas iniciais - estatsticas -, caracterizam-se por uma lista de
procedimentos baseados em princpios academicamente estabelecidos. Desta
forma, na atualidade, sem um mtodo a resultante no o design, mas o acaso
e, sendo assim, no poder ser valorada quantitativa ou qualitativamente,
muito menos repetida ou aperfeioada.
Deve-se apresentar tambm, alm do carter cientfico do design, o seu
objetivo social, que vai alm do atendimento das necessidades de interao do
indivduo com objetos ou comunicaes, compreendendo-as como
necessidades de interao social, como um bem cultural humano que se
evidencia mais freqentemente com o passar do tempo. Reis (2008) refora
este entendimento ao descrever o design como uma atividade que mescla a
tecnologia com contextos sociais, de modo a promover satisfao e
modificao do comportamento humano.
Twemlow (2007) prope que embora a maioria dos designers concordem que
as pessoas que recebem e usam o seu trabalho so importantes, existe um
nmero muito menor que sente a necessidade de pesquisar a audincia ou
124
testar o trabalho antes de produzi-lo. O autor ainda ressalta que uma parte
importante de ser designer realmente estar aberto a estmulos externos, ser
sensvel e ouvir.
O mais comum ver designers que acabam centrando suas atividades nos
aspectos do projeto, parte que podem controlar, e raramente reservam tempo
para o envolvimento da pesquisa da audincia que ir receb-lo ou utiliz-lo. O
profissional acaba colocando mais nfase na produo do design do que em
seu consumo no designer como um criador de forma e significado, e no no
usurio como algum que pode extrair um significado e depois agregar o seu.
Selecionar uma direo ao design muitas vezes resulta em uma luta entre o
designer e o cliente sobre o que ser melhor para o usurio, que muitas
vezes pouco compreendido.
Sem dvida muitos designers valorizam a importncia da investigao e levam
tempo para descobrir as pessoas para quem esto projetando solues. A
informao sobre o pblico ao qual se destina o projeto acaba chegando por
via do cliente, quando chega. a que a figura do profissional de marketing se
faz importante e muitas vezes fundamental, este vm para pesquisar esse
pblico, mapear os perfis para entregar ao designer a pesquisa necessria
para que este possa filtrar e pensar de acordo com a teia de informaes que
possui em mos a melhor soluo de design para a problemtica apresentada.
Em campos mais prticos, como o design de jogos, saber sobre o usurio um
elemento fundamental em qualquer cenrio de design. Porm, no grfico, por
exemplo, menos comum, mas a idia de design participativo que desafia ou
convida o pblico a desempenhar um papel no processo criativo colocada por
alguns profissionais com alguma regularidade. A idia de criar um
enquadramento que deixa elementos para serem completados pelo expectador
especialmente apelativo para aqueles designers que do prioridade a
sistemas e deixam os processos pr determinados ganharem forma.
Grupos de atividades e pesquisa de mercado, que so comuns nas reas de
marketing e comunicao, parecem fornecer dados com avaliao objetiva de
um produto ou servio ou at mesmo uma promoo, mas no so usuais
entre designers que tentam saber algo a mais sobre uma audincia.
Ryan Nee (apud Twemlow, 2007) diz que se nos colocarmos do outro lado, o
dos clientes, e dizermos ns estudamos a fundo as pessoas com quem vamos
125
falar e pensamos realmente que esta soluo funciona bem por causa destas
dez razes, iniciar-se- uma conversa que resultar provavelmente em uma
boa soluo de design.
No que cabe um esclarecimento, por modificar o comportamento humano, Reis
(2008) refere-se competncia do design em procurar entender os reais
anseios do homem, como usurio/consumidor, e atend-lo no que
verdadeiramente necessrio, nas funes de um objeto, sejam elas em
instncias prticas ou estticas, e no nas bases pr-concebidas de como o
produto deveria ser e, assim, lev-lo a uma postura mais crtica quanto ao que
realmente necessrio, no apenas ao homem como indivduo, mas a toda
sociedade sua volta.
Desta constatao, compreende-se a natureza do design como cincia social,
legtimo integrante das cincias sociais aplicadas, que est, por sua natureza,
intimamente relacionado s questes subjetivas e abstratas que envolvem as
interaes humanas e os fenmenos sociais.
Ainda pela identidade do design, Bonsiepe (1997) enfatiza que a interface entre
o homem e os artefatos o objeto central do design. A interface permite
diferenciar design de engenharia. O design ocupa-se dos fenmenos de uso,
interessa-se pela eficincia scio-cultural, na integrao dos objetos cultura
cotidiana. J as engenharias atuam na eficincia fsica atravs de outros
mtodos, os das cincias exatas.
De qualquer modo, tais distines no negligenciam a ao conjunta destas
reas. Como j discutido, o design busca a promoo de atividades
interdisciplinares
15
, o processo de desenvolvimento de objetos em um nvel
que vai abranger de navios a avies, a folhetos e logotipos, envolvendo, de
acordo com a complexidade do projeto, engenheiros, administradores,
profissionais de marketing e comunicao; dentre outros especialistas que
possam estar envolvidos com a empreitada e, no raro, cabe ao designer
conciliar os interesses de todos. Como observa Zacai (apud REIS, 2008, p.
117-118):
A estratgica integrao do design industrial a chave do
sucesso em um mercado competitivo. O design industrial,
15. Deve-se tomar aqui a definio de Moura (2003) para interdisciplinar: diz respeito aquilo que comum entre duas
ou mais disciplinas ou ramos de conhecimento, ocorre quando uma nica disciplina, campo do conhecimento ou
cincia no capaz de esgotar um assunto.
126
quando habilmente praticado, muitas vezes o elo perdido
entre as disciplinas mais conhecidas de marketing e
engenharia, em um processo de desenvolvimento de produto
bem sucedido. O design industrial tem a singular habilidade de
observar o comportamento do consumidor, identificar as suas
necessidades e anseios no atendidos, coisa que apenas um
plano de marketing no consegue realizar. Uma vez
descobertas essas oportunidades, o design industrial
trabalhando em estreita colaborao com a engenharia pode
rapidamente conceber e implementar solues que satisfaam
essas necessidades que so nicas, funcionais e
apropriadamente elegantes para cativar a imaginao do
consumidor.
Mesmo que as mais bsicas necessidades humanas imponham sempre
desafios ao design, sempre sero possveis projetos livres das implicaes
econmicas e produtivas, que satisfaam as necessidades humanas menos
evidentes, ou ainda no evidenciadas, momento este em que o designer
antecipa-se ao que a sociedade aparenta ainda no saber o que sabe, ou
procura.
Sendo assim, no restam dvidas que o maior compromisso ao qual um
designer deve assumir voltado ao seu pblico-alvo. Compromisso este, vale
ressaltar, que o profissional de marketing tambm adota como filosofia de
trabalho. No fosse assim, tambm no atenderia ao objetivo do produtor, a
outra parte desta relao. O profissional do design deve ser uma atividade
tica, pois no h como atender aos interesses do produtor a no ser que o
consumidor seja dirigido ao benefcio do produto ou servio, o que Jorge
Frascara (apud Reis, 2008) confirma, ao afirmar que o design deve ser
praticado integrado aos contextos da tica, ou constituir um perigo cultural,
social, ideolgico e ambiental.
A sustentabilidade cada vez mais uma questo importante para o designer e
para as pessoas para quem trabalham. Os designers no s so responsveis
(ou pelo menos cmplices) pela criao de demasiado desperdcio, como o seu
trabalho tambm instrumental ao ajudar o movimento de sustentabilidade a
representar-se de formas que esto mais ligadas s preocupaes do
consumidor contemporneo
Concluindo, a responsabilidade do profissional de design vai alm da
satisfao de seus receptores. Ela se estende a toda sociedade, pois os
conceitos do design so universais, portanto todos devem ser beneficirios
destes. com esta filosofia que as solues propostas a um problema de
127
design devem estar comprometidas, algo que suplanta a funo, produo e
comercializao a que se prope o produto, comunicao ou servio.
sabido que existem referncias especficas ao design industrial, porm todas
as reflexes aqui colocadas servem s demais habilitaes do design, sejam
eles o design grfico, design de interiores e design de moda, hoje muito bem
representadas e praticadas de forma acadmica e profissional no Brasil.
A soluo como proposta: convergncia dos saberes.
Talvez seja interessante ilustrar a teoria de ncleos duros de Arlindo Machado
(2007) para esclarecermos sobre a convergncia dos saberes que aqui se
discute. Prope-se que sejam colocadas as reas do conhecimento, como o
design, marketing e engenharias ( bom lembrar que as reas podem se
modificar de acordo com o projeto) em crculos que delimitam os campos de
estudos, pesquisas e prticas desses universos. Esses campos tangenciam
outras reas em sua histria e isso gera uma comunicao entre as mesmas.
Neste primeiro momento a tangncia das reas no pressupe a aquisio de
conhecimento e na gerao de novas propostas. Aqui, neste estgio, existe
apenas a inteno de trocas entre reas que, ainda, so distintas.
Porm, como reas do conhecimento, a fronteira da circunferncia no pode
ser extensa para no tolher a expanso destes saberes. Logo, no se pode
delimitar esses campos. O mais certo seria imaginar os mesmos como esferas
duras em seu meio que, gradativamente, vo perdendo a densidade a partir
que se distanciam do centro e nesse momento comeam o intercmbio com
outras reas. Esse ncleo duro definiria conceitos, prticas, modos de
produo, tecnologias, economias e pblicos especficos de cada rea do
saber. normal que ao longo da histria exista um deslocamento das atenes
e pensamentos ora para o ncleo duro, ora para as interseces entre as
bordas.
128
Fig. 1: Transio entre a fase de crculos delimitadores dos saberes direo dos ncleos duros.
Machado (2007) analisa que no interior de cada meio existe conflito,
surgimento de novas tendncias, e algumas delas revolucionrias, ao ponto de
redirecionar os rumos dos pensamentos e prticas, expandindo os ncleos
duros geometricamente. Logo, nesse movimento, sua expanso leva as
zonas de interseco e seus ncleos duros a expandirem e se misturar,
tornando-se um s elemento. Rompendo com o pensamento separatista, em
que o centro mais denso do ncleo (indicador de sua especificidade) comea a
se confundir com os outros em um novo patamar: o da convergncia dos
saberes, conhecimentos, produes e prticas.
Fig.2: Tanto os crculos como seus ncleos duros vivem um movimento permanente de expao.
certo que o marketing contemporneo j deixou de ser ps-fordista
16
originado no Market Studies que compreendia a pesquisa, o desenvolvimento e
gerncia de produtos, logstica, precificao, controle, propaganda e etc.; mas
sim uma instncia de novos valores que, se aproveitando da
16 O modelo fordista foi proposto por Henry Ford em 1914 e apoiava-se em uma sociedade baseada no consumo de
massa e, para isso, deveria haver condies para seu crescimento. Colocado em prtica pela primeira vez na fbrica
da Ford Motor Company, em Detroit-Michigan, no referido ano, a linha de montagem automtica facilitaria o aumento
da produtividade, do poder aquisitivo, do lazer e, conseqentemente, do consumo. Ford acreditava que um poder
corporativo poderia regulamentar a economia como um todo. Com todas essas caractersticas amplas, o fordismo
proporcionou uma rpida elevao do investimento e do consumo per capita.
129
interdisciplinaridade, comungou com outras reas do saber, como o design,
para propor juntos algo novo que vai alm de seus universos.
Est na hora de se comear a falar no designing do marketing, uma atividade
multifacetada que promove a anlise do entendimento do homem como ser
social na inteno de antecipar-se no oferecimento de algo (objeto, servios,
sistemas...) que esta mesma sociedade ainda no sabe que quer ou precisa.
um trabalho interdisciplinar que se compromete em projetar uma soluo que
respeita a sociedade, proporciona ambientes favorveis e responsveis de
melhorias, ao mesmo tempo que compromissado com o usurio, focada em
perfis que podem, aps todo o processo modificar as instncias do ambiente
que esto inseridos para propor alteraes que se adequaro confortavelmente
aos anseios do pblico a que se destina.
130
Referncias Bibliogrficas
BONSIEPE, Gui. Design: do material ao digital. Florianpolis: FIESC; IEL,
1997.
BRDEK, Bernhard E. Histria, teora y prctica del diseo industrial.
Barcelona: Ed. Gustavo Gili. 1994.
___________________. Histria, Teoria e Prtica do Design de Produtos.
So Paulo: Edgard Blcher, 2006.
DORFLES, Gillo. O design industrial e sua esttica. Traduo Wanda
Ramos. 3 ed. Lisboa: Presena, 1991. 158 p.
FERREIRA, Aurlio. B. H. Novo dicionrio Aurlio da lngua portuguesa.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
_____________________. Novo Dicionrio Eletrnico Aurlio - Verso 5.0.
Positivo Informtica, 2004. [s.l.]
ICSID. Definition of design. Disponvel em:
<http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm>. Acesso em: 14 de abril de
2004.
KOTLER, P.; RATH, A. G. Design a powerful but neglected strategic tool.
Journal of Business Strategy, n. 5, 1984. p. 16-21.
MACHADO, Arlindo. Arte e Mdia Coleo Arte +. Jorge Zahar: Rio de
Janeiro, 2007.
MAKOWEICKY, Sandra; OLIVEIRA, Sandra Ramalho (Org.). Ensaios em
torno da arte. Chapec: Editora Argos, 2008.
MOURA, Mnica. Design Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. In: O
Design de Hipermdia. Tese de doutorado Programa de Ps Graduao em
Comunicao e Semitica. PUC, So Paulo, 2003. p. 112-116.
REIS, Alexandre. Design no arte. In: MAKOWEICKY, Sandra; OLIVEIRA,
Sandra Ramalho (Org.). Ensaios em torno da arte. Chapec: Editora Argos,
2008. p. 99-126.
SANTOS, Boaventura de S. Um discurso sobre as cincias. Porto:
Afrontamento, 1987.
TWEMLOW, Alice. Para que serve o design grfico? Amadora: Editorial
Gustavo Gili, 2007.
VSQUEZ, Adolfo Snchez. Convite esttica. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1999.
131
YANAZE, Mitsuro Higuchi. Gesto de Marketing: avanos e aplicaes.
Saraiva: So Paulo, 2006.
ZACAI, Gianfranco. O design como uma ferramenta estratgica de
desenvolvimento econmico. In: FRUM ICSID DESIGN MERCOSUL, 1995,
Florianpolis. Anais... Florianpolis: FIESC; SENAI; LBDI, 1995.
132
PLGIO E CONICIDNCIA NA CRIAO PUBLICITRIA
Em todos os tempos e em todas as reas do conhecimento abundam casos de
plgio. A eles sempre esteve associada a coincidncia, positivamente a melhor
maneira de neg-lo.
ingnuo acreditar que s existe plgio, tanto quanto se afirmar que tudo
mera coincidncia, ou que ambos s podem ser compreendidos luz da
sincronicidade junguiana.
Se por um lado, realmente, acontecem com freqncia plgios - apropriaes
conscientes de idias alheias - no mbito das mais variadas expresses
artsticas; coincidncias semelhanas ou igualdades de idias - tambm
costumam ocorrer numerosas vezes e a estatstica o comprova.
Ainda assim, sempre constrangedor para um profissional de criao,
sobretudo se for dos mais premiados, se ver, de repente, envolvido num caso
de plgio. Mesmo provada sua inocncia - uma vez que a criao resulta de
um processo de associao de idias e as coincidncias so comuns, j que
vrios publicitrios podem chegar s mesmas solues, sobretudo se so
solues fceis -, ele certamente sai maculado do episdio. Alm do mais,
pode-se passar de vtima a vilo de uma hora para a outra. De acusador a
acusado. Como o caso do escritor italiano Giuseppe Carpani que, depois de ter
sua obra Haydine plagiada por Stendhal, levou a fama de ladro e mentiroso.
Plgio e coincidncia convivem h muito no universo da criao publicitria e
nunca deixaram de estimular controvrsias, gerando disputas acirradas pela
autoria de idias, quando no a troca de acusaes entre "criativos" de
agncias distintas.
Mas, embora vrias ocorrncias de plgio tenham emulado o meio publicitrio
nos ltimos anos, raros so os estudos que se aprofundaram no assunto,
contribuindo para melhor compreend-la.
At o momento, a discusso de casos de possveis plgios baseia-se
unicamente na cronologia: quem provar que teve a idia primeiro, atrai para si
o status de verdadeiro autor.
Uma breve consulta em diversas campanhas de propaganda, criadas e
veiculadas em diferentes dcadas, revelou-nos um enorme reservatrio, no
qual slogans, ttulos, frases, apelos, imagens e figuras se repetem
enfadonhamente. Plgio ou coincidncia? Um e outro? Eis a questo.
EM MATRIA DE IMPRESSO
Um tema polmico como esse no permite generalizaes. Por isso, vamos
nos deter num detalhe expressivo para compreender melhor o todo.
Os anncios impressos servem como excelente referencial para este pequeno
estudo - so grande fonte de exemplos de casos de plgios ou coincidncias.
133
Basicamente dois universos formam os anncios: a linguagem verbal e a
visual.
Ttulo, texto e slogan - e tudo o mais que se relaciona com o cdigo lingstico -
compem seu campo verbal.
O corpo visual do anncio composto pelos cdigos morfolgico (mais
comumente conhecido como layout), tipogrfico (as famlias de letras
escolhidas para dar forma ao contedo do cdigo lingstico), cromtico (as
combinaes de cores adotadas) e fotogrfico" que melhor poderamos
denominar figurativo (j que comporta fotos e ilustraes diversas como a
logomarca, splashes, vinhetas etc.).
Convm apontar que o plgio e a coincidncia ocorrem justamente nos cdigos
lingstico, figurativo e morfolgico, em que o "fazer artstico" mais evidente,
ou seja, nos quais a criao propriamente dita, fruto da associao de idias,
expressa objetiva e plenamente. Os elementos dos cdigos cromtico e
tipogrfico so de uso comum dos profissionais de criao e ningum acusar
um diretor de arte de plgio por escolher a mesma fonte de letra ou as mesmas
cores j usadas em outros anncios. Em outras palavras, os trs primeiros
cdigos expressam a idia do anncio, o conceito adotado pelos "criativos", e
so determinantes, enquanto os dois ltimos so secundrios quanto
materializao dessa proposio.
ESCOLHENDO O TTULO
Vamos nos restringir aqui, primeiramente, abordagem do cdigo lingstico,
mais precisamente ao ttulo, que contm a formulao conceitual do anncio.
Sabe-se que o profissional de criao retira do universo sociocultural em que
vive o subsdio para alicerar sua idia criativa. No caso especfico da redao
publicitria, tudo que est contido no repertrio lingstico da sociedade pode e
deve servir como ponto de partida para a soluo de seu problema: clichs,
lugares-comuns, formas fixas, expresses idiomticas, grias, aluses bblicas,
palavras-chave, frases clebres, ditados populares, trocadilhos onomsticos,
portmanteau words, nomes de canes, de livros, de filmes clssicos ou
contemporneos, enfim, tudo que possvel se produzir tomando a palavra
como matria-prima para elaborao de uma proposio, o exrdio de seu
discurso, na terminologia de Aristteles. Acrescente-se tambm que os ttulos e
slogans publicitrios, uma vez incorporados no patrimnio lingstico, so da
mesma forma pontos de partida para novas criaes.
Pois bem, como a busca do ponto de partida por parte dos redatores se d no
universo da lngua, no improvvel que vrios profissionais encontrem o
mesmo ponto de partida, ainda que trabalhando com produtos distintos, para
ento compor o ttulo de um anncio.
Naturalmente, esse processo depende do repertrio do redator, cuja riqueza ou
limitao o conduzir, com maior ou menor dificuldade, ao encontro de um bom
ponto de partida. Esse, uma vez achado, pode e costuma ser alvo de
134
transformaes em nveis seqenciais. De acordo com essas transformaes,
chega-se a um ttulo criativo ou no. E nesse ponto que surge o problema do
plgio ou da coincidncia.
Exemplifiquemos, em termos esquemticos, como se processou a criao do
ttulo de um anncio (Figura 21), criado nos anos 70, em tempos pr-AIDS, e
que se tornou um marco na propaganda brasileira:
BONITINHO, PERO SIFILTICO.
Ponto de partida: Bonitinha, mas ordinria. Expresso de domnio popular;
nome inclusive de uma pea do dramaturgo Nelson Rodrigues.
1 nvel de transformao: Bonitinho, mas ordinrio. Alteraes de gnero
dos adjetivos (de feminino para masculino).
2 nvel de transformao: Bonitinho, pero ordinrio. Alterao por
substituio da conjuno adversativa "mas" da lngua portuguesa pela
correspondente "pero" do idioma espanhol.
3 e ltimo nvel de transformao: Bonitinho, pero sifiltico. Alterao por
substituio de um dos adjetivos da frase ("ordinrio") por outro ("sifiltico") com
mudana substancial de seu sentido.
O ttulo publicitrio criado remete ainda ao ponto de partida (Bonitinha, mas
ordinria), porm se revela especialmente adequado ao produto anunciado -
Jontex, preservativos que evitam doenas sexualmente transmissveis como
sfilis - e integra-se aos cdigos visuais, sobretudo ao figurativo, que mostra um
jovem "bonitinho", o mauricinho da poca, mas que, vamos saber, sifiltico.
Quanto mais o redator se distanciar do ponto de partida (lugar-comum), sem
perder ligao com ele, isto , quanto mais transformaes (em nveis de
importncia) ele fizer com originalidade, em funo do problema proposto em
briefing, maior a possibilidade de chegar a um ttulo criativo (lugar incomum),
135
conquanto se harmonize com os cdigos visuais cujas transaes entre si
tambm resultam em figuras de linguagem com fins persuasivos.
Evidentemente, se esse distanciamento for demasiado, a associao com o
ponto de partida se dilui, resultando num ttulo ininteligvel, muitas vezes
apenas um trocadilho de mau gosto.
No outro extremo, a utilizao ipsis literis de uma frase pode resultar num bom
ttulo (ponto de partida = ponto de chegada), embora assim se aumente a
chance de ocorrer uma coincidncia, j que outro "criativo" pode tambm
adot-la sem proceder a modificaes, que sempre exigem labor.
Portanto, o talento do redator no se limita a encontrar uma frase interessante,
em meio ao oceano lingstico, e condizente com o repertrio do target, mas
fazer dela um ttulo adequado - alterando-a, se possvel (ponto de partida
diferente ponto de chegada), em funo do objetivo do anncio.
Em outras palavras, podemos afirmar que boa parte dos ttulos publicitrios
resulta de parfrases ou pardias. O que Freud denominou de chiste.
Vejamos alguns exemplos de chamadas publicitrias, tanto clssicas como
contemporneas.
O ttulo do outdoor da rede de doces Dunkin' Donuts De salgado basta o IPTU
teve como ponto de partida a expresso popular "De amargo basta a vida" e,
evidentemente, sofreu uma modificao, de acordo com o momento vivido pelo
pblico-alvo da mensagem - a populao da cidade de So Paulo -, que ento
recebia seus carns de IPTU e reclamava do valor "salgado" do tributo.
No pesa nem na conscincia o ttulo de um anncio do Iogurte Pauli Light e
tem seu ponto de partida na expresso "Ficar de conscincia pesada".
No uma Brastemp, a proposio da clebre campanha da Brastemp, uma
parfrase da sentena popular "No grande coisa".
O ttulo do anncio e do outdoor de uma campanha do governo federal,
estimulando o uso de preservativos no Carnaval, j nesses tempos de AIDS,
Plastifique seus documentos, uma frase que pane da atitude de plastificar
documentos (carteira de identidade, ttulo de eleitor etc.) para proteg-las,
sendo que a palavra "documentos", polissmica, deve ser lida, obviamente,
nesse caso, na acepo de rgo sexual masculino.
O Porsche dos com-terra, ttulo de um anncio polmico dos tratores Valmet,
pela sua carga de preconceito burgus, utiliza como ponto de partida o to
propalado "Movimento dos sem-terra".
Think small a chamada de um dos mais antolgicos anncios de lanamento
do fusca nos Estados Unidos, na dcada de 60 - considerada a era de ouro da
publicidade criativa mundial -, uma evidente parfrase da expresso norte-
americana "Think big".
136
Um dos anncios mais marcantes da Igreja Presbiteriana traz o ttulo O heri
morre no final, referindo-se a Cristo, e seu ponto de partida o lugar-comum "O
bandido morre no final".
O polmico slogan da campanha dos cigarros Benson & Hedge, Dinheiro no
traz felicidade. Manda buscar; utiliza o surrado ditado popular "Dinheiro no
traz felicidade", acrescentando-lhe um arremate que muda ironicamente sua
significao.
Os prprios slogans publicitrios, como dissemos, uma vez absorvidos pela
sociedade, passam a fazer parte do universo lingstica, podendo ser utilizados
como matria-prima para novos ttulos, como no caso do slogan da campanha
do leite Parmalat "Porque somos mamferos", que tomado como ponto de
partida para a parfrase "Porque somos carnvoros": ttulo de dois anncios do
restaurante Marius.
HIPTESES E CASOS
Propomos aqui um critrio para compreender melhor os casos de possveis
plgios, que sempre geram acusaes entre os "criativos" e suas agncias, e
utilizam para atacar ou se defender, como prova de sua idoneidade, apenas a
data em que supostamente teriam criado suas peas publicitrias.
Pelo nosso critrio, teramos:
1) quanto menos um ttulo se distanciar da frase que seu ponto de partida,
maior a probabilidade de ser uma coincidncia, e 2) quanto maior o
distanciamento do ponto de partida (com alteraes ad hoc feitas pelo redator,
em funo do problema de comunicao, reduzindo a probabilidade de
coincidncia), mais provvel que tenha ocorrido um plgio, uma vez que h
um trabalho com a linguagem guiado pelas premissas do briefing.
Vejamos, a seguir, dois casos em que os ttulos so parecidos ou praticamente
iguais.
1 caso: Os dois anncios de revista foram veiculados no mesmo ano (Figuras
22 e 23) e esto, inclusive, reproduzidos na revista especial das campanhas
finalistas do Prmio Abril de Publicidade. So, portanto, anncios
contemporneos e divulgam produtos diferentes: um indicado para limpeza
pesada; o outro, um tipo de meia feminina de nylon e Iycra. Ambos os ttulos, o
do primeiro Cai como uma luva para voc e o do segundo, Liz em 4 tamanhos.
Finalmente uma meia que veste como uma luva, utilizam o mesmo ponto de
partida, o ditado "Cai como uma luva". Mas nos dois a frase-origem foi alterada,
em funo de adequ-la ao pblico.
No primeiro ttulo, de Veja Limpeza Pesada, foram acrescidas as palavras
"para voc': ou seja, para as mulheres que tm de limpar cozinhas e banheiros,
e refere-se a um produto que no tem amonaco e, portanto, "no estraga as
137
suas mos': como podemos verificar no texto. O segundo ttulo modifica o
ditado, com a frase anterior "Liz em 4 tamanhos" e com a seguinte, na qual o
verbo "cair" substitudo por "vestir" como uma luva, mais apropriado para o
uso que se faz do produto meia. A possibilidade de plgio pequena, sendo
mais provvel que os pontos de partida foram apenas coincidentes.
2 caso: Tambm so da mesma poca esses dois anncios de revista
(Figuras 24 e 25), embora um tenha sido veiculado no Brasil, e criado pela
agncia DM9 - ento capitaneada por Nizan Guanaes, um dos mais premiados
e respeitados publicitrios do pas, com reconhecimento internacional -, e o
outro, veiculado em revistas americanas. Os dois ttulos tomam como ponto de
partida o ditado universal "Dinheiro no nasce em rvore" e, curiosamente, os
dois so alterados para a mesma sentena interrogativa: Quem disse que
dinheiro no nasce em rvore? no anncio da Editora Abril, e Who says money
doesn't grow on trees? (Quem disse que dinheiro no cresce em rvores?) da
Calava Avocados. H apenas uma diferena do verbo utilizado, "nascer" no
anncio brasileiro e "crescer': no anncio americano. No obstante a
semelhana das duas chamadas, mais provvel que tenha ocorrido uma
coincidncia, j que ambas se afastam do ponto de partida, o ditado (frase
afirmativa).
138
SE A QUESTO ESTIVER NA IMAGEM
Se o modelo apresentado para o ttulo - interferncias (transformaes) no
ponto de partida para sua adequao ao problema do anunciante, resultando
na sua proposio (ponto de chegada) - for tambm adotado em relao aos
139
elementos dos cdigos morfolgico e figurativo, talvez se possa avaliar melhor
se h plgio ou coincidncia nos casos a seguir:
1 caso: Temos aqui dois anncios extremamente parecidos (Figuras 26 e 27):
o primeiro deles, do Citibank, veiculado na revista Consumidor Moderno, e, o
segundo, da Concessionria Breda Fiat, veiculado na revista Veja So Paulo,
durante o ms de agosto do mesmo ano. Embora divulguem produtos e
servios distintos (servios bancrios no caso do Citibank e automveis da
linha Fiat no caso da Breda), as solues nos cdigos figurativo e morfolgico,
alm do cromtico, so similares. At mesmo no cdigo lingstico temos uma
mesma proposio, como podemos comparar, ainda que evidentemente
adaptada a cada anunciante:
50% dos clientes de outros bancos gostariam de ter conta no Citibank.
Pois esto todos convidados.
Muitos clientes gostariam de comprar Fiat na Breda. Esto todos
convidados.
140
Temos aqui uma prova de que no apenas a propaganda de qualidade, com
layout de bom gosto e conceito criativo original que est sujeita a uma
acusao de plgio, mas tambm os anncios visualmente poludos,
alicerados em idias pouco autnticas, e no velho formato verbal de convite,
que remonta aos primrdios da nossa propaganda. H uma grande
probabilidade de ser um plgio. So coincidncias demais...
2 caso: Os dois anncios a seguir (Figuras 28 e 29) foram veiculados no
mesmo nmero da Revista da ESPM, na qual mais de 20 agncias de
publicidade em destaque no Brasil fazem suas homenagens ao cinqentenrio
dessa que a primeira escola de propaganda fundada no pas. Em ambos,
criados por duas das mais criativas agncias de publicidade atuando entre ns,
DM9DDB e F/Nazca Saatchi & Saatchi, temos o mesmo elemento (bomba de
suco de leite) no cdigo figurativo, alm de soluo semelhante no cdigo
cromtico (fundo azul) e morfolgico (posio axial da figura). Plgio ou
coincidncia?
CITAES TEXTUAIS E VISUAIS
No podemos nos esquecer dos anncios nos quais se faz citao de uma
pea publicitria j clssica, que muitas vezes abrange tanto o cdigo
lingstico como os cdigos visuais mais determinantes na materializao de
seu conceito criativo. Ou seja, anncios cujo ponto de partida so outros
anncios j conhecidos no universo dos profissionais de propaganda.
Ora, vale ressaltar que as referncias culturais populares utilizadas na
construo de mensagens publicitrias, a partir de citaes implcitas, resultam
numa forma de dilogo entre textos, semelhana do que ocorre
freqentemente no mbito da literatura, como podemos verificar nos poemas e
trechos de poemas a seguir, publicados nessa ordem cronolgica.
CANO DO EXLIO
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabi;
As aves, que aqui gorjeiam,
No gorjeiam como l.
Nosso cu tem mais estrelas,
Nossa vrzeas tm mais flores,
Nossos bosques tm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, noite,
Mais prazer encontro eu l;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabi.
Minha terra tem primores,
Que tais no encontro eu c;
Em cismar - sozinho, noite
Mais prazer encontro eu l;
141
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabi.
No permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para l;
Sem que desfrute os primores
Que no encontro por c;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabi.
(DIAS, Gonalves. Gonalves Dias: poesia.
Por Manuel Bandeira, Rio de Janeiro, Agir, 1975)
HINO NACIONAL BRASILEIRO
Do que a terra mais garrida
Teus risonhos, lindos campos tm mais flores;
"Nossos bosque tm mais vida
"Nossa vida": no teu seio, "mais amores".
CANTO DO REGRESSO PTRIA
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
No cantam como os de l
Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra
Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de l
No permita Deus que eu morra
Sem que volte para l
No permita Deus que eu morra
Sem que volte pra So Paulo
Sem que veja a Rua 15
E o progresso de So Paulo
(ANDRADE, Oswald de. Pau-Brasil. So Paulo, Globo, 1990)
CANO DO EXLIO
Minha terra tem macieiras da Califrnia
onde cantam gaturamos de Veneza.
Os poetas de minha terra
so pretos que vivem em torres de ametista,
os sargentos do exrcito so monistas, cubistas,
os filsofos so polacos vendendo a prestaes.
A gente no pode dormir
com os oradores e os pernilongos.
Os sururus em famlia tm por testemunha a Gioconda.
Eu morro sufocado
em terra estrangeira.
142
Nossas flores so mais bonitas
nossas frutas mais gostosas
mas custam cem mil ris a dzia.
Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade
e ouvir um sabi com certido de idade!
(MENDES, Murilo. Poesias (1925-1955). Rio de Janeiro, J. Olympio, 1959)
JOGOS FLORAIS I
Minha terra tem palmeiras
onde canta o tico-tico
Enquanto isso o sabi
vive comendo meu fub.
Ficou moderno o Brasil
ficou moderno o milagre:
a gua j no vira vinho,
vira direto vinagre.
JOGOS FLORAIS II
Minha terra tem Palmares
memria cala-te j.
Peo licena potica
Belm capital Par.
Bem, meus prezados senhores
dado o avanado da hora
errata e efeitos do vinho
o poeta sai de fininho.
(ser mesmo com dois esses que se escreve paarinho?)
(CACASo. Grupo Escolar. In Beijo na boca
e outros poemas. So Paulo, Brasiliense, 1985. p.110-111)
Como a Cano do exlio de Gonalves Dias anterior aos demais poemas ou
trechos reproduzidos aqui, todos fazem aluso a ela, ou seja, a utilizam como
ponto de partida. Um texto cita outro para reafirmar algumas de suas idias
(parfrases), ou contestar, divergir, ridicularizar, polemizar com alguns de seus
sentidos (pardia). Os versos do Hino Nacional parafraseiam os versos da
Cano do Exlio de Gonalves Dias, pois reafirmam o ufanismo da natureza
brasileira, exaltando as qualidades superiores de nossa ptria. O Canto do
regresso ptria de Oswald de Andrade parodia abertamente o poema
clssico do romantismo, enfatizando as riquezas provindas de So Paulo, um
outro pas dentro do Brasil. A Cano do exlio de Murilo Mendes, por sua vez,
ridiculariza o nacionalismo exacerbado do poema de Gonalves Dias. J nos
jogos florais de Cacaso, possvel percebermos uma pardia Cano do
exlio de Gonalves Dias no primeiro poema e uma parfrase do Canto do
regresso ptria de Oswald de Andrade no segundo.
143
Se temos entre esses poemas casos de intertextualidade, no mbito dos ttulos
publicitrios temos o dilogo interfrasal, pois as citaes se do efetivamente
na esfera exclusiva das frases.
Tomando o ttulo da histria infantil A bela e a fera, como ponto de partida, por
exemplo, temos como resultado vrias proposies usadas em anncios de
produtos distintos: A fera bela. Ttulo de anncio da Yashica, especfico de uma
cmera fotogrfica com tecnologia avanada (fera) e design bonito (bela).
A bela que fera. Ttulo de anncio da Door, fabricante de portas multi-Iock
que apresentam beleza e segurana mxima. A bela e as frias. Ttulo de
anncio promocional para Corporal Shape Clinic, clnica de esttica para a
mulher (que aparece na foto e representa o pblico feminino) entrar em forma e
poder exibir seu corpo nas frias de vero.
Esse dilogo de frases de domnio pblico, esse imbricamento de citaes, no
raro resulta em ttulos coincidentes, ocasionando acusaes de plgio, visto
que partem de clichs e apresentam um nmero limitado de combinaes.
Nos cdigos visuais, a intertextualidade to ou mais presente, como podemos
ver nos dois casos a seguir.
1caso: Um anncio de miniaturas de automveis criado em fins dos anos 90
(Figura 30) parodia um famoso anncio da campanha de lanamento do Fusca
nos Estados Unidos, nos anos 60 (Figura 31). Naturalmente, no um caso de
plgio, h intencional idade explcita por parte dos criativos. A pea, alvo da
imitao, conhecida por todos os publicitrios e, por isso mesmo, utilizada
como ponto de partida para concretizar o chiste.
Esse emprego da pardia freqente entre os profissionais de criao. Vamos
encontr-la no apenas nas peas publicitrias de imprensa, mas nos jingles e
spots de rdio e, sobretudo, nos comerciais de televiso. Ou seja,
semelhana dos ttulos de anncios consagrados, que se transformam depois
em pontos de partida para novos ttulos, como vimos no caso do leite Parmalat
(Figuras 32, 33 e 34) e do restaurante Marius (Figuras 35 e 36), a forma e o
contedo visuais de anncios clebres tambm passam a ser matria prima
para novas criaes, uma vez que se incorporam ao nosso patrimnio visual.
2 caso: O anncio convocando empresas para patrocinarem o Programa
Young Creatives (Figura 37), que objetiva levar ao Festival de Cannes jovens
criativos da nossa publicidade, imita, propositalmente, um anncio da
Mercedes-Benz (Figura 38), premiado nesse mesmo Festival e que se tornou
clssico pela sua proposio puramente visual.
Os pontos de partida, lingsticos e visuais, esto disposio de todos no
caldeiro da cultura, boiando no nosso imaginrio. Plgio e coincidncia so
inerentes publicidade, reino da bricolagem. E, como nessa mistura de
144
discursos, difcil saber quem autor do qu, h quem, de caso pensado, se
aproveite para roubar a idia alheia.
Você também pode gostar
- Comunicacao Integrada de MarketingDocumento16 páginasComunicacao Integrada de MarketingAlandey e Tatiana100% (1)
- Publicidade - Texto ApoioDocumento6 páginasPublicidade - Texto Apoiolmst08Ainda não há avaliações
- Aula 01 - Conceitos e Definicao de MarketingDocumento29 páginasAula 01 - Conceitos e Definicao de MarketingRene KatayoseAinda não há avaliações
- PublicidadeDocumento10 páginasPublicidadeaugustohilariomacamosAinda não há avaliações
- Conceitos de Publicidade e PropagandaDocumento27 páginasConceitos de Publicidade e PropagandamirificorikinhoAinda não há avaliações
- Teorias e Praticas Da Publicidade PDFDocumento13 páginasTeorias e Praticas Da Publicidade PDFKinomoto IlustraçãoAinda não há avaliações
- Diferença Entre Publicidade e PropagandaDocumento2 páginasDiferença Entre Publicidade e Propagandaanderson.tomeAinda não há avaliações
- Comunicação Visual No VarejoDocumento20 páginasComunicação Visual No VarejoRenato Vieira FilhoAinda não há avaliações
- TCM PublicidadeDocumento33 páginasTCM PublicidadeAlefe SilvaAinda não há avaliações
- La Publicidad y Su Responsabilidad SocialDocumento5 páginasLa Publicidad y Su Responsabilidad SocialCRISTIAN NILTON LEON OJEDAAinda não há avaliações
- MarketingDocumento3 páginasMarketinglivia.asseiroAinda não há avaliações
- Publicidade e PropagandaDocumento150 páginasPublicidade e PropagandaPós-Graduações UNIASSELVI100% (1)
- MARKETINGDocumento98 páginasMARKETINGLaura AyalaAinda não há avaliações
- Artigo Consumidor - Publicidade EnganosaDocumento30 páginasArtigo Consumidor - Publicidade EnganosaHalana HelisaAinda não há avaliações
- Fundamentos de Marketing 1Documento33 páginasFundamentos de Marketing 1lilianerllima87Ainda não há avaliações
- Atividade 7Documento3 páginasAtividade 7António CostaAinda não há avaliações
- Aula 3Documento9 páginasAula 3adamAinda não há avaliações
- Propaganda e PublicidadeDocumento7 páginasPropaganda e PublicidadeGabriel Reis MartinsAinda não há avaliações
- PP 1SEM - mercadologico.2023.NP1Documento34 páginasPP 1SEM - mercadologico.2023.NP1luiza.brandaao2003Ainda não há avaliações
- A Propaganda É A Alma Do NegócioDocumento3 páginasA Propaganda É A Alma Do NegócioFábio William C. SilvaAinda não há avaliações
- Desmistificando A Publicidade e Propaganda (Palestra Unip)Documento4 páginasDesmistificando A Publicidade e Propaganda (Palestra Unip)IanaraTeixeira100% (1)
- Performance ArtisticaDocumento14 páginasPerformance ArtisticaJay ValleAinda não há avaliações
- Gelson ConteúdoDocumento9 páginasGelson ConteúdoFernando Oliveira ManaçaAinda não há avaliações
- Manual 0367 Publicidade e PromoaoDocumento28 páginasManual 0367 Publicidade e PromoaoLuísa PintoAinda não há avaliações
- Comunicação e MarketingDocumento35 páginasComunicação e MarketingIFÁC EDUCACIONAL100% (1)
- FICHA 01 - Conceitos Fundamentais de MarketingDocumento10 páginasFICHA 01 - Conceitos Fundamentais de MarketingCiêntistaMundo-gCalisAinda não há avaliações
- CONTEÚDO ESPECÍFICO - MARKETING Ciclo 2 2023 COMPLETODocumento5 páginasCONTEÚDO ESPECÍFICO - MARKETING Ciclo 2 2023 COMPLETORobson CrozuéAinda não há avaliações
- Manual 0367 Publicidade e PromoaoDocumento29 páginasManual 0367 Publicidade e PromoaoMaria Manuela Lima100% (1)
- E Book Ferramentas Publicidade e MarketingDocumento15 páginasE Book Ferramentas Publicidade e MarketingMiguel MutheliAinda não há avaliações
- Atl BTL EstudoDocumento14 páginasAtl BTL EstudoHelio KorehisaAinda não há avaliações
- 3mobile Marketing-1Documento38 páginas3mobile Marketing-1Jaqueline MachadoAinda não há avaliações
- 01 MarketingDocumento7 páginas01 Marketingdownloadmen7Ainda não há avaliações
- DanielDocumento1 páginaDanielKezia Dias lopesAinda não há avaliações
- Praticas de Propaganda - Apostila01Documento13 páginasPraticas de Propaganda - Apostila01Allan PereiraAinda não há avaliações
- Comunicacao No MarketingDocumento12 páginasComunicacao No MarketingChivite BarneteAinda não há avaliações
- PublicidadeDocumento19 páginasPublicidadeFilipe LourençoAinda não há avaliações
- Manual de Apoio Promocao e PublicidadeDocumento27 páginasManual de Apoio Promocao e Publicidadesonia alvesAinda não há avaliações
- Gestao de MarketingDocumento50 páginasGestao de MarketingNelo SaueAinda não há avaliações
- Magazine LuizaDocumento16 páginasMagazine Luizabrasil-virtualAinda não há avaliações
- PP-1SEM MercadologicoDocumento29 páginasPP-1SEM Mercadologicogabrielly.vitoriabonfimAinda não há avaliações
- Manual de Apoio Publicidade e PromoaoDocumento28 páginasManual de Apoio Publicidade e PromoaoMarco CarvalhoAinda não há avaliações
- PropagandaDocumento70 páginasPropagandaRodrigo Fernandes PissettiAinda não há avaliações
- A Importância Da Comunicação No Desenvolvimento Turístico Estudo de Caso: Município de Rio Grande / RSDocumento11 páginasA Importância Da Comunicação No Desenvolvimento Turístico Estudo de Caso: Município de Rio Grande / RSEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- O Que É MarketingDocumento46 páginasO Que É MarketingMaria Beatriz PimentelAinda não há avaliações
- Comunicação DirigidaDocumento24 páginasComunicação Dirigidaraquelsandra100% (1)
- LinguagensDocumento41 páginasLinguagensCharles NepomucenoAinda não há avaliações
- Resenhacrticasobreolivroaartedoplanejamento Verdadesmentirasepropaganda 130415213317 Phpapp01Documento3 páginasResenhacrticasobreolivroaartedoplanejamento Verdadesmentirasepropaganda 130415213317 Phpapp01Naiacy LimaAinda não há avaliações
- Publicidade e PropagandaDocumento2 páginasPublicidade e PropagandaDead PooLAinda não há avaliações
- 9830 - Novas Formas de PublicidadeDocumento64 páginas9830 - Novas Formas de PublicidadeOlinda NoronhaAinda não há avaliações
- Merchandising Social Na Novela Mulheres Apaixonadas - MonografiasDocumento8 páginasMerchandising Social Na Novela Mulheres Apaixonadas - MonografiasandrequiroAinda não há avaliações
- Hist Pub 4Documento18 páginasHist Pub 4dedegustavooAinda não há avaliações
- Apostila Composto PromocionalDocumento49 páginasApostila Composto PromocionalEliza TarssisAinda não há avaliações
- 2012 37 4433 PDFDocumento13 páginas2012 37 4433 PDFnazanoAinda não há avaliações
- Atendimento E Técnicas de VendasDocumento3 páginasAtendimento E Técnicas de Vendasyo.superliveAinda não há avaliações
- Fundamentos Do MarketingDocumento22 páginasFundamentos Do MarketingMichely Braga100% (1)
- Apunts ComPubliDocumento34 páginasApunts ComPublipaufabrega6Ainda não há avaliações
- Aula 2Documento9 páginasAula 2fjmvgoisAinda não há avaliações
- Evento-Estratégia Com Das OrganizaçõesDocumento12 páginasEvento-Estratégia Com Das Organizaçõesgerson dudusAinda não há avaliações