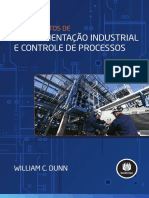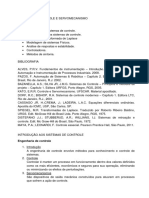Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Automacao III
Automacao III
Enviado por
Fabio RodrigoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Automacao III
Automacao III
Enviado por
Fabio RodrigoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
AUTOMAO
1. INTRODUO
Atualmente a automao tornou-se parte do cotidiano com diversas aplicaes na rea
domstica, comercial e, principalmente, industrial.
Tabela 1.1 Aplicaes da Automao.
APLICAES
DOMSTICA COMERCIAL INDUSTRIAL
Climatizao
Eletrodomsticos
inteligentes (lavadoras,
aspiradores, etc.)
Monitoramento de
alarmes
Prdios inteligentes
Caixas automticos
(bancrios)
Centrais telefnicas
Controle de trfego e
estacionamento
Sistema de cobrana
(etiqueta inteligente)
Sistemas de segurana
Controle automtico de
processos industriais
Intertravamento
Gerenciamento de
energia
Sistemas de Transporte
Alm das aplicaes listadas na tabela 1.1 a automao tem como na agricultura um setor
emergente com controle de umidade e temperatura em estufas e controle de irrigao e aplicao de
herbicidas.
1.1 Histrico
Em toda a histria da humanidade esto presentes as tentativas de substituir a fora humana
pela de animais, ao dos ventos e quedas dgua embora isto quase sempre tenha sido feito com o
emprego de mquinas rudimentares. Este processo denominado mecanizao apresentou uma forte
evoluo a partir da revoluo industrial (sc. XVIII) com o uso de mquinas a vapor e, mais adiante
com o aparecimento do motor a exploso e de aplicaes bem sucedidas da energia eltrica.
O desenvolvimento, por J ames Watt, do regulador centrfugo de velocidade para mquinas a
vapor (Fig. 1.1) em 1769 aparece como um dos primeiro dispositivos automticos pois permitia o
controle da velocidade sem necessidade de um operador.
Entende-se por automtico todo processo que se desenvolve sem a
necessidade de interveno humana (medio, deciso e ao corretiva).
2
Figura 1.1 Regulador de Velocidade de Watt.
No incio do sculo XX surgiram vrios dispositivos capazes de controlar alguns processos
simples como termostatos e chaves de nvel. Aps o surgimento dos primeiros controladores nos anos
30 e, com a evoluo da instrumentao todo processo tornou-se virtualmente passvel de ser
automatizado. Nos anos 60 apareceram as primeiras aplicaes de controle baseadas em computador e
aquisio de dados, a partir dos anos 80 o aparecimento de sensores e atuadores inteligentes, robs,
tornos CNC, eficientes sistemas de superviso alm do uso de protocolos redes que permitem a
integrao destes dispositivos. Hoje impulsionado pela evoluo da eletrnica com o aumento da
capacidade de processamento e de memria dos dispositivos de controle dispomos de uma grande
variedade de elementos que permitem o controle automtico de plantas industriais de elevada
complexidade possibilitando disponibilidade de dados para superviso e controle inclusive atravs de
redes sem fio (wireless), Internet ou telefone celular.
1.2 Objetivos da Automao
Basicamente a automao de um processo produtivo visa a sua otimizao,obtendo produtos
com um custo unitrio reduzido em um tempo menor e com uma maior uniformidade. Isto
conseguido indiretamente quando alcanados os seguintes objetivos:
Aumentar e controlar a qualidade do produto
Incrementar a produtividade
Aumentar a confiabilidade do processo
Disponibilizar dos dados referentes ao processo para anlise
Aumento da segurana em relao s pessoas e ao ambiente
Instrumentao corresponde s tcnicas e dispositivos empregados na
medio, tratamento e transmisso das variveis do processo.
3
1.3 Efeitos da Automao
Considerando que todo processo pode, de alguma forma, ser automatizado, a deciso entre a
utilizao da automao torna-se uma questo mais de ordem econmico-financeira que propriamente
tcnica. Ao longo dos anos a automao tem provocado uma srie de mudanas no ambiente de trabalho:
Reduo no nvel de emprego de atividades repetitivas e/ou que requerem pouca qualificao
Desaparecimento de algumas profisses
Aumento da qualidade e padronizao de produtos
Reduo de custos de produo
2. CONTROLE DE PROCESSOS
Controlar um processo corresponde a manter uma varivel deste processo num determinado
valor desejado.
2.1 Definies
Processo qualquer operao onde pelo menos uma propriedade fsica ou qumica possa variar
ao longo do tempo.
Varivel controlada propriedade que se deseja controlar, corresponde a sada do processo.
Varivel manipulada propriedade que pode ser modificada diretamente pela ao do
controlador e cuja variao ir afetar a varivel controlada, corresponde a entrada do processo.
Valor desejado (setpoint) valor de referncia para a varivel controlada. Em geral
determinado por um operador baseado nas necessidades do processo.
Elemento primrio (sensor) dispositivo que utiliza a energia do processo para proporcionar
uma medida da varivel controlada.
Transmissor elemento que transforma a medida do sensor em um sinal padronizado que
pode ser transmitido e interpretado pelo controlador.
Elemento Final de Controle (atuador) dispositivo que recebe o sinal do controlador e, desta
forma, altera a varivel manipulada (ex. vlvulas, rels, etc.).
Controlador dispositivo que compara o valor da varivel controlada com o valor desejado,
calcula a ao corretiva necessria e emite o sinal de correo para o atuador.
2.2 Classificao
O controle de processos normalmente considerado de dois tipos distintos: controle de
variveis contnuas (nvel, temperatura, vazo, presso, etc.) ou controle de variveis discretas
(controle da manufatura: posio, tempo, nmero, etc.). Uma possvel classificao est ilustrada na
figura 2.1.
4
Figura 2.1 Classificao dos Sistemas de Controle.
2.3 Realimentao
O controle de um processo baseado em realimentao alcanado pela realizao de trs
operaes bsicas: medio da varivel controlada; comparao da varivel controlada com o valor
desejado e ao corretiva.
Figura 2.2 Sistema de Controle com Realimentao.
Vrios sistemas de controle no possuem a etapa de realimentao, estes so denominados
controle em malha aberta, neste caso o controlador no recebe a informao da varivel controlada e,
CONTROLE
CONTNUO DISCRETO
LINEAR NO-LINEAR CONDICIONAL SEQENCIAL
BOOLEANO SISTEMAS
ESPECIALISTAS
TEMPORAL BASEADOS EM
EVENTOS
Ex. PID Ex. Fuzzy
Ex. Timers
Ex. Contadores
HBRIDO
CONTROLADOR
PROCESSO ATUADOR
TRANSMISSOR
SENSOR
Setpoint
desvio
correo
varivel
manipulada
varivel
controlada
realimentao
+
-
5
portanto, no pode corrigir automaticamente eventuais desvios em relao ao valor desejado. O seu
desempenho depende de uma pr-sintonia.
Num sistema de controle em malha fechada (Fig. 2.3, 2.4) o controlador dever ser capaz de
realizar a comparao do valor medido da varivel controlada com o valor desejado, os clculos
necessrios para corrigir este desvio e a ao corretiva no processo para que a sada volte ao setpoint.
Figura 2.3 Sistema de Controle de Temperatura.
Figura 2.4 Sistema de Controle de Nvel.
6
3. MEDIO DE VARIVEIS DO PROCESSO
A medio das variveis envolvidas no processo uma etapa fundamental em qualquer sistema
de controle afinal no se pode controlar aquilo que no se pode medir, mesmo que, s vezes, esta
medio ocorra de forma indireta. A preciso de um sistema de controle nunca ser maior que a de seu
sistema de medio.
3.1 Definies
Faixa de medida (range) faixa de valores compreendida entre os limites inferior e superior
da capacidade de medio do instrumento.
Alcance (span) diferena algbrica entre os valores superior e inferior do range.
Erro diferena entre o valor lido pelo instrumento e o valor real da varivel.
Preciso limite de erro de medio do instrumento.
Sensibilidade valor mnimo de mudana na varivel detectvel pelo instrumento.
Zona morta (dead zone) faixa de valores da varivel que no provoca variao da indicao
ou sinal de sada do instrumento.
Repetibilidade capacidade de reproduo da indicao, ao se medir, repetidamente, valores
idnticos de uma varivel .
Histerese diferena observada entre a medio de uma varivel quando esta percorre a escala
no sentido crescente e no decrescente.
Elevao de zero quantidade com que o zero da varivel supera o valor inferior do range.
Supresso de zero quantidade com que o valor inferior do range supera o zero da varivel.
Tempo morto (dead time) atraso verificado entre a ocorrncia de uma alterao na varivel
e a sua percepo pelo instrumento, tambm chamado de atraso de transporte.
3.2 Simbologia
A padronizao de simbologia segundo a ISA (The Instrumentation, Systems and Automation
Society) estabelece atravs da norma ISA S 5.1 (Instrumentation, Symbols and Identification) que cada
instrumento dever ser identificado por um conjunto de letras e algarismos (Tabela 3.1). A primeira
letra indica a varivel medida / controlada e as subseqentes indicam a funo desempenhada pelo
instrumento. O primeiro conjunto de algarismos indica a rea / fbrica e o segundo indica a malha ou
funo programada a qual o instrumento pertence.
Medir uma varivel equivale a comparar a quantidade envolvida da grandeza
associada a esta varivel, com uma quantidade padro previamente estabelecida.
7
Tabela 3.1 Letras de Identificao da Instrumentao.
1 Grupo de Letras 2 Grupo de Letras
Varivel Medida Funo Letra
1 Letra Modificadora Passiva Ativa Modificadora
A Anlise Alarme
B Chama
C Condutividade Controlador
D Densidade Diferencial
E Tenso Sensor
F Vazo Razo
G Livre Escolha Viso Direta
H Manual Alto
I Corrente Eltrica Indicador
J Potncia Varredura ou
Seleo Manual
K Tempo Taxa de Variao Estao de
Controle
L Nvel Lmpada Piloto Baixo
M Umidade Instantneo Mdio
N Livre Escolha
O Livre Escolha Orifcio
P Presso Conexo para
Ponto de Teste
Q Quantidade Totalizao
R Radiao Registrador
S Velocidade ou
Freqncia
Segurana Chave
T Temperatura Transmissor
U Multivarivel Multifuno
V Vibrao Vlvula
W Peso ou Fora Ponta de Prova
X No Classificada Eixo dos X No Classificada No Classif. No Classif.
Y Estado, Presena
ou Seqncia de
Eventos
Eixo dos Y Rel,
Conversor,
Solenide
Z Posio ou
Dimenso
Eixo dos Z Acionador,
Atuador no
Classificado
Exemplos:
a) TRC-210-02A
T - varivel medida: Temperatura
R - Funo Passiva: Registrador
C - Funo Ativa: Controlador
210 - rea da fbrica onde o instrumento atua
02 - Nmero da malha de controle
A - Sufixo
b) LIC-210-02
c) TE-110-01B
d) FT-110-03
8
Tabela 3.2 Simbologia Geral para Instrumentos ou Funes Programadas.
Tipo /
Localizao
Locao principal
acessvel ao
operador
Montado no
campo
Locao auxiliar
acessvel ao
operador
Locao auxiliar
no acessvel ao
operador
Instrumentos
discretos
Instrumentos
compartilhados
Computador
de processo
Controlador
programvel
Tabela 3.3 Simbologia e Funes de Processamento de Sinais.
9
Tabela 3.4 Simbologia de Linhas para Instrumentos.
Exemplos:
Figura 3.1 Exemplo 1 de Simbologia.
10
Figura 3.2 Exemplo 2 de Simbologia.
Figura 3.3 Exemplo 3 de Simbologia.
11
3.3 Medio de Temperatura
3.3.1 Conceitos
Temperatura o grau de agitao molecular de um corpo;
Energia Trmica o somatrio de energia cintica das molculas do corpo;
Calor Energia trmica em trnsito, desloca-se, normalmente, do corpo mais quente ao corpo mais frio.
3.3.2 Escalas Termomtricas
a) Celsius (C): divide o intervalo de temperatura em 100 partes ou graus, sendo o 0C o ponto de
congelamento da gua e 100C o ponto de ebulio;
b) Fahrenheit (F): divide o intervalo de temperatura, em 180 partes, ou graus, sendo 32F o ponto de
congelamento da gua e 212F o ponto de ebulio;
c) Kelvin (K): define uma escala absoluta de temperatura, sendo o zero absoluto (0K) a temperatura
terica mais baixa, ou seja, aquela em que cessa todo o movimento molecular e, portanto, no existe
mais calor;
d) Rankine (R): divide a escala de temperatura semelhante a Fahrenheit, e 491,7R equivale
temperatura de congelamento da gua e 671,7R a temperatura de ebulio da gua.
Figura 3.4 Equivalncia entre as Escalas.
32 273 491
5 9 5 9
C F K R
T T T T
= = =
12
3.3.3 Termmetro de Lquido com Bulbo de Vidro
Este termmetro possui um bulbo com um lquido que ao submeter-se a
variaes de temperatura desloca-se em um tubo capilar graduado.
Caractersticas:
Compartimentos cobertos ou fechados e nos quais a leitura local;
Apresenta erros de at 1% de escala;
Possui tempo de resposta elevado;
Aplicados na faixa de -150C a 350C.
Apesar de tradicionalmente encontrar aplicao em termmetros clnicos e para laboratrios, a
sua aplicao industrial possvel utilizando proteo para aumentar sua robustez.
3.3.4 Termmetro Bimetlico
O termmetro bimetlico consiste em duas lminas de metais com
coeficientes de dilatao diferentes sobrepostas, formando uma s pea.
Variando-se a temperatura do conjunto, observa-se um encurvamento que
proporcional temperatura. Na prtica, a lmina bimetlica enrolada em
forma de espiral ou hlice, o que aumenta bastante a sensibilidade.
Normalmente utiliza-se o invar (64% Fe e 36% Ni) com baixo
coeficiente de dilatao e o lato como metal de alto coeficiente de dilatao.
Caractersticas:
Baixo custo;
Leitura apenas local;
Construo robusta;
Possui tempo de resposta elevado;
Aplicados na faixa de -50C a 500C
Alm de sua aplicao na medio de temperatura, elementos
bimetlicos so utilizados, tambm, na construo de termostatos e dispositivos de proteo.
3.3.5 Termmetro Bulbo-Capilar
Neste termmetro, um fluido preenche todo o recipiente e
sob o efeito de um aumento de temperatura se dilata, deformando
um elemento extensvel (sensor volumtrico).
So classificados pela ISA em quatro classes bsicas:
Classe I: cheio de lquido voltil (-100C a +300C);
Classe II: cheio de vapor (-200C a +300C);
Classe III: cheio de gs (-260C a +760C);
Classe V: cheio de mercrio (-40C a 600C).
13
Alm da indicao complementar da faixa de operao em relao temperatura ambiente:
A: apenas temperaturas acima da faixa ambiente;
B: apenas temperaturas abaixo da faixa ambiente;
C: Temperaturas acima e abaixo da faixa ambiente;
D: Temperaturas acima e abaixo da faixa ambiente incluindo a mesma.
Caractersticas:
Baixo custo;
Robustez;
Pode ser facilmente acoplado a um transmissor;
A deflexo proporcional presso, e esta, temperatura, resultando numa relao linear;
Variaes na temperatura ambiente devem ser compensadas atravs de uma lmina bimetlica.
3.3.6 Termmetros de Resistncia
Materiais condutores possuem resistncia eltrica que variam em funo da temperatura
possibilitando o seu uso como sensor.
a) Bulbo de Resistncia de Fio Metlico
So conhecidos como RTD (Resistance Temperature Detector) podendo ser constitudos de
Platina, Nquel, Cobre, Balco (70% Ni, 30% Fe).
Figura 3.8 Construo tpica de um RTD.
As termoresistncias so, normalmente, ligadas a um circuito de medio tipo Ponte de
Wheatstone, sendo que o circuito encontra-se balanceado quando respeitada a relao R
4
.R
2
=R
3
.R
1
,neste caso os potenciais nos pontos A e B so iguais.
Figura 3.9 Ligao de um RTD em Ponto de Wheatstone.
14
Termoresistncia - Pt100: constitudo de Platina e possui uma resistncia padronizada de 100 ohms
a 0
o
C apresentando boas caractersticas de estabilidade, repetibilidade e preciso, alm de uma ampla
faixa de medio (-250
o
C a +850
o
C).
Figura 3.9 Classes de preciso para o Pt100.
b) Termistores
Termistores (resistores termicamente sensveis) so dispositivos semicondutores fabricados a
partir de xido de Nquel, Mangans, Cobalto, Ferro e Titnio apresentando grandes variaes da
resistncia com a temperatura. Esta variao poder ser negativa: NTC (Negative Thermal Coefficient),
ou positiva: PTC (Positive Thermal Coefficient) com aplicao entre -100
o
C e +300
o
C
Podem ser encontrados no mercado modelos de baixa preciso (5 a 10%) para uso como
proteo ou de alta preciso (0,05
o
C) para uso em medio.
Figura 3.9 Comparao entre sensores de temperatura resistivos.
15
Tabela 3.5 Resistncia x temperatura para alguns metais.
3.3.7 Termopar
um dos dispositivos mais simples de medio eltrica de temperatura.
Basicamente, consiste em um par de condutores metlicos diferentes ligados em uma
extremidade, formando a juno quente ou de deteco e na outra extremidade, formando a chamada
juno fria ou juno de referncia conectada a um instrumento de medio eltrica, como um
milivoltmetro ou a um circuito.
A f.e.m. medida normalmente comparada a alguma referncia, tal como o ponto de congelamento.
So utilizados para medies em processos de altas temperaturas (200C 1000C) e que exigem
respostas rpidas.
Funcionamento
O sistema de medio consiste em manter a temperatura
da juno de referncia constante, resultando na no
variao da voltagem.
Alterando a temperatura da juno quente do termopar
haver uma diferena de temperatura entre as junes, que
provocar uma corrente fluir no circuito, devido s duas
f.e.m. geradas nas junes, ou seja, aumentar a voltagem.
A f.e.m. resultante medida em um milivoltmetro, ou
num potencimetro, e convertido em graus de temperatura
Em aplicaes nas quais so usadas grandes presses, os
tubos de proteo so geralmente construdos em pea
nica perfurada, ou so montados, soldando-se um tubo,
uma bucha e uma cabea sextavada
Quando um termopar usado em conjunto com um milivoltmetro ou potencimetro, que mede a
f.e.m. gerada e indica ou registra esta f.e.m. em termos de temperatura, temos um pirmetro a termopar
Efeito Seebeck: Em um circuito fechado, formado por dois condutores
diferentes A e B, ocorre uma circulao de corrente enquanto existir uma
diferena de temperatura T entre as suas junes.
16
3.3.8 Pirmetros - tico, infra-vermelho
3.4 Medio de Nvel
A medio de nvel na indstria pode ser feita tanto de lquidos como slidos e pode ser feita
em unidade de comprimento linear (cm, m), em unidade de volume (L, galo), ou ainda, em unidades
de massa (kg, ton, lb).
3.4.1 Sonda
Normalmente feita de uma vara, haste ou fita mtrica metlica
graduadas que podem ser inseridas no tanque ou reservatrio; a
verdadeira profundidade (altura) do material dada pela poro molhada
na sonda.
3.4.2 Visor de Nvel
Indicado para uma leitura local do nvel pode no representar o verdadeiro nvel do fluido
quando este for muito baixo. Deve ser instalado em local que permita uma boa visibilidade por parte
do operador. Tcnica no recomendada para fluidos viscosos ou corrosivos ao vidro.
a) Visor de vidro tubular: recomendados para presses de at 2 bar e temperaturas de at 100C.
b) Visor de vidro plano: Mais empregado atualmente por questes de segurana.
17
3.4.3 Flutuador
Seu funcionamento se baseia no princpio do empuxo.
O flutuador pode ser utilizado mesmo na ocorrncia de grandes variaes de nvel sofrendo
pouca influncia da variao de densidade do fluido, sua aplicao, no entanto, no recomendvel para
fluidos sujeitos a grande agitao.
3.4.4 Medidor de Nvel Baseado na Presso
Seu funcionamento se baseia que a presso no fundo do reservatrio proporcional
quantidade de lquido no seu interior. Este sistema recomendado para lquidos limpos, pouco
viscosos e pouco corrosivos.
Princpio de Arquimedes: "o corpo imerso no fluido recebe uma fora
vertical, de baixo para cima, igual ao peso do fluido deslocado".
18
a) Medidor de Diafragma - Este medidor se baseia na presso hidrosttica, apresenta uma construo
simples sendo recomendado para tanques abertos. Apresenta limitaes na faixa de nvel e temperatura.
b) Medidor por Presso Diferencial - empregado para medir nvel em tanques fechados. Neste
caso, a presso acima do lquido deve ser compensada. O instrumento diferencial de presso
conectado nos pontos de nvel mximo e mnimo do tanque. O instrumento mede a diferena de
presso entre estes pontos que representa aquela produzida pela quantidade de fluido presente.
c) Por Borbulhamento - Neste sistema o nvel determinado em funo da presso necessria para
provocar borbulhamento do lquido. Utilizado em tanques abertos para lquidos que apresentem
densidade constante.
3.4.5 Medidor de Nvel Baseado nas Propriedades Eltricas
a) Medidor por Condutividade - Aplicado em fluidos condutores, apresenta fcil manuteno e baixo
custo. Funciona baseado no circuito formado entre as paredes do reservatrio e o lquido condutor,
estes so interligados por eletrodos de forma a determinar se o nvel atinge determinadas posies
mantendo, assim, o circuito aberto ou fechado.
19
b) Medidor Capacitivo - Aplicado para materiais isolantes, funciona baseado na variao da
capacitncia do reservatrio onde o fluido ou gro atua como dieltrico.
3.4.5 Medidor de Nvel Baseado em outras Propriedades
Empregados quando o fluido possui caractersticas que dificultem a aplicao de outros
sistemas de menor custo como, por exemplo, elevadas temperaturas, fluidos corrosivos, alta
viscosidade, risco de contaminao, etc.
a) Medidor por Ultra-som - O nvel medido levando em conta a velocidade com que o sinal sonoro
atravessa o material no interior do reservatrio. Normalmente se utiliza um sinal de 26,5kHz.
b) Medidor por Radiao - Este instrumento utiliza raios gama e seu princpio de funcionamento
semelhante ao baseado em ultra-som, apresentando, no entanto, maior preciso sendo, por isso,
recomendado para a medio contnua de nvel.
20
3.5 Medio de Presso
3.5.1 Definies
a) Presso Atmosfrica - Equivale presso produzida pela camada do ar atmosfrico (cerca de 80
km) medida em um barmetro. Como a camada de ar est em constante movimentao e sujeita a
mudanas de temperaturas esta presso pode apresentar grandes variaes (altitude, ventos,
temperatura).
Seu valor ao nvel do mar equivale, aproximadamente a 1,033kg/cm
2
=760mmHg
Outras unidades de presso: 1 bar =10
5
Pa =1,020 kg/cm
2
=750 mmHg =14,50 psi
b) Presso Manomtrica ou Relativa - a presso medida em relao presso atmosfrica, tomada
como unidade de referncia, ou seja, a presso indicada por um manmetro.
c) Presses Absoluta - a soma das presses relativa e atmosfrica.
d) Vcuo quando um sistema tem presso relativa menor que a presso atmosfrica. O instrumento
que indica a presso negativa denominado de vacumetro.
21
22
23
3.6 Medio de Vazo
A vazo ou fluxo representa a quantidade de um fluido a se deslocar num determinado
intervalo de tempo. Pode ser utilizada a vazo volumtrica, quantidade em termos de volume - m
3
/h,
L/min, GPM ou a vazo mssica (gravimtrica), quantidade em termos de massa - kg/h, lb/min.
3.6.1 Baseada em Presso Diferencial
Os medidores de presso diferencial caracterizam-se por possuir uma restrio na linha de
fluxo. J unto restrio haver um aumento da velocidade do fluido e, conseqentemente, uma queda
de presso. Esta queda de presso varia com a quantidade de fluido que escoa pelo tubo. A vazo do
fluido proporcional raiz quadrada da diferena de presso medida.
a) Placa de Orifcio
A placa de orifcio o dispositivo mais utilizado na medio de vazo, devido sua
simplicidade, baixo custo de fabricao e instalao. Tambm produz a mais elevada perda de carga,
mas na maioria das medies esta perda no tem muita importncia.
24
b) Pitot
c) Bocal de Fluxo
d) Venturi
3.6.2 Dispositivos de rea Varivel
a) Rotmetro
Um rotmetro um medidor que possui um flutuador colocado dentro de um tubo varivel. A
extremidade de dimetro menor est na parte inferior e a entrada do fluido. A folga ou o espao anular,
que fica entre o dimetro interno do tubo e o flutuador e que aumenta na extenso do tubo, forma um
orifcio de rea varivel. O flutuador alcana uma posio de equilbrio que proporcional ao escoamento
quando a fora ascendente do fluido, passando pelo espao anular, torna-se igual ao peso do flutuador.
A vazo pode ser lida diretamente da posio do flutuador no fluido, em
uma escala graduada no prprio tubo, ou ao lado dele. O movimento do
flutuador pode tambm ser transferido por meio de uma extenso a um sistema
que atua em um ponteiro indicador, um registrador ou um transmissor
pneumtico ou eltrico. Os flutuadores so de metais duros e resistentes
corroso, como ao inoxidvel, liga hastelloy, ou monel e nquel e apresentam
vrios formatos e caractersticas de vazo. Os rotmetros podem medir vazes
entre 0,08 mm/min. at enormes quantidades, como 23 m
3
/min. A perda de presso constante e pequena.
25
b) Cilindro e Pisto
3.6.3 Medidores Volumtricos
Estes medidores se baseiam na medio do volume do fluido que passa atravs do mesmo.
a) Disco Nutante
Nesse tipo de medidor certo volume predeterminado deslocado continuamente pelo
movimento rotativo do disco, cujo centro uma esfera. O nmero de rotaes do disco contado por
meio de uma srie de engrenagens e indica a quantidade de lquido deslocada de montante para
jusante. Trata-se, pois, de um integrador de vazo, sendo apropriado para medir vazes no muito
grandes de lquidos limpos. Emprega-se com tubulaes de 1/2 at 4, para vazes de 0,2 at
100m
3
/h, com a preciso de 1%.
b) Turbina
Um medidor de vazo de turbina consiste, basicamente, em um rotor provido de palhetas, com
seu eixo de rotao paralelo direo do fluxo. O rotor acionado pela passagem dos fluidos sobre as
palhetas em ngulo; a velocidade angular do rotor proporcional velocidade do fluido que, por sua
vez, proporcional vazo do volume. Uma bobina sensora na parte externa do corpo do medidor,
detecta o movimento do rotor.
Em razo de seu alto desempenho, os medidores DP so muito usados na medio de vazo de
leo combustvel e outros produtos base de hidrocarbonetos em tubos de pequenos dimetros. Por
26
dispensar uma fonte de energia auxiliar, adequado para aplicaes em veculos tanque. A limitao
bsica de um medidor de deslocamento positivo so suas peas mveis com folgas restritas, limitando
seu uso aos lquidos limpos e necessitando manuteno constante. Tambm limitada a escolha de
materiais adequados, restringindo a sua resistncia corroso e limitao quanto temperatura e
presso elevadas.
c) Rotor
3.6.4 Instrumento Eletromagntico
Esses medidores so os nicos que no tm obstrues de qualquer espcie no percurso do
lquido. Portanto, a perda de carga quase nula. Por este motivo
constituem os elementos primrios ideais para medidas de vazes de
lquidos viscosos ou com slidos em suspenso. A nica condio
que o lquido tenha uma condutividade eltrica acima de um certo
mnimo.
O funcionamento destes medidores baseia-se no fenmeno
da induo eletromagntica. Um condutor eltrico, movendo-se com
a velocidade V, perpendicularmente a um campo magntico de
induo B, produz uma f.e.m. O condutor em movimento o prprio lquido o qual circula num tubo
de medida e no-magntico, com o mesmo dimetro da tubulao externa. O tubo de medida
27
normalmente constitudo por ao inoxidvel. Os materiais do forro interior e os eletrodos so
escolhidos em funo do fluido a medir. H dois eletrodos implantados no tubo de medida que fazem
contato com o lquido. Perpendicularmente linha dos eletrodos, aplicado um campo magntico
produzido por duas bobinas exteriores ao tubo de medida.
3.6.5 Instrumento Ultra-Snico
Um feixe de ondas sonoras estreito (na faixa
acstica ou na ultra-snica) lanado atravs de um
fluido em movimento sofre um efeito de
arrastamento. Na forma mais simples, constitudo
por um transdutor transmissor de ultra-sons (TT) e
por um transdutor receptor (TR).
A onda ultra-snica, enviada em pulsaes,
atravessa o fluido duas vezes, aps reflexo na parede
oposta. Como a onda arrastada pelo movimento do
lquido, o percurso total e a atenuao da onda dependem da velocidade do fluido. Este tipo de
medidor tem uma preciso melhor que a placa de orifcios e no introduz qualquer obstruo,
identicamente ao medidor eletromagntico. Serve, pois, para lquidos viscosos e pastosos ou perigosos
(alta presso, corrosivos, radioativos). Necessita de uma correo automtica de temperatura por meio
de um termistor porque a velocidade do som alterada em funo da temperatura.
4. CONTROLADORES LGICOS PROGRAMVEIS (C.L.P.)
Um controlador lgico programvel um dispositivo fsico eletrnico, baseado num
microprocessador, dotado de memria programvel capaz de armazenar programas implementados por
um usurio com o objetivo de, baseado no estado de suas entradas, determinar o estado das sadas de
forma a controlar um determinado processo.
Controlador Lgico Programvel
ABNT (Associao Brasileira de Normas Tcnicas): um equipamento eletrnico digital
com hardware e software compatveis com aplicaes industriais.
NEMA (National Electrical Manufactures Association): um aparelho eletrnico digital
que utiliza uma memria programvel para armazenar internamente instrues e para
implementar funes especficas, tais como lgica, seqenciamento, temporizao,
contagem e aritmtica, controlando, por meio de mdulos de entradas e sadas, vrios
tipos de mquinas ou processos.
28
4.1 Histrico
Concebido originalmente para a linha de montagem da General Motors em 1968 para substituir
os painis de controle a rel, estes painis possuam pouca flexibilidade sendo necessria sua
reconstruo a cada modificao do projeto. Como estas modificaes ocorriam de maneira freqente,
os CLP foram concebidos com o principal objetivo de facilitar e desonerar e reduzir a manuteno das
linhas de produo. O primeiro controlador que atendia a estas especificaes foi construdo em 1969
pela Gould Modicon (Modular Digital Controller), em 1971 sua aplicao foi ampliada a outras
indstrias e, em 1973 surgiu o primeiro sistema de comunicao que permitia que os CLP trocassem
informao entre si e, j em 1975 passou a incorporar o controle PID (Proporcional - Integral -
Derivativo). At 1977 os CLP eram implementados com componentes eletrnicos discretos, somente a
partir de ento passando a serem confeccionados a partir de microprocessadores. Com a evoluo dos
microprocessadores ocorreu o aumento da capacidade de processamento e de memria dos CLP que
passaram a se tornar atrativos, alm de todos os campos de atividade industrial, tambm, a rea de
automao predial atuando no controle de climatizao, alarmes, iluminao. As atuais geraes de
controladores possuem funes avanadas de controle, disponibilidade de grande nmero de entradas e
sadas, alm de uma grande facilidade de comunicao com sistemas supervisrios e sensores e
atuadores inteligentes.
4.2 Caractersticas
Os CLP surgiram em substituio de sistemas convencionais baseados em rels e, em relao a
estes sistemas apresenta as seguistes caractersticas:
Ocupa menor espao;
Requer menor potncia eltrica;
Permite sua fcil reutilizao;
programvel, permitindo a alterao dos parmetros de controle;
Apresenta maior confiabilidade;
Sua manuteno mais fcil e rpida;
Oferece maior flexibilidade;
Apresenta interface de comunicao com outros CLP e computadores;
Permite maior rapidez na elaborao do projeto do sistema.
4.3 Principais Fabricantes
Atualmente um grande nmero de fabricantes atua na confeco de CLP, disponibilizando ao
usurio softwares avanados de programao alm de simuladores.
29
Tabela 3.1 Fabricantes de CLP.
Principais Fabricantes de Controladores
4.4 Constituio
Os CLP so constitudos basicamente por uma fonte de alimentao, uma Unidade Central de
Processamento (Central of Processing Unit - CPU), alm de mdulos de entrada e sada. A CPU
onde so realizados todos os clculos necessrios obteno dos valores necessrios s sadas, com
base nas entradas lida, determinados pelo programa armazenado na memria (Fig. 3.1).
30
Figura 3.1 Estrutura Bsica de um CLP.
O CLP possui, eventualmente, um dispositivo programador que, em geral, pode ser substitudo
por um computador ou ainda podendo ser integrado ao controlador atravs de uma IHM (Interface
Homem-Mquina) que possibilita o envio ou edio de programas, modificao de parmetros de
sintonia ou mesmo consulta aos valores de variveis do processo.
A CPU o elemento principal do controlador, responsvel tanto pela execuo dos programas
do usurio quanto pelas funes associadas ao endereamento de memria, operaes aritmticas e
lgicas e relgio.
A memria o dispositivo responsvel pela armazenagem de dados e programas utilizados
durante o funcionamento do CLP.
O mdulo de Entrada / Sada (I/O - Input / Output) corresponde conexo do controlador aos
sensores e atuadores do processo. As entradas podem ser do tipo digitais (variveis discretas) - rels,
botes ou analgicas (variveis contnuas) - velocidade, temperatura. As sadas da mesma forma
podem ser digitais - lmpadas, contactores ou analgicas - servovlvula, conversor de freqncia.
A figura 3.2 ilustra algumas entradas e sadas tpicas de um CLP bem como a utilizao de uma
IHM e de um microcomputador como dispositivo de programao.
CPU Fonte Memria
Mdulos de Entrada / Sada
Programador
Entradas
Analgicas / Digitais
Sadas
Analgicas / Digitais
31
Figura 3.2 Possveis Entradas e Sadas de um CLP.
As entradas e sadas discretas apresentam dois nveis lgicos: 0 ou 1, ligado ou desligado
enquanto que as entradas e sadas analgicas apresentam sinais contnuos que so padronizados para
trabalhar numa faixa, normalmente, 4 a 20mA (corrente) ou 0 a 10V (tenso).
4.5 Funcionamento
Um controlador pode assumir o modo de espera quando est sendo programado ou
parametrizado, estado de operao quando est executando um programa ou estado de erro se ocorre
alguma falha no controlador (Fig. 3.3).
Conversor de
Freqncia
IHM
Chave
Fim-de-Curso
Vlvula
Rel
Lmpada de
Sinalizao
Sensor de
Temperatura
Sensor
de Nvel
Entradas
Analgicas
Entradas
Digitais
Sadas
Analgicas
Sadas
Digitais
CLP
Computador
Programao
Botoeira
32
Figura 3.3 Modos de um CLP.
Quando est no estado de execuo, um CLP trabalha em loop executanto, a cada ciclo de
varredura, cuja durao da ordem de mili-segundos, uma srie de instrues referentes aos programas
presentes em sua memria como ilustra a figura 3.4.
Figura 3.4 Ciclo de Varredura de um CLP.
4.6 Programao
A grande responsvel pela flexibilidade de um CLP a sua capacidade de ser programado, seja
atravs de um dispositivo IHM ou de um microcomputador. Os softwares atualmente existentes
apresentam uma srie de facilidades no processo de programao e testes do programa possibilitando,
Espera
Execuo Erro
comando reset
falha
Inicializao
Leitura das entradas
Executa o programa
Atualizao das sadas
33
inclusive, a realizao de simulaes, foramento de entradas alm de uma srie de ferramentas
avanadas de edio.
3.6.1 Linguagens de Programao
Com a evoluo dos CLP surgiram, ao longo dos anos, diversas linguagens de programao
possibilitando a confeco de programas cada vez mais complexos e melhor estruturados.
A norma internacional IEC-11313 define quatro linguagens de programao para CLP, sendo duas
textuais e duas grficas:
Textuais:
Lista de Instrues, IL (Instruction List)
Texto Estruturado, ST (Structured Text)
Grficas:
Diagrama Ladder, LD (Ladder Diagram)
Diagrama de Blocos Funcionais, FBD (Function Block Diagram)
Lista de Instrues
LD A
ANDN B
ST C
Texto Estruturado
C = A AND NOT B
Diagrama de Blocos Funcionais
Diagrama Ladder
Figura 3.5 Linguagens de Programao.
A figura 3.5 ilustra uma mesma lgica de programa representada pelas quatro linguagens. A
seleo da linguagem de programao a ser empregada depende:
da formao do programador;
do problema a resolver;
do nvel da descrio do problema;
da estrutura do sistema de controle;
da interface com outras pessoas / departamentos.
Ladder tem sua origem nos EUA. baseada na representao grfica da lgica de rels.
Lista de Instrues de origem europia, uma linguagem textual, se assemelha ao assembler.
A B C
A
B
C
AND
34
Blocos Funcionais muito usada na indstria de processos. Expressa o comportamento de
funes, blocos funcionais e programas como um conjunto de blocos grficos interligados, como nos
diagramas de circuitos eletrnicos. Se parece com um sistema em termos do fluxo de sinais entre
elementos de processamento.
Texto Estruturado uma linguagem de alto nvel muito poderosa, com origem em Ada,
Pascal e C. Contm todos os elementos essenciais de uma linguagem de programao moderna,
incluindo condicionais (IF-THEN-ELSE e CASE OF) e iteraes (FOR, WHILE e REPEAT). Estes
elementos tambm podem ser aninhados. Esta linguagem excelente para a definio de blocos
funcionais complexos, os quais podem ser usados em qualquer outra linguagem IEC.
3.6.2 Linguagem de Diagramas de Contados (ladder)
Esta a linguagem favorita dos tcnicos com formao na rea industrial por mais se
assemelhar aos circuitos de rels, consiste numa linguagem bastante intuitiva de fcil interpretao
apresentando, no entanto, limitaes para sua utilizao em programas extensos ou com lgicas mais
complexas.
Tabela 3.2 Comandos Bsicos da Linguagem Ladder.
Smbolo Descrio
Contato Normalmente Aberto (NA): pode estar associado a uma entrada
digital do controlador ou mesmo a um contato auxiliar, no caso de ser
uma entrada (p.ex. NA de uma botoeira) ser acionado modificando o seu
estado sempre que esta entrada for acionada. Da mesma forma, se for um
contato auxiliar, ser acionado sempre que a bobina associada a esta
varivel for energizada.
Contato Normalmente Fechado (NF): da mesma forma que o NA , pode
estar associado a uma entrada digital ou a um contato auxiliar.
Bobina Simples (BOB): sempre que for acionada altera o estado de
todos os elementos associados a ela, abrindo contatos fechados e
fechando os abertos, atua enquanto for mantida a energizao.
Bobina Liga (BBL): sempre que for acionada altera o estado de todos os
elementos associados a ela, abrindo contatos fechados e fechando os
abertos.
Bobina Desliga (BBD): sempre que for acionada fora o retorno ao
estado original de todos os elementos associados a ela.
Temporizador na Energizao (TEE): Realiza contagem de tempo com
a energizao de suas entradas. O operando Op1 a memria
acumuladora de tempo e Op2 o tempo limite (dcimos de segundo).
Sempre que as entradas Libera e Ativa estiverem energizadas comea a
contagem. Se Libera for desenergizada a contagem interrompida e se
Ativa for desenergizada Op1 zerado. Quando a contagem de Op1
atingir o limite de Op2 a sada energizada.
L
D
sada
TEE
Op1
Op2
Libera
Ativa sada
35
Temporizador na Desenergizao (TED): Semelhante ao TEE, realiza
contagem de tempo, porm, com a energizao de sua entrada Bloqueia.
Se Bloqueia for energizada a contagem interrompida e se Ativa for
desenergizada Op1 zerado.
Contador Simples (CON): Realiza contagens simples, uma unidade a
cada acionamento. O operando Op1 a memria acumuladora unidades e
Op2 o nmero limite. Sempre que as entradas Incrementa e Ativa
estiverem energizadas comea a contagem. Se Ativa for desenergizada
Op1 zerado. Quando Op1 =Op2, a sada acionada.
Na representao ladder existe uma linha vertical de energizao a esquerda e outra linha a
direita. Entre estas duas linhas existe a matriz de programao formada por xy clulas, dispostas em x
linhas e y colunas. Cada conjunto de clulas chamado de uma lgica do programa aplicativo. As duas
linhas laterais da lgica representam barras de energia entre as quais so colocadas as instrues a
serem executadas. As instrues podem ser contatos, bobinas, temporizadores, etc.
A lgica deve ser programada de forma que as instrues sejam energizadas a partir de um
caminho de corrente entre as duas barras, atravs de contatos ou blocos de funes interligados.
Entretanto, o fluxo de corrente eltrica simulado em uma lgica flui somente no sentido da barra da
esquerda para a direita, diferentemente dos esquemas eltricos reais. As clulas so processadas em
colunas, iniciando pela clula esquerda superior e terminando pela clula direita inferior.
Cada clula pode ser ocupada por uma conexo (fio), por um bloco (rel de tempo, operao
aritmtica,etc), ou ainda por um contato ou bobina. Alm disso, existem algumas regras impostas na
linguagem Ladder. Por exemplo, as bobinas devem ocupar somente a ltima coluna a direita.Abaixo
temos a ordem de execuo das clulas em uma lgica Ladder. Note que o programa aplicativo pode
ser composto de vrias lgicas Ladder. Alm disso, um mdulo de configurao permite especificar
parmetros do CLP, como modelo, velocidade de ciclo, endereo do CLP na rede de comunicao, etc.
Figura 3.6 Clulas de um Lgica Ladder.
sada
CON
Op1
Op2
Increm.
Ativa sada
sada
TED
Op1
Op2
Bloqueia
Ativa sada
1 5 9 13 17 21 25 29
2 6 10 14 18 22 26 30
3 7 11 15 19 23 27 31
4 8 12 16 20 24 28 32
36
4.7 Aplicaes
Embora sejam bastante variadas as aplicaes dos CLP que podem ser representadas facilmente
atravs da linguagem Ladder, as de representao mais direta so aquelas relacionadas ao acionamento
de mquinas eltricas atravs de circuitos de comando e fora.
3.7.1 Exemplos de Programas Ladder
a) Partida Direta de um Motor
O programa representado na figura 3.7 corresponde ao acionamento de um motor atravs de
uma botoeira, a entrada do controlador corresponde aos comandos LIGA, contato NA do boto On da
botoeira, e DESLIGA, contato NF do boto Off da botoeira. A bobina MOTOR corresponde sada do
controlador que acionar um contactor responsvel pela partida direta do motor.
Figura 3.7 Programa Ladder para Partida de um Motor.
O contato aberto da bobina MOTOR responsvel por realizar a reteno, ou seja, manter a sua
bobina energizada mesmo aps o operador parar de pressionar o boto LIGA.
b) Partida Direta e Reverso de um Motor
A reverso no sentido de rotao de um motor trifsico possvel pela troca de duas das fases
que alimentam este motor conforme ilustrado pelo esquema de fora da figura 3.8.
Figura 3.8 Circuito de Fora para Partida e Reverso.
DESLIGA LIGA MOTOR
MOTOR
37
O programa representado na figura 3.9 ilustra um circuito de partida direta e reverso de um
motor onde o acionamento do contactor C
1
permite a partida direta do motor no sentido horrio e C
2
no
sentido anti-horrio.
Figura 3.9 Programa Ladder para Partida e Reverso de um Motor.
A sada SH do controlador acionar C
1
enquanto que a sada SAH acionar C
2
. Neste caso C
1
e
C
2
nunca podero ser acionados simultaneamente pois isto provocaria um curto-circuito sendo
necessrio, portanto, o intertravamento realizado pelo contato NF de SAH em srie com a bobina SH e
o contato NF SH em srie com a bobina SAH. Tanto a reteno como o intertravamento so realizados
utilizando comandos ladder sem a necessidade do uso dos contatos auxiliares dos contactores.
c) Partida Estrela-Tringulo
Neste caso, a partida do motor d-se na configurao estrela, de forma a minimizar a corrente
de partida e, aps determinado tempo, comuta-se o motor para a configurao tringulo que
corresponde ao regime normal de trabalho do motor.
Figura 3.10 Esquemas de Ligao de um Motor Trifsico.
DESLIGA LIGA SH SH
SH
LIGA SAH
SAH
DESLIGA SAH
SAH
SH
38
So utilizados trs contactores: C
1
que alimenta as pontas 1, 2 e 3 do motor com as trs fases R,
S e T, respectivamente; C
2
que alimenta com a mesma sequncia as pontas 6, 4 e 5 e; C
3
que interliga
as pontas 4, 5 e 6. Desta forma a ligao simultnea de C
1
e C
3
corresponde a configurao estrela,
enquanto que a ligao de C
1
e C
2
equivale a configurao tringulo (Fig. 3.11).
Figura 3.11 Circuito de Fora da Partida Estrela-Tringulo.
O diagrama ladder ilustrado na figura 3.12 representa a partida estrela-tringulo de um motor
onde o tempo ajustado para 5,0 segundos.
Figura 3.12 Programa Ladder para Partida Estrela-Tringulo.
possvel observar, uma vez mais, as aes de reteno (C
1
) e intertravamento (evitando que
C
2
e C
3
sejam acionados simultaneamente).
3.7.2 Exerccios
a) Elabore um programa Ladder de partida/parada de um motor, semelhante ao representado na figura
3.7 porm, desta vez, sem a necessidade do uso de reteno.
DESLIGA LIGA C1
C1
C2
TEE
M0
K50
TEE
M1
K02
C3
C3 C2
C1
39
b) Elabore um programa para controlar o nvel no tanque ilustrado na figura 3.13 de maneira que o
operador possa ser capaz de selecionar o modo se funcionamento: AUTOMTICO ou MANUAL. Em
MANUAL, a bomba poder ser ligada pressionando-se o boto LIGA e desligada pressionando-se o
boto DESLIGA. Neste modo, as chaves de nvel no tm nenhuma ao. Em AUTOMTICO a bomba
dgua seja ligada sempre que a chave de NVEL BAIXO for acionada e que seja desligada toda vez que
a chave de NVEL ALTO seja acionada.
Observe o diagrama de estados da bomba dgua representado pela figura 3.14 na elaborao
do programa ladder.
Figura 3.13 Sistema Controle de Nvel.
Figura 3.13 Diagrama de Estados da Bomba.
c) A figura 3.15 mostra um misturador usado para fazer cores personalizadas de tinta. Dois
encanamentos alimentam o tanque, fornecendo dois ingredientes diferentes, enquanto que, um nico
encanamento no fundo do tanque transporta a tinta misturada (produto final). Nessa aplicao o
programa dever controlar a operao de preenchimento, o nvel do tanque, o funcionamento do
misturador e o perodo de aquecimento conforme as seguintes etapas:
1
o
Encher o tanque com o ingrediente 1.
2
o
Encher o tanque com o ingrediente 2.
3
o
controlar o nvel do tanque para o acionamento da chave High-Level.
4
o
Manter o status da bomba se a chave Start est aberta .
5
o
Comear a mistura e o perodo de aquecimento .
6
o
Ligar o motor do misturador e a vlvula de vapor .
7
o
Drenar o tanque da mistura.
8
o
Contar cada perodo.
BOMBA
LIGADA
BOMBA
DESLIGADA
NVEL ALTO
NVEL BAIXO
40
Figura 3.15 Sistema de Mistura de Tintas.
3.7.3 CLP Piccolo
Os controladores programveis da srie Piccolo foram desenvolvidos pela empresa ALTUS
Sistemas de Informtica S.A. para a automao e controle de processos de pequeno e mdio porte,
apresentando dimenses compactas, integram em um nico gabinete plstico: CPU, pontos de entrada
e sada digitais, analgicos, entradas de contagem rpida e canal serial para carga de programas e
conexo rede ALNET I. Os modelos presentes no laboratrio de automao do Colgio Tcnico
Industrial - Prof. Mrio Alquati so o 102/R (sadas a rel) e o 102/T (sadas a transistor) que possuem
14 entradas digitais 24 Vdc, 10 sadas digitais, canal serial RS-232 (Fig. 3.16).
Figura 3.16 Painel Frontal do PL102/R.
A tabela 3.3 apresenta a descrio dos principias elementos do painel do CLP PL102 ilustrados
na figura 3.16
41
Tabela 3.3 Partes Principais do Painel do PL102.
N
O
DESCRIO
1 Sadas digitais a rel / transistor (conforme o modelo)
2 Conector de alimentao
3 Interface Serial
4 LEDs de estado da CPU
5 Entradas digitais 24 Vdc
Manual Anexo
3.7.4 Mastertool
Utilizao
3.7.5 Exemplos de Aplicaes (controle discreto, analgico, exerccios, implementaes)
BIBLIOGRAFIA
[1] ALTUS, Manual de Utilizao - Srie PICCOLO, Ver. D - 2003, Cd. Doc.MU299014, 2003.
[2] ALTUS, MASTERTOOL Manual de Utilizao, Ref. 6203-012.4 Rev. A 05/95, 1995.
[3] ALTUS, Srie PICCOLO Manual de Utilizao, Ref. 6299-014.4 Rev. A 12/95, 1995.
[4] ANTONELLI, P.L. CLP Bsico, 1998.
[5] J ACK, H. Automating Manufacturing Systems with PLCs, verso 4.6, disponvel em
http://claymore.engineer.gvsu.edu/~jackh/books.html, 2004.
[6] KILIAN, Modern Control Technology: Components and Systems, 2 edio, 2003.
[7] MCMILLAN, G.K. e CONSIDINE, D.M., Process/Industrial Instruments and Controls Handbook.5
Edio, Ed. McGraw-Hill, New York, 1999.
[8] NATALE, F. Automao Industrial, Ed. rica, So Paulo, 2000.
[9] RABELO, F. Apostila do Micrologix 1000, CIBA, 2004.
[10] RICHTER, C. Controladores Programveis - Curso de Automao Industrial, DEXTER, 2001.
[11] SILVA FILHO, B.S. Curso de Controladores Lgicos Programveis, LEE-UERJ , Rio de J aneiro,
RJ , 1998.
[12] SOUSA, A.M. e SCHUTTENBERG, R.M.C. Apostila de Laboratrio: Controle de Processos e PLC,
Belo Horizonte - MG, 2 Ed., 2000.
[13] U.S. Department of Energy, Instrumentation and Control Fundamentals Handbook, DOE-
HDBK-1013/1-92, Washington, 1992.
Você também pode gostar
- INTRODUÇÃODocumento9 páginasINTRODUÇÃOPedro Paulo Tavares Julio0% (1)
- Sensores Industriais - Fundamentos e AplicaçõesDocumento19 páginasSensores Industriais - Fundamentos e AplicaçõesRafael MorenoAinda não há avaliações
- Resposta Dos Exercicios - Sensores Industriais - Fundamentos e AplicaçõesDocumento19 páginasResposta Dos Exercicios - Sensores Industriais - Fundamentos e AplicaçõesAntonio Pereira0% (1)
- Ai 104 Automacao CtiDocumento21 páginasAi 104 Automacao CtiGabriel RibeiroAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos de Instrumentação e ControleDocumento160 páginasConceitos Básicos de Instrumentação e ControleRomulo PiresAinda não há avaliações
- Artigo Automacao IndustrialDocumento4 páginasArtigo Automacao IndustrialJandreclAinda não há avaliações
- Aula-Instrumentação e Controle (Cap - 01)Documento38 páginasAula-Instrumentação e Controle (Cap - 01)Irazer LimaAinda não há avaliações
- APOSTILA - ELEMENTOS DE AUTOMAÇÃO - 3o MÓDULO ELETROTÉCNICADocumento85 páginasAPOSTILA - ELEMENTOS DE AUTOMAÇÃO - 3o MÓDULO ELETROTÉCNICAEmerson Santos LealAinda não há avaliações
- Instrumentação e Automação Industrial (Apresentação) Autor Rildo Afonso de AlmeidaDocumento27 páginasInstrumentação e Automação Industrial (Apresentação) Autor Rildo Afonso de AlmeidaRodrigo SilvaAinda não há avaliações
- Instrumentação e Controle de Processos IndustriaisDocumento17 páginasInstrumentação e Controle de Processos IndustriaisRomulo PiresAinda não há avaliações
- Aula 1 - Instrumentação - Controle (Processos, Atuadores e Sensores - Vazão, Nível, Temperatura e Nível)Documento381 páginasAula 1 - Instrumentação - Controle (Processos, Atuadores e Sensores - Vazão, Nível, Temperatura e Nível)Sistemas Mecatrônicos100% (2)
- 1-Instrumentação Básica (Foa 2015)Documento80 páginas1-Instrumentação Básica (Foa 2015)Juliana Alcântara TavaresAinda não há avaliações
- Instrumentação Industrial SamarDocumento18 páginasInstrumentação Industrial SamarLuciano MagalhãesAinda não há avaliações
- Apresentação Sistema de Controle e AutomaçãoDocumento26 páginasApresentação Sistema de Controle e AutomaçãoLuiz DanielAinda não há avaliações
- Cde A7&8 Controlo Automatico IspunaDocumento29 páginasCde A7&8 Controlo Automatico IspunaCharles NatividadeAinda não há avaliações
- Apostila SHP Controladores Lógicos Programáveis Junho de 2010 ADocumento60 páginasApostila SHP Controladores Lógicos Programáveis Junho de 2010 AMauricio F CamargoAinda não há avaliações
- Instrumentação e Medidas - 2023Documento22 páginasInstrumentação e Medidas - 2023KD EliseuAinda não há avaliações
- 01 C1 IntroduccionDocumento11 páginas01 C1 IntroduccionGildo MatiasAinda não há avaliações
- Automação 08-11Documento3 páginasAutomação 08-11ayrton.eletrotechAinda não há avaliações
- Aula-Instrumentação e Controle (Cap - 01)Documento38 páginasAula-Instrumentação e Controle (Cap - 01)MaiconSoaresAinda não há avaliações
- Apostila de Controle e Servomecanismo PDFDocumento37 páginasApostila de Controle e Servomecanismo PDFRodrigo AdamshukAinda não há avaliações
- Apostila de Controle e ServomecanismoDocumento37 páginasApostila de Controle e ServomecanismoMarinaldo RodriguesAinda não há avaliações
- Apostila de I - C - 2020Documento29 páginasApostila de I - C - 2020Daniel SantosAinda não há avaliações
- Aula 09 Controle Processos 02Documento19 páginasAula 09 Controle Processos 02DaviLiveira5Ainda não há avaliações
- Capitulo 2&3Documento11 páginasCapitulo 2&3Yonôs LucasAinda não há avaliações
- Instrumentação e Controle de ProcessoDocumento20 páginasInstrumentação e Controle de ProcessoMatheus BastosAinda não há avaliações
- 17 - Controlador Lógico ProgramávelDocumento69 páginas17 - Controlador Lógico ProgramávelemtelesAinda não há avaliações
- Apostila Informatica Industrial I - Parte 1Documento28 páginasApostila Informatica Industrial I - Parte 1Daniel Cardoso PereiraAinda não há avaliações
- Instrumentação Industrial Aula 0 07022018EDocumento29 páginasInstrumentação Industrial Aula 0 07022018EFabio Rossi100% (1)
- Aula03 - Implementação de Equipamento e DispositivosDocumento13 páginasAula03 - Implementação de Equipamento e DispositivosWAGNER RODRIGUES DE ABREUAinda não há avaliações
- Aula 01 - 02 - Instrumentação e Controle 7°P 80h 10.03.2021Documento28 páginasAula 01 - 02 - Instrumentação e Controle 7°P 80h 10.03.2021Júlio SilvaAinda não há avaliações
- Aula Didática Instrumentação PDFDocumento26 páginasAula Didática Instrumentação PDFJoao Panceri100% (1)
- Instrumentação e Controle de Processos Industriais: Empresa NacionalDocumento332 páginasInstrumentação e Controle de Processos Industriais: Empresa NacionalRicardo streiteAinda não há avaliações
- Controle de ProcessosDocumento23 páginasControle de ProcessosAzgher0Ainda não há avaliações
- Slide 04 - (Terminologia)Documento25 páginasSlide 04 - (Terminologia)Rodrigo dos Santos BritoAinda não há avaliações
- Apostila InstrumentaçãoDocumento192 páginasApostila InstrumentaçãoGordinhorsAinda não há avaliações
- ISM1Documento6 páginasISM1alvaromviegas_191514Ainda não há avaliações
- Aula 02 - 03 - Controle Automatico de ProcessosDocumento53 páginasAula 02 - 03 - Controle Automatico de ProcessosRafaela Souza LaraAinda não há avaliações
- Aula 02 - 03 - Controle Automatico de Processos PDFDocumento53 páginasAula 02 - 03 - Controle Automatico de Processos PDFRafaela Souza LaraAinda não há avaliações
- Controle de Processos - CEFET MGDocumento59 páginasControle de Processos - CEFET MGJosias GuimarãesAinda não há avaliações
- Conceitos e Noções Preliminares de ControleDocumento9 páginasConceitos e Noções Preliminares de ControleJasper CunhaAinda não há avaliações
- InstrumentaçãoDocumento388 páginasInstrumentaçãoJailson Dos SantosAinda não há avaliações
- Automação de Processos e de Sistemas - Capítulo 03Documento30 páginasAutomação de Processos e de Sistemas - Capítulo 03Leonardo RodriguesAinda não há avaliações
- 2 - Apostila de Instrumentacao EditadaDocumento121 páginas2 - Apostila de Instrumentacao EditadaAlexandre Jusis BlancoAinda não há avaliações
- RA2 pLANIFICAR, TESTAR, EntregarDocumento18 páginasRA2 pLANIFICAR, TESTAR, Entregarabel manuel chico olece100% (1)
- Tema I-Noções de Instrumentação-Texto de Apoio 001Documento8 páginasTema I-Noções de Instrumentação-Texto de Apoio 001VirgilioAinda não há avaliações
- Instrumentacao - Houston Jerónimo MacazeDocumento112 páginasInstrumentacao - Houston Jerónimo MacazeHouston MacazeAinda não há avaliações
- Apostila Unidade 03 CEBA - ICDocumento117 páginasApostila Unidade 03 CEBA - ICRicardo AmenAinda não há avaliações
- 01 - Abraman Introducao PDFDocumento38 páginas01 - Abraman Introducao PDFCiidaaAinda não há avaliações
- Sistemas de SupervisãoDocumento35 páginasSistemas de SupervisãoBruno LimaAinda não há avaliações
- Final Igor RennanDocumento7 páginasFinal Igor RennanIgor RennanAinda não há avaliações
- Aula Instrumentação BasicaDocumento134 páginasAula Instrumentação BasicaFelipe LimaAinda não há avaliações