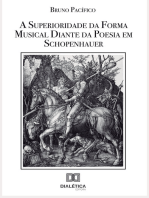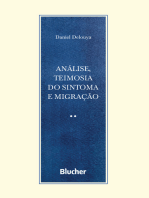Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cadernos de Subjetividade N 3 Tempo 1994
Enviado por
DaniellePereira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações144 páginasHistória; Memória
Título original
Cadernos de Subjetividade n 3 Tempo 1994
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoHistória; Memória
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações144 páginasCadernos de Subjetividade N 3 Tempo 1994
Enviado por
DaniellePereiraHistória; Memória
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 144
NCLEO DE ESTUDOS E PESQUI SAS DA SUBJ ETI VI DADE
PROGRAMA DE ESTUDOS PS- GRADUADOS EM PSI COLOGI A CLI NI CA
PONTI FI CI A UNI VERSI DADE CATLI CA DE SO PAULO
CADERNOS DE SUBJETIVIDADE
Ncleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade
Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clinica da PUC-SP
Cad. Subj. S.Paulo v. 2n.le2 pp. 1-144 mar./ago.-set./fev. 1994
Catalogao na Fonte - Biblioteca Central / PUC-SP
Cadernos de Subjetividade / Ncleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade do Programa
de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clnica da PUC-SP. - v. 2, n. 1 e 2 (1994) -
- So Paulo, 1994-
Semestral
1. Psicologia - peridicos 1. Instituio.
ISSN 0104-1231 CDD 150.5
Cadernos de Subjetividade uma publicao semestral do Ncleo de Estudos e Pesquisas
da Subjetividade, do Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clnica da PUC-SP.
Revista financiada com a verba de apoio da CAPES ao Programa de Estudos
Ps-Graduados em Psicologia Clnica da PUC-SP.
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DE SO PAULO (PUC-SP)
Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clnica
Coordenao
Luis Cludio M. Figueiredo
Vice-Coordenao
Marlia Ancona Lopes Grisi
Ncleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade
Coordenao
Alfredo Nqffah Neto
Cadernos de Subjetividade
Conselho Editorial
Cristina Helena Toda, Daisy Perelmutter, Dany Al-Behy Kanaan,
Ins R. B. Loureiro, Marian A. L. Dias Ferrari, Mauricio Loureno,
Maurcio Mangueira, Nelson Coelho Jnior.
Coordenao de Texto
Egon Rangel
Reviso de Provas
Ana Maria Barbosa
Produo Grfica
Fernanda do Val
Capa e Projeto Grfico
Angela Mendes
P R E S E N T A O
NCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA SUBJETIVIDADE
Constitumo-nos como um espao pblico de debate e pesquisa, tendo
como eixo temtico os mltiplos processos de subjetivao engendrados nas
coletividades humanas, em sua heterogeneidade espcio-temporal. Congre-
gamos alunos ps-graduandos em Psicologia Clnica - mestrandos e douto-
randos -, alunos e pesquisadores avulsos e instituies culturais e polticas
ligadas sade pblica, a grupos minoritrios, etc., de diferentes partes do
Brasil. Nosso trabalho faz-se por meio de cursos, seminrios, conferncias,
grupos de estudo, que, por sua vez, geram monografias, ensaios, disserta-
es, teses, livros.
Cadernos de Subjetividade - nossa revista oficial - destina-se pu-
blicao da produo cientfica/filosfica/aitstica dos membros permanen-
tes e itinerantes do Ncleo e de quaisquer outros colaboradores que - afina-
dos com o nosso eixo temtico - possam enriquecer esse trabalho, multipli-
cando-o, diversificando-o e aprofundando-o em diferentes direes.
Alfredo Naffah Neto
M A R I O
APRESENTAO 3
EDITORIAL 7
ENTREVISTA
Oswaldo Giacia 9
DOSSI: TEMPO
Dizer o tempo
Jeanne Karie Gagnebin 27
A Histria e o estranho
Luiz A. M. Celes 37
Anlise, tempo, luto...
Mauro Meiches 49
Comentrio sobre o artigo 'O tempo e o outro' de Jean Laplanche
Pedro Luiz Ribeiro de Santi 57
A Gravidez na mulher e na analista: acontecimento e temporalizao
Helena Kon Rosenfeld 61
Ps-Naturalismo e cincia da subjetividade: o problema do tempo
e da autonomia no cognitivismo contemporneo
Eduardo Passos 67
TEXTOS
^"-~> Linguagem, representao e alterdade
Luis Augusto Paula Sousa 79
O discurso do eu na(s) fala(s) do sujeito
Rosana Paulillo
Conhecimento e mestiagem: o 'efeito-macaba'
Julio R. Groppa Aquino
Estado melanclico e acontecimento
Regina Clia de Andrade Charlier
COMUNICAES
Princpios para uma psicoterapia genealgica:
~^a vida como valor maior
Alfredo Naffah Neto
A tica como espelho para a psicologia
Renato Mezan
A esquiva noo de realidade: dilogo com Nelson Coelho Jr.
Elisa Maria Ulhoa Cintra
RESENHAS
A psicoterapia em busca de Dioniso. Nietzsche visita Freud.
Paulo Csar Lopes
Pierre Levy e o coletivo pensante homem-coisas
Maurcio Mangueira
O 'estranho' livro de Eliana Fonseca:
A geografia da (in)sensatez da palavra
Fernando Teixeira Silva
D I T O R I A L
Por que Tempo?
Cadernos de Subjetividade se defronta com mais um dos temas fun-
damentais para pensarmos o campo problemtico da subjetividade. Da
mesma forma que a linguagem - tema do dossi nmero 2 - o Tempo
ocupa e desaloja o sujeito, produzindo transformaes nos diversos pla-
nos do processo de subjetivao.
Como nossa publicao est intimamente vinculada ao Ncleo de
Subjetividade, no poderia deixar de refletir suas produes e tendncias.
O tema "Tempo" tem sido objeto de muitas reflexes a partir de semin-
rios regulares e particularmente atravs do trabalho de colaboradores como
Oswaldo Giacia, Peter Pelbart, Rogrio Costa e Jeanne Marie Gagnebin.
J que estamos falando em 'tempo', no podemos deixar de men-
cionar o atraso de um semestre na publicao deste nmero dos Cadernos
de Subjetividade. Pedimos desculpas aos leitores e assinantes, reiterando
o compromisso de constante renovao, aliado ao crescimento e dissemi-
nao da revista que resultaram na ampliao do Conselho Editorial, re-
vitalizando a nossa organizao.
Esperamos que o leitor encontre eco deste processo de abertura no
presente nmero.
E N T R E V I S T A
OSWALDO GIACIA
Colaborador de jornais como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, Oswaldo
Giacia graduado em Filosofia (PUC-SP) e Direito (USP). Concluiu seu mestrado
(PUC-SP) sobre Augusto Comte, sob orientao de Bento Prado e seu doutorado
sobre Nietszche, na Universidade Livre de Berlim. Foi professor da PUC-SP e Unesp.
Completou seu ps-doutorado na Alemanha e, devolta ao Brasil, foi contratado pela
Unicamp.
Na PUC-SP, tem participado de vrios eventos promovidos pelo Ncleo de Estu-
dos e Pesquisas da Subjetividade, entre os quais, Coloquio sobre Pulso, 1993; e
seminrios sobre o 'Eterno Retorno' e 'Tragdia', 1995. Publicou vrios artigos so-
bre Nietszche, destacndose como um dos grandes ensastas no campo da Filosofia.
A despeito desta trajetria admirvel, o leitor ir perceber que um dos traos
marcantes de Oswaldo Giacia sua humildade intelectual humildade que tem nos
seduzido, bem como a seu pblico mais amplo.
Resta-nos agradecer a disponibilidade e gentileza com que fomos acolhidos por
Giacia. Convidamos agora os leitores a compartilhar conosco deste dilogo.
Cadernos de Subjetividade (C.S.): Vamos
trabalhar a questo do eterno retorno, ou-
tros temas ligados ao cruzamento da no-
o de tempo em Heidegger com alguma
perspectiva nietzschiana. Ter articulada a
entrevista com o tema do dossi. E a o
Alfredo se disps a preparar algumas ques-
tes para a gente ter como fio da nossa
conversa, est bom para voc assim?
Oswaldo Giacia (O.G.): Est. Estou tra-
balhando na Unicamp s, e eu tenho pro-
gamados dois cursos na Unicamp este se-
mestre. Um deles um curso na gradua-
o para os alunos do segundo ano, sobre
a filosofia moral de Kant, e o outro um
curso oferecido numa linha especial de
pesquisa na ps-graduao, que se chama
"Fundamentos filosficos da filosofia e da
psicanlise", em que pretendo fazer uma
comparao sobre a gnese do sagrado e
da conscincia moral em Freud e Niet-
zsche. Pretendo trabalhar, no caso de
Freud, os textos sobre a cultura e, no caso
de Nietzsche, especialmentePara alm de
bem e mal e a Genealogia da moral. Eu
9
pretendo mostrar pontos de convergncia
e tambm linhas de dessemelhana entre
o enfoque psicanaltico da gnese das ins-
tituies culturais e como Nietzsche pen-
sa as mesmas questes sob um ngulo s
vezes prximo, s vezes distante. Em es-
pecial pretendo trabalhar a questo do es-
tatuto terico dessas hipteses genticas
que aparecem tanto nos escritos de
Nietzsche quanto nos de Freud, procuran-
do identificar qual a natureza de tais hi-
pteses do ponto de vista epistemolgico,
e que funo elas cumprem nos escritos
de um e de outro.
(C.S.): Voc tem algum projeto de curso
ou seminrio para ser realizado na PUC-
SP neste primeiro semestre de 1995?
(O.G.): No, neste semestre no me con-
vidaram ainda; considero este canal que a
gente mantm aberto, para mim, da mais
alta importncia. Sempre considero mui-
to produtivos os contatos que eu mante-
nho com vocs. A mim me estimula mui-
to mesmo, mas at este momento no me
perguntaram nada no.
(C.S.): Vamos comear ento?
(O.G.): Claro, claro que as respostas vo
ser apenas pequenos intritos sobre cada
uma dessas questes.
(C.S.): O Alfredo Naffah sugeriu como
primeira questo: o que significa dizer que
o eterno retorno um imperativo tico.
D para voc falar um pouco sobre isso?
(O.G.): Sim, claro. Bem, certamente vocs
no ignoram toda essa enorme discusso
que existe a respeito da natureza desse
tema, do alcance desse tema no pensamen-
to de Nietzsche: [saber], afinal de contas,
se o eterno retorno uma hiptese cosmo-
lgica, se ele na verdade uma grande
teoria do universo, uma teoria do tempo,
ou se uma espcie de imperativo tico,
mais ou menos parecido com o imperati-
vo categrico kantiano, se bem que, de
certa maneira, contrrio a ele.
Eu tendo a ver esse lado tico da teo-
ria do eterno retorno como sendo central.
Da minha leitura, da leitura que pretendo
fazer dos textos de Nietzsche a [esse] res-
peito, enfatizo muito mais o aspecto da
injuno tica colocada na hiptese do
eterno retorno do que propriamente a
questo, digamos, cosmolgica.
Eu sei que isso discutvel. Eu sei que
a minha prpria posio se fragiliza dian-
te de uma enorme massa de textos em que
a hiptese do eterno retorno aparece numa
perspectiva metafsica ou, se quiserem,
cosmolgica, mas entendo que a partir das
posies tericas que Nietzsche assume,
especialmente com Para alm de bem e
mal, qualquer construo, digamos, de
carter metafsico ou cosmolgico, se en-
contra necessariamente fadada insub-
sistncia, porque o perspectivismo radi-
cal, tal como ele firmado no perodo de
Para alm de bem e mal, condena toda
hiptese cosmolgica, cientfica ou meta-
fsica ao carter ficcional. Todo conheci-
mento necessariamente projetivo, toda
teoria incontornavelmente determinada
10
pelas injunes da gramtica e da lgica
e, por conseguinte, nenhum enunciado
pode manter qualquer tipo de pretenso a
uma descrio objetiva, de uma situao,
de fatos ou da realidade. Por conseguinte,
eu entendo que ainda que se possa com-
preender que o eterno retorno necessaria-
mente pretende enunciar algo acerca do
Cosmo, ou acerca do Tempo, ou acerca
daquilo que acontece, para que ele possa
ser um discurso coerente, insisto, mesmo
nas diversas tentativas em que Nietzsche
pretendeu fundar hipteses cientificamen-
te, etc., para mim, ele tem que ser enten-
dido em primeiro lugar como um contra-
discurso, ou seja, como uma hiptese que
s pode se estatuir como contra-hiptese
interpretao, socrtico-platnico-cris-
t do tempo, por um lado e, por outro lado,
no seu sentido ltimo, alm desse lado
contraditrio, na verdade um imperati-
vo que funcionaria mais ou menos no se-
guinte registro: aja de tal maneira como
se cada um dos instantes de sua existncia
retornasse eternamente, o que significaria
dizer, parodiando um pouco Spinoza, aja
como se cada instante fosse a eternidade.
Por que isso um imperativo tico ? Por-
que na verdade [] uma perspectiva do
dever - aja de tal maneira que - agora...
sempre posto sob a tica do "como se".
No se trata de dizer: aja porque o instan-
te eterno ou porque o instante eterni-
zado, mas "como se fosse", portanto,
sempre essa perspectiva do "como se". Isto
coloca, na minha opinio, esse imperati-
vo tico nietzschiano na categoria do so-
bre-humano porque poder viver sob a pres-
so de um imperativo como esse, ou seja,
agir de tal maneira a que cada segundo, a
cada instante, voc tivesse que, de algu-
ma forma, determinar o curso do Univer-
so inteiro eternamente, isso implica trans-
formar a sua prpria existncia numa
construo absolutamente maravilhosa.
Ou seja, o imperativo tico, mas que im-
plica tambm uma espcie de estetizao
da existncia, implica a construo da pr-
pria existncia como se ela fosse algo da
ordem, da obra de arte, ou seja, criar cada
ao particular, criar-se a si mesmo [em]
cada ao particular, mas no criar-se a si
mesmo de qualquer maneira, mas segun-
do a linha de um estilo, de um estilo arts-
tico: fazer da sua prpria vida uma obra
de arte. Acho isso fundamental.
(C.S.): Voc separou a genealogia da
cosmologia. Parece-me que as duas tm a
ver, de alguma forma, mas posso estar en-
ganado. Em um certo sentido voc colo-
cou entre parnteses a cosmologia e a co-
locou na linha do "como se". Pensei en-
to em duas questes vinculadas a isso.
Uma delas : nesse sentido voc concor-
daria com o captulo "O niilismo europeu"
do 2
a
volume do Nietzsche de Heidegger,
em que a cosmologia colocaria Nietzsche
como o ltimo metafsico, o apogeu da
metafsica? Essa teoria das foras, essa
pulso, representaria uma essncia ltima,
e, nesse sentido, colocar entre parnteses
a cosmologia, dar nfase genealogia, pre-
servaria Nietzsche desse campo meta-
fsico? Na mesma linha: esse "como se"
seria como se cada instante fosse se repe-
tir^houvesse se repetido desde sempre; se
a cosmologia posta entre parnteses,
abre-se um espao tico de liberdade e
responsabilidade. Se no "como se", se
11
uma cosmologia do sempre e sempre o
mesmo, seria o contrrio, no haverial i -
berdade alguma porque tudo j foi feito,
tudo ser feito novamente e no haveria
escapatria disso.
(O.G.): Acho essas duas questes absolu-
tamente pertinentes nesse campo de inda-
gaes que a gente est fazendo. Para fa-
zer inteira justia sua primeira questo,
eu diria: minha preocupao no est tan-
to direcionada para a questo do enqua-
dramento de Nietzsche, via Heidegger,
para me referir ao que voc citou, como
ltimo metafsico ou como um acabamen-
to da metafsica, como ltimo pensador
da metafsica ou coisa desse gnero. Quan-
do eu digo "colocar a cosmologia entre
parnteses", no , pelo menos no neces-
sariamente, porque isso transformaria
Nietzsche em um metafsico e, de certa
maneira, carregaria guas para o moinho
de Heidegger. A minha questo tem uma
outra inflexo que a seguinte: eu reco-
nheo que existem nos manuscritos de
Nietzsche, especialmente nos manuscritos
contemporneos da tentativa de estabele-
cimento da Vontade de poder, existe toda
uma tentativa clara, manifesta, de conce-
ber a hiptese do eterno retorno como fun-
dada, nos resultados mais gerais da fsica,
das cincias naturais, etc. manifesto que
existe um esforo, em Nietzsche, de cons-
truir uma grande hiptese do eterno retor-
no como doutrina cosmolgica. Nos ps-
tumos, no nego que exista; isto est l.
Agora, eu insisto no carter experimental
do pensamento de Nietzsche, especial-
mente nos fragmentos pstumos desse
perodo. Trata-se, na minha opinio, de
experincias do pensamento e que, por
conseguinte, como todo experimento,
guardam um carter inevitvel de provi-
soriedade. Ento Nietzsche experimenta
com a perspectiva da cincia, no resta a
menor dvida. Assim como ele experi-
menta com a perspectiva da metafsica,
experimenta com vrias outras perspecti-
vas, inclusive a da literatura.
Agora, o meu problema , a partir das
posies tericas, especialmente da teo-
ria do conhecimento tal como ela se de-
senvolve a partir dos anos 1880, em espe-
cial 1885,1886, at um pouco antes, 1884,
ou seja, a partir do momento em que voc
assume como postura terica fundamen-
tal o perspectivismo (e me permitam um
pequeno parntese: a partir do momento
em que concebido como erro fundamen-
tal da cultura do Ocidente o erro dog-
mtico em Plato, quer dizer, a crena em
uma espcie de esprito puro capaz de um
acesso a uma verdade assim objetiva e ao
bem em si), a partir desse momento, todo
o conhecimento no pode ser visto seno
como ficcional. Eu uso a palavra "proje-
tivo" para isso. Assim, por conseguinte,
mesmo a cosmologia, ainda que ela bus-
que uma espcie de fundamentao na
cincia, ela no pode ter seno um carter
hipottico e hipottico no seguinte senti-
do: ela uma perspectiva a mais que eu
desenvolvo e eu poderia acrescentar
"como se". Mesmo cosmolgicamente, eu
poderia argumentar: uma perspectiva,
necessariamente perspectiva, quer dizer,
fazendo um experimento com a cincia eu
argumento "como se" eu fosse algum que
estivesse fazendo uma cosmologia. Por
que isso? Na minha opinio, porque se
12
Nietzsche formulasse um enunciado rigo-
rosamente ttico ele teria que, do interior
de suas prprias posies epistemolgicas,
formular ele mesmo um contra-enuncia-
do a isso. E a eu digo: por isso me inte-
ressa muito menos a questo do enqua-
dramento de Nietzsche como ltimo me-
tafsico e muito mais refletir a partir de
suas prprias posies tericas. Por isso
importa para mim muito mais a categoria
do niilismo. Porque somente sob a hip-
tese, somente admitido que a interpreta-
o global da existncia, ou seja, que a
interpretao socrtico-platnico-crist do
mundo se desconstituiu, se desfez a partir
do momento em que, com o anncio da
morte de Deus, o niilismo sobe tona. A
partir desse momento, essa interpretao,
que se pretendia no interpretao, mas
texto, a partir do momento em que ela se
revela como insubsistente, a partir da, por
conseguinte, abre-se o espaq, digamos
assim, o macroespao cultural para uma
outra hiptese global acerca da existncia
e da finalidade da existncia, do sentido
da existncia. A se insere o eterno retor-
no, na minha opinio, sob as vrias facetas,
ou nas vrias facetas em que ele se confi-
gura, seja como hiptese cosmolgica, seja
como imperativo tico, seja como estti-
ca, etc. Vale dizer, em ltima instncia,
no se trata de propor, na minha opinio,
fundamentalmente, o eterno retorno como
um enunciado ttico, como uma cosmo-
logia melhor do que a cosmologia tradici-
onal. Trata-se de, em face da experincia
do niilismo, ou s voc quiser, poetica-
mente dito, sombra da morte de Deus,
criar de novo uma hiptese de conjunto,
uma explicao, ou melhor que isso, uma
interpretao de conjunto do ser do mun-
do e do ser do homem no mundo.
Seria na verdade o que diz respeito
sua primeira pergunta. Quer dizer, no
estou l muito preocupado com a questo
do ltimo, do penltimo ou do extrame-
tafsico. Mas eu acho que do interior das
posies de Nietzsche preciso esse vis
para ser justo inclusive. preciso esse vis
histrico a partir do qual ele autocom-
preende a sua prpria posio como sen-
do necessariamente algo que se constri
a partir da experincia da morte de Deus,
o que significa, a partir da insubsistncia
da interpretao global. H um texto, in-
clusive, exatamente desse perodo, em que
ele diz: uma interpretao sucumbiu, po-
rm essa interpretao era a interpretao.
Da a impresso geral de que no h mais
nenhum sentido para a existncia. Mas no
necessrio que seja assim porque se essa
interpretao se revelauma interpretao,
ento, evidentemente, outras interpreta-
es so possveis.
Agora, interpretao global, tal como
eu entendo, para Nietzsche, significa, no
fundo, a perspectiva, digamos assim, his-
trico-cultural. Essa interpretao global
, na verdade, a interpretao que d cor-
po e sentido experincia da Europa, ou
seja, do mundo ocidental. Ns podemos
dizer, depois de Nietzsche, que se trata de
uma perspectiva com vocao planetria.
Ento, na verdade, essa interpretao glo-
bal significava para ele o mundo ociden-
tal, aquilo que constitua, de certa manei-
ra, a medula cultural do Ocidente.
(C.S.): Queria que voc explicitasse a
13
questo da liberdade, da responsabilidade
ou do determinismo.
(O.G.): Pois , justamente. Quer dizer...
Essa segunda questo eu acho fantstica,
porque muito comum se compreender o
pensamento de Nietzsche como uma es-
pcie de permisso geral para tudo, como
uma espcie de grande liberao... tudo
permitido, etc. Mas precisamente por-
que tudo permitido que a hiptese do
eterno retorno faz sentir o enorme peso
da responsabilidade que advm da. Quer
dizer, se Deus est morto e, por conseguin-
te, se Deus se revelou apenas como um
elemento, se Deus faz parte dessa histria
do niilismo, ento, cabe, em ltima ins-
tncia, ao homem, mas no ao homem abs-
traio, a cada um de ns, digamos assim, a
gama infinita dos seus condicionamentos,
das suas particularidades; cabe a cada um
de ns definir, sob sua nica responsabi-
lidade, aquilo que ser o sentido da exis-
tncia, e no, digamos assim, do ponto de
vista de um universal abstraio do tipo
kantiano, por exemplo, algo que valha para
o homem em geral. No h mais a, para
Nietzsche - nem pode haver - nenhuma
perspectiva de rebanho. Aquilo que eu
defino como sendo o que eternamente
deve retornar uma escolha que eu fao
nas condies estritas de minha prpria
existncia individual, e por ela eu sou ab-
solutamente responsvel. Ou seja, trata-
se de uma imbricao, a meu ver, total
entre acaso e necessidade. por acaso que
eu sou conjunto de meus condicionamen-
tos e exatamente este conjunto de con-
dicionamentos que determina inclusive os
objetos, a forma como eu sou, como eu
ajo - e isso inteiramente casual, isso no
corresponde a nenhum desgnio da Provi-
dncia, a nenhuma ordem da natureza-,
mas da que eu escolho, no limite, se voc
quiser, a face do universo. A perspectiva
do eterno retorno me coloca diante dessa
magnitude de responsabilidade. Cada uma
das minhas aes deve ser escolhida do
interior das limitaes que eu sou, como
se isso devesse retornar eternamente.
(C.S.): Como voc se coloca sobre a ques-
to do eterno retorno do mesmo ou o eter-
no retorno do diferente. Afinal, o que
que retorna ?
(O.G.): Essa tambm uma outra ques-
to terrivelmente complicada porque est
ligada interpretao heideggeriana, dis-
cusso posterior interpretao de
Heidegger, est ligada certamente a toda
a leitura que Deleuze faz de Nietzsche, a
toda relao que existe entre a recepo
de Nietzsche na Frana, de Heidegger na
Frana, as discusses contemporneas que
existem a esse respeito, sobre se o eterno
retorno o eterno retorno do mesmo ou
se o eterno retorno o eterno retorno da
diferena, em ltima instncia. Eu acho
que no vale muito a pena aqui fazer uma
espcie de histrico dessas coisas, dessa
discusso.
O que eu acho conveniente acentuar
em Nietzsche e aquilo que eu acho mais
bonito como perspectiva, no digo de so-
lucionar, mas pelo menos de pensar essas
questes, so alguns textos do Zaratustra,
especialmente um deles: "O convalescen-
te". "O convalescente" um texto que eu
14
acho privilegiado para se pensar esse pro-
blema, e o segundo deles , na minha opi-
nio, "Da viso e do enigma". um texto
em que, vocs devem estar lembrados, tem
uma figurao cnica, tem um pastor dor-
mindo - claro que esse pastor evoca re-
miniscncias de toda ordem: religiosas
etc. Durante o sono a serpente se introduz
na boca do pastor e o pastor ouve uma voz,
ou Zaratustra ouve uma voz, no me lem-
bro bem agora, que diz: "morde, morde,
morde, arranca a cabea da serpente!"
Bom, toda essa simbologia do Zaratustra
tambm muito complicada, mas enfim,
no fundo, o texto uma espcie de enig-
ma, de viso, que est ligado ao "conva-
lescente", penso eu, porque , no fundo, a
cura, a cura de Zaratustra em relao
quilo que na verdade era o su fardo mais
pesado e que era ainda o ressentimento, o
ressentimento precisamente em relao ao
tempo. Como vocs sabem, a serpente
um smbolo do tempo, quer dizer, a cir-
cularidade, e especialmente a dentada que
extrai da serpente a sua cabea aquilo
que evidentemente corta da serpente o
veneno. Ora, o que o veneno, sempre
neste carter simblico e enigmtico do
texto? precisamente o ressentimento em
relao ao tempo, aquilo de que Zaratustra
estava doente quando pensava no eterno
retorno porque ele pensava que o homem
pequeno, ou seja, basicamente o homem
do rebanho voltar eternamente. Se tudo
retorna eternamente, ento o homem do
rebanho retorna eternamente tambm. Da
o ressentimento com relao ao prprio
eterno retorno; da porque o eterno retor-
no era para Zaratustra seu pensamento
mais abissal. Porqu? Porque significava
aceitar e querer que tudo retornasse eter-
namente, inclusive o homem amesquinha-
do, pequeno, etc. Ora, relativamente a isto
havia da parte de Zaratustra ainda um ran-
cor. A sua libertao vai consistir precisa-
mente em liberar-se desse veneno, signi-
fica libertar-se do rancor relativamente ao
tempo. Por que estou fazendo o contorno
por esse texto? Justamente para tentar co-
locar o dedo na questo de saber se o que
retorna o mesmo ou se o que retorna a
diferena. Fundamental nesse texto o
retorno, a meu ver. No se trata tanto de
perguntar ou de se ressentir ou de se dei-
xar tomar pelo rancor porque o homem
pequeno, mesquinho, retornar, mas tra-
ta-se de afirmar o retorno. muito menos
importante o que retorna do que o retor-
no, o escoar, o fluxo, o tempo, a afirma-
o do tempo enquanto tal. Neste sentido,
eu acho muito bem cunhada a imagem de
Deleuze que diz: no eterno retorno o que
afirmado o devir e o revir como ser do
devir. Ento, no importa tanto aquilo que
devem, o que importa o movimento, o
que importa voc compreender o curso
do tempo como absolutamente inexorvel.
Ou seja, a voc tem, na hiptese do eter-
no retorno, ao menos na leitura que eu
fao, realmente o pice da afirmao da
temporalidade: no existe absolutamente
nada transcendente ao tempo e no existe
nenhuma perspectiva que possa consolar
do curso inescorvel do tempo, quer di-
zer, no h nada alm do devir. Toda pers-
pectiva que se pe como tentando ou que-
rendo resgatar algo para alm do devir,
seja sob a hiptese terrorista de que o ho-
mem pequeno retornar eternamente, sig-
nifica olhar muito mais para aquilo que
15
identidade, ou seja, para aquilo que no
transformao, passagem, para aquilo que
no justamente devir, para pensar algu-
ma espcie de identidade para alm do
devir.
A cura vai consistir justamente na
extirpao desse mal, em cuspir fora um
veneno que busca alguma espcie de sub-
sistncia, permanncia, ncleo identitrio
qualquer, para alm dessa passagem, para
alm desse devir, cuja nica subsistncia
revir. Da por que, no momento em que
o pastor cospe fora a cabea da serpente,
ele se levanta e ele j no mais um pas-
tor, ele uma figura rejuvenescida, quase
infantil, e que ri. Ou seja, o riso simboliza
aqui, no texto de Nietzsche, exatamente a
libertao do rancor, daquilo que impedia
a alegria, que necessariamente decorren-
te da afirmao do devir como nica rea-
lidade. Ento, como no existe mais nada
que no seja puro devir, e como isso acei-
to, no apenas algum, Nietzsche ou
Zaratustra, se resigna em face da incon-
tornabilidade do devir, do prprio fluxo
do tempo: no apenas uma resignao,
mas uma afirmao. Ora, esta afirmao
o resultado de um querer. Neste momen-
to, e precisamente as duas coisas cami-
nham em paralelo, neste momento no
existe mais nenhum rancor em relao ao
tempo, o passar do tempo, o escoar do tem-
po; o devir objeto de aceitao e de amor.
Da o amor fati. Amor fati no apenas
um amor do destino, uma aceitao do
destino e, por conseguinte, da inevi-
tabilidade do destino, vale dizer, portan-
to, inclusive daquilo que com o devir
devem. No mais importante o que com
o devir devem, mas o devir como nica
subsistncia, se assim se pode dizer, e que
, por outro lado, o contrrio de toda sub-
sistncia.
(C.S.): A partir desse tipo de colocao,
penso nas ressonncias dessas ideias com
algumas questes fundamentais da psica-
nlise. Particularmente, na questo que a
psicanlise se faz sobre o que retorma,
aquilo que se repete, que insiste na forma
de um sintoma. Neste tema percebo, s
vezes, de um lado o risco de um fatalismo
e, de outro lado, o risco de uma crena
muito grande em uma transformao sem
limites, como se nenhum aspecto do
psiquismo permanecesse o que, tudo se
transformasse o tempo todo. Talvez isto
nos leve a pensar a noo de tempo em
Freud, que nem sempre uma noo mui-
to clara. Por isso acho importante essa con-
cepo que voc explicitou de que o que
se extirpa o ressentimento com relao
possibilidade de retornar o mesmo, que
uma possibilidade que est presente no
devir. Esta concepo me parece bastante
til para um pensamento psicanaltico so-
bre a temporalidade e sobre a direo do
tratamento. Afinal, no se trata de querer
extirpar o que se repete e tampouco de su-
cumbir ideia de que tudo se repete.
(O.G.): Eu acho que isso que voc est
dizendo absolutamente compatvel, mais
do que compatvel, no fundo um especi-
ficao psicanaltica, se voc quiser, da-
quilo que eu procurei acentuar. No fundo,
a ideia de que o homem mesquinho pode
se repetir, ou aquilo que, digamos assim,
diablicamente se repete na anlise, esse
mesmo que constantemente retorna, etc.
Pr nfase sobre isso significa para Zara-
16
tustra e para Nietzsche um pensamento
paralisante e, justamente, rancoroso, por-
que significa a negao do passar do tem-
po. Ora, se voc nota, se voc observa em
Nietzsche o que que constitui, o fulcro,
o elemento nuclear do esprito de vingan-
a, que no fundo a caracterstica da
reatividade, ele precisamente o rancor
em relao ao tempo e ao seu passar, ou
seja, porque a vontade sempre foi pen-
sada e sentida como impotente em rela-
o ao tempo e ao seu escoar e justamente
do ncleo dessa impotncia que advm
o rancor contra o tempo, justamente por-
que sobre aquilo que foi a vontade no tem
mais nenhum poder. Ora, a suprema figu-
ra - por isso que eu chamei de pice, de
ponto culminante da filosofia nietzschiana
- , assim, o momento em que a vontade
transforma em objeto da sua afirmao,
vale dizer, o tempo e o seu passar. Quer
dizer, o fado, o destino, qualquer que ele
seja, objeto do meu querer, em cada uma
das suas volies. Isso significa, de fato,
voc cuspir fora esse rancor essencial com
relao ao tempo que sempre caracterizou
todas as perspectivas, digamos, histrico-
culturais, dessa vontade de fugir, basica-
mente de negar ou de no querer ver a
finitude como condio incontornvel do
humano, a finitude que se pe como pas-
sagem, enfim, como morte, renascimento,
etc, mas inevitavelmente como ligada ao
tempo e ao fluxo do tempo.
(C.S.): Essa impotncia diante de um tem-
po que eu no posso controlar.
(O.G.): Exatamente. Mas no poder con-
trol-lo pode dar azo, por exemplo, fic-
o dos dois mundos, em que voc tem
um dos mundos como imune ao fluxo do
tempo e se pe, por isso, como o verda-
deiro mundo; ou voc pode, por outro
lado, fazer como faz Nietzsche e dissol-
ver essa antinomia, quer dizer, acabar com
a ideia dos dois mundos e afirmar o curso
do tempo como objeto do seu querer. Voc
no somente nada pode contra o fado, mas,
por outro lado, voc tudo pode se voc o
transforma em objeto da sua afirmao,
da sua vontade, do seu amor. Agora, fun-
damental na minha opinio, sempre essa
perspectiva de que se voc se mantm vin-
culado a uma forma qualquer de identi-
dade, por exemplo, o homem mesquinho
retornar sempre ou demoniacamente
retorna sempre, se voc est se referindo
aqui psicanlise, se essa a perspectiva,
voc continua afastando dos olhos a insub-
sistncia da passagem para buscar, de
qualquer maneira, algo que seja substan-
cial e que permanea a despeito do fluxo,
a despeito da passagem.
(C.S.): Estava pensando em uma questo
tangencial. Voc est usando a expresso
"curso do tempo". Nietzsche sempre nos
assusta pelo tamanho das coisas... Eu es-
tava pensando em um outro "alm do ho-
mem". Quando voc fala "curso do tem-
po" a nfase mais no curso do que no
tempo. Que sentido faz falar no tempo,
pensando, por exemplo, na temporalidade
psicanaltica. A referncia o trabalho de
Laplanche. A temporalidade parte do pre-
sente, que o vazio, que gera a angstia.
A flecha do tempo volta-se ento ao pas-
17
sado, como tentativa de "reconhecer" o es-
tmulo dado e inseri-lo numa srie de me-
mria. Da surge a repetio e, por proje-
o, a concepo do futuro. A noo de
temporalidade dada, digamos assim, por
este ressentimento, por este susto diante
do fluxo e por um recurso l ao velho,
muito caricaturalmente. Quando se d n-
fase total no fluxo, no curso, que sentido
faz falar em tempo, exatamente, em dura-
o, em temporalidade?
(O.G.): A gente precisariaa, claro... De
novo, voc me faz uma questo que eu
precisaria pensar nela mais ou menos uns
trs meses para poder... Bom, uma coisa
com a qual eu posso imediatamente asso-
ciar, seria a ideia - alis tambm no mui-
to estranha a Freud em Para alm do prin-
cpio do prazer: em que medida voc ne-
cessariamente tem que pensar o tempo no
modo kantiano, como forma da sensibili-
dade? Bom, a ideia do Deleuze tambm
de que com Nietzsche praticamente se
postula uma outra forma de sensibilidade
e claramente ele est fazendo aqui refe-
rncia a Kant e, com isso, noo de tem-
po como forma a priori da sensibilidade.
Agora, bom, eu acho que como tenta-
tiva de resposta sua questo, eu, de certa
maneira, me aproximo de uma outra ques-
to do Alfredo que a seguinte: quando
eu insisto na questo do curso do tempo
eu estou tentando dar nfase noo do
instante em Nietzsche. De novo, eu retor-
no aqui descrio simblica do instante
como o portal entre o passado e o futuro,
basicamente o instante como aquela en-
cruzilhada entre duas vias eternas: aquela
do passado e aquela do futuro. Eu acho
que isso, no caso de Nietzsche, funda-
mental e retomo a ideia de que, no fundo
mesmo, o instante a sntese entre o pas-
sado e o futuro. E o instante , se voc
quiser, digamos assim, o corao, a me-
dula mesma do tempo, vale dizer, o ins-
tante, como analogamente para Spinoza
a eternidade, quer dizer, ele , no fundo, a
sntese entre duas perspectivas de eterni-
dade e ele prprio a eternidade. neste
instante, e a cada instante, inclusive, que
o passado retorna eternamente e se proje-
ta eternamente no futuro. Ento, desse
ponto de vista, e relativamente quilo que
eu disse anteriormente, mais uma vez
uma afirmao de que a hiptese do eter-
no retorno sublinha e acentua muito mais
a passagem, esse instante fugaz que se
esgota aqui, mas que ao se esgotar aqui,
funde nele a perspectiva daquilo que eter-
namente foi, e que eternamente ser.
Ento, falar-se em tempo, alis, falar-
se em grande parte dos outros conceitos
que aparecem em Nietzsche, como "ver-
dade", "erro", etc, passa a ser metfora,
necessariamente, porque num instante,
quando voc acentua no etemo retorno um
instante, voc est ao mesmo tempo se re-
ferindo eternidade. E por isso que o
cntico do Zaratustra vai terminar: "por-
que eu te amo, te amo, eternidade!" Eter-
nidade por qu? No a eternidade da sub-
sistncia, mas a eternidade do instante, que
justamente pura fugacidade.
(C.S.): Ento voc nega a concepo de
tempo como uma instncia externa, com
a possibilidade de servir como referncia
ao existir humano e voc incorpora ime-
18
diatamente esse modo de fluxo no qual o
humano est mergulhado. " impossvel
fugir ao curso do tempo", isso poderia
passar a ideia de que o tempo existe como
uma referncia absoluta.
(O.G.): Entendo. O que eu quero dizer
que se voc v o instante sob essa tica,
este instante que eterno, mas precisamen-
te porque ele instante ele no pode dei-
xar de passar. Logo, aquilo que eterno
exatamente a passagem. este elemento
incontornavelmente contingente do ins-
tante, esta contingncia do instante que
retornar eternamente. isso que eu es-
tou entendendo por curso, mas eu admito
e concedo que a palavra "curso", por ou-
tro lado, supe tambm uma dialtica da
permanncia da subsistncia, claro. E
como o prprio Nietzsche reconhece isso,
quer dizer, ns somos incontornavelmente
prisioneiros da gramtica. Ento, ns no
podemos pensar a no ser nas categorias
da lgica e da gramtica, que so as cate-
gorias, no fundo, da metafsica. Ento, a
nica possibilidade seria fazer um uso ir-
nico; a nica maneira de poder ainda falar
ironicamente no sentido tradicional da
ironia, que uma forma de se distanciar,
tomar distncia.
(C.S.): Voc j falou disso, mas enfim,
mais especificamente, a concepo de
eterno retorno uma concepo deter-
minista ou uma criao contnua da vida?
(O.G.): Pois , eu s queria que para isso
se acrescentassem duas palavras a esse
respeito. Evidente que eu conheo, todos
ns conhecemos, que h vrias teorias que
entendem a hiptese do eterno retorno
como uma espcie de determinismo. Ou-
tras a entendem como absolutamente l i -
vre, etc. Eu acho que a gente precisa se
situar um pouco aqum e, ao mesmo tem-
po, alm das antinomias, para poder pen-
sar isso de uma forma prxima, para no
dizer fiel, ao que Nietzsche quis no fundo
dizer. Se voc admite que o eterno retor-
no uma viso cosmolgica, absoluta-
mente determinista; se voc supe com
isso que Nietzsche tem uma teoria acerca
dos fatos cosmolgicos, que ele pretende
ser uma explicao cientfica e objetiva
dos acontecimentos, dos fenmenos na-
turais, segundo a qual cada acontecimen-
to est causalmente determinado pelo seu
acontecimento anterior, de uma forma to
rgida que nenhum tipo de variao ou
desvio possvel, voc teria que supor,
com isso, que Nietzsche teria, ele prprio,
formulado uma teoria de conjunto sobre
o universo, inteiramente dirigida pela ca-
tegoria da causalidade e que ele preten-
deria que fosse no uma interpretao
perspectiva, mas justamente uma teoria
objetiva acerca daquilo que existe. Por
outro lado, se voc dissesse: no, Nietz-
sche tem uma teoria acerca dos fenme-
nos da natureza que uma teoria que rom-
pe completamente com a categoria da cau-
salidade e, digamos assim, atribui tudo
livre criao, voc teria tambm que su-
por, em Nietzsche, uma teoria anticau-
salista, antideterminista, que pretenderia
ser mais verdadeira do que a teoria
causalista e determinista. O que eu penso
o seguinte: se voc retorna quilo que
eu disse desde o comeo, ao perspec-
19
tivismo essencial que dirige o pensamen-
to nietzschiano, pelo menos desde 1884,
1885, voc seria obrigado a dizer que a
teoria do eterno retorno uma interpreta-
o global da existncia que se coloca sob
a perspectiva do "como se", por conse-
guinte, que se pe, desde o inicio, como
uma interpretao. Evidentemente que
esta interpretao afirma, como j o pri-
meiro Nietzsche do perodo da Basileia
afirmava, uma relao entre acaso e ne-
cessidade, isto , os fenmenos da nature-
za, o curso dos fenmenos naturais no
algo determinado por leis objetivas, por
leis inflexveis, no relativas ao modo de
funcionamento (perspectivo) do aparelho
cognitivo; tambm no algo que corres-
ponda aos desgnios da Providncia. Mas,
enfim, se Nietzsche afirma que h uma
relao entre acaso e necessidade, penso
eu, no seguinte sentido: se admitirmos a
hiptese da causao universal, ento a
cadeia das causas interligadas no passado
se liga mesma cadeia no futuro. Na mi-
nha opinio, o que acontece o seguinte:
se existe a perspectiva do determinismo,
ou seja, da causalidade entre o passado e
o futuro a partir da ideia do eterno retor-
no, ento voc poderia, dessa maneira,
dizer: bem, Nietzsche de alguma forma
muito mais determinista do que partid-
rio do livre-arbtrio ou coisa desse gnero
(coisa que eu acho que ele subscreveria
inteiramente na medida em que para ele o
livre-arbtrio uma fico; ele era sufici-
entemente bom leitor de Schopenhauer
para ter isso presente o tempo todo na ca-
bea). Ento, colocar Nietzsche ao lado
de algum que afirma uma liberdade ab-
soluta uma interpretao um pouco
abusiva. Evidentemente h uma perspec-
tiva causai de interpretao. Porm, o que
justamente causado algo que se pe
diretamente em relao com uma ideia de
fado, de destino. Quer dizer, aquilo que ,
a minha prpria natureza - para usar uma
palavra metafsica -, as minhas aes,
aquilo que acontece a mim, uma decor-
rncia, um efeito da minha prpria "na-
tureza", daquilo que eu sou, do que que-
ro. Isso que eu quero tambm no de-
terminado pela conscincia daquilo que eu
quero, mas, pelo contrrio, determinado
por uma srie de impulsos a respeito dos
quais, da maioria deles, eu no tenho ne-
nhum controle consciente. Nesse sentido
h uma perspectiva determinista, mas fun-
damentalmente porque no existem leis
objetivas, porque a ordem da natureza no
uma ordem providencial, ento, tudo isso
o acaso. Os acontecimentos em torno de
mim e comigo so algo que inevitavelmen-
te pertencem ao acaso, mas exatamente
esta constelao determina rigorosamen-
te a necessidade, a particularidade contin-
gente do meu ser e do meu agir e daquilo
que est ao redor de mim. Eu repito: isso
vai reaparecer para Nietzsche consagra-
do na frmula do amor fati, por qu? Por-
que a aceitao da inevitabilidade do
meu destino, mas, por outro lado, da con-
tingncia desse destino como no estando
ligado nem a uma ordem providencial nem
a uma fixidez imutvel das leis da nature-
za. A ideia que Nietzsche usa a ideia do
lance de dados. Veja, quando voc lana
os dados, voc vai ter um resultado abso-
lutamente determinado e absolutamente
casual. Digamos, o seis, ou o cinco ou o
sete que resulta do lance absolutamente
20
necessrio e no poderia no s-lo, preci-
samente porque ele uma resultante sin-
gular do conjunto das possibilidades da-
das. Mas, por outro lado, ele poderia ser o
cinco, o quatro, o trs ou o um. Ento,
esta relao entre o determinismo e "aqui",
a liberdade, vale dizer eu repito, prefiro a
palavra contingncia, que caracteriza para
Nietzsche a hiptese do eterno retorno. E
exatamente por isso que o eterno retor-
no pode aparecer, na minha opinio, como
um imperativo tico: aja "como se";
Nietzsche no est supondo aqui que h
um livre-arbtrio que possa determinar, de
uma forma absolutamente autrquica e
posta sobre o poder da conscincia a mi-
nha vida e o meu destino. Ento, relativa-
mente a isso, no h uma autonomia da
conscincia nem uma autonomia da ver-
dade. Voc poderia dizer: h, ento, o
determinismo; mas, por outro lado, como
esse determinismo no est ligado nem
imutabilidade das leis naturais nem a uma
perspectiva providencial, aquilo que eu
sou, o meu ser e o meu agir se colocam
sob a minha inteira responsabilidade. Sou
eu quem decide aquilo que eu fao agora.
E veja, o mais curioso na minha opinio a
esse respeito que eu decido aquilo que
eu fao agora, sem pretender que isso deva
valer para todos os homens. Precisamente
porque h o reconhecimento da diversi-
dade, da heterogeneidade, da contingn-
cia de cada um e h, portanto, a renncia
aqui pretenso imodesta de definir a
partir de si, digamos assim, o universal
abstrato do que seria o humano. Agora,
repito, as coisas esto ligadas umas s
outras. Esta perspectiva s subsiste por-
que insubsiste a perspectiva do universal
abstrato. Quer dizer, diante da plena
insubsistncia da perspectiva socrtico-
platnico-crist, que a perspectiva
kantiana, o imperativo tico s pode ser
universal, vale dizer, para Nietzsche, do
rebanho. Mas porque essa interpretao se
desgastou historicamente, porque esses
valores se desacreditaram, ento, pode
surgir, se voc quiser - a sua ltima deri-
vao - a hiptese do eterno retorno. Por
isso, para Nietzsche, a hiptese do eterno
retorno faz parte, ou, pelo menos, pode
fazer parte, ou, se voc quiser, e at
melhor, mais ou menos contempornea
do tema da auto-superao da moral. A
moral crist, essa que se desfaz, e se des-
faz sob os golpes do martelo de Nietzsche,
ela se desfaz a partir de si mesma. real-
mente uma auto-superao, uma auto-su-
presso, e o discurso nietzschiano opera
essa dissoluo no interior dela mesma,
de um movimento, para usar uma expres-
so heideggeriana, historial, que foi posto
em curso precisamente pela metafsica
socrtico-platnica.
(CS.)". Qual o parentesco do eterno retor-
no com outras concepes da histria da
filosofia sobre o tempo?
(O.G.): Evidentemente que o eterno re-
torno uma hiptese cclica do tempo,
uma hiptese mtica, que, dessa maneira,
guarda estrito parentesco com as hipte-
ses mticas conhecidas desde a mais re-
mota antiguidade. Por exemplo, tanto na
Grcia quanto na Prsia. Agora, eu talvez
pudesse me permitir, se vocs me autori-
zarem, a insistir muito mais numa outra
21
questo: no tanto parentesco, que a hi-
ptese cclica que o eterno retorno tem
com outras concepes da histria da fi-
losofia, mas na diferena entre a hiptese
cclica e a hiptese escatolgica, que a
hiptese, no fundo, para Nietzsche, hege-
mnica no Ocidente: a concepo do tem-
po tal como ela pensada pelo platonismo-
cristianismo, que um tempo linear, ao
trmino do qual ocorre algo assim como
umschatos, um fim e uma redeno.
exatamente esta hiptese crist do tempo,
que pensa o tempo como transio para
um alm do tempo, para a eternidade, que
pensa justamente o histrico e o temporal
sob a perspectiva de uma origem da qual
se decaiu e de um fim redentor, exata-
mente contra isso que o eterno retorno
pensado. No somente contra esse tempo
escatolgico pensado sob o vis explcito
da teologia e da metafsica, mas, em espe-
cial no pensamento de Nietzsche, contra
esse tempo escatolgico pensado como
escatologia leiga da histria, e aqui ele est
pensando no apenas a teologia crist, na
metafsica platnica explicitamente, mas,
em especial, na historiografia europeia,
especialmente na historiografia alem e na
filosofia da histria do sculo XVI I I e
mesmo do sculo XI X. Em especial, mui-
to particularmente, o idealismo alemo.
Hegel, Schelling e mesmo a esquerda
hegeliana que ele conhecia atravs do
Feuerbach. E se ns pensarmos, por outro
lado, que desse idealismo alemo, tanto
da sua vertente direita quanto da sua
vertente esquerda resultaram formas ou-
tras de utopia ideolgica, que tm a ver
com o tempo pensado escatologicamente,
a partir da d para se entender a enverga-
dura, digamos assim, crtica, que Nietz-
sche pretende atingir com a hiptese do
eterno retorno. Vale dizer: a ideia de um
tempo pensado como escatologia, a ideia
de uma histria pensada como escatologia
um consolo metafsico para o drama da
finitude. , por conseguinte, uma espcie
de fuga diante do tempo e do seu passar.
E para Nietzsche, tanto Kant quanto Hegel,
quanto todo o idealismo alemo, no so
outra coisa seno uma espcie de deriva-
o, transformao da teologia crist, que,
por sua vez, uma espcie de teologia pla-
tnica. Ento, o eterno retorno se coloca
no em parentesco com relao a isso, mas
o eterno retorno desejado, voluntrio e
querido, exatamente como contradiscurso
a essa escatologia da histria.
(C.S.): H um desafio importantssimo na
concepo nietzschiana, de uma forma ge-
ral, que o desafio de se transformar uma
posio que inicialmente reativa cor-
rente predominante do pensamento oci-
dental, em uma posio afirmativa. Como
fazer para sair do efeito simplesmente cr-
tico-reativo de se contrapor s ideias pre-
dominantes e tornar esse pensamento cr-
tico um pensamento afirmativo? Queria
que voc aprofundasse um pouco esta
questo.
(O.G.): Eu queria agradecer especialmente
essa pergunta, porque, na minha opinio,
ela quem fornece uma boa perspectiva
para se pensar aquilo que h de especfico
no pensamento nietzschiano. Veja, propor
o eterno retorno simplesmente contra a
concepo escatolgica ou propor o pr-
22
prio discurso como contradiscurso daria
margem a pensar que voc est inevita-
velmente prisioneiro do outro ao qual seu
discurso s contrape.
(C.S.): Dessa dialtica.
(O.G.): , dessa dialtica, por conseguin-
te, voc pensa dialeticamente. Bem, eu
acho que h essa dialtica mesmo no pen-
samento de Nietzsche, essa tenso mes-
mo, esseplemos, se voc quiser. E so-
bre esseplemos que ele se arma, que ele
se constri. Por outro lado, esse prprio
antagonismo, eu acho que ele s pode ga-
nhar toda a sua dimenso, recuperar toda
a sua dimenso e, por conseguinte, en-
volver esse lado afirmativo sem recair em
nenhuma espcie de sntese pacificadora
la dialtica hegeliana, conservando-se
realmente como tenso, como antagonis-
mo se voc verifica que o prprio Nietz-
sche fala do interior da tradio platni-
co-crist. por causa disso que eu insisto
sempre nessa hiptese e isso que norteia
o meu trabalho atualmente: a ideia de
niilismo como sendo um conceito-chave
para a ltima filosofia de Nietzsche.
somente sob a tica, se voc quiser, som-
bra do niilismo, que voc pode perceber
que este outro que o discurso nietzschiano
articula um outro suscitado do interior
do prprio movimento de desconstituio
da moral crist. Ou seja, porque o mun-
do da metafsica tradicional se desmoro-
nou, , por conseguinte, sob a experincia
radical do niilismo, que se coloca, se de-
termina, para Nietzsche, a tarefa do pen-
sar. Mas um pensar que se coloca intran-
sigentemente contra todas as tentativas de
ressuscitar valores sobrevividos. Desse
ponto de vista, a ideia da sombra do Buda
no fundo da caverna fantstica em
Nietzsche. Se voc afirma apenas que
Deus morreu, o fato de afirmar que Deus
morreu extremamente radical, porque
significa dizer: muitos sculos ainda es-
coaro e ns teremos que nos haver com
a sombra de Deus. O que Nietzsche est
permanentemente fazendo denuncian-
do a sombra, porque a cada tentativa de
recuperao de valores sobrevividos so
novas sombras que aparecem, so novos
sucedneos da redeno. precisamente
isto que Nietzsche est o tempo todo fa-
zendo. Ento, esta afirmao dionisaca
da multiplicidade, da diferena do outro,
etc. alguma coisa que se coloca, se voc
quiser, como consequncia inevitvel da
lgica da prpria metafsica tradicional.
(C.S.): Talvez seja importante insistir nes-
te aspecto, porque corremos o risco de fi-
car, de um lado, na polaridade de autores
que, ao se colocarem externamente a uma
forma de pensamento, realizam um pro-
cesso de desconstruo daquele pensa-
mento e se colocam em uma curiosa neu-
tralidade; e, de outro lado, tambm como
uma afirmao externa, h aqueles que
constroem um novo messianismo. pre-
ciso marcar aqui que o pensamento
nietzschiano nasce imbricado na cultura,
nasce do prprio esfacelamento dessa cul-
tura que ele no uma afirmao externa,
nem uma desconstruo externa.
(O.G.): Realmente, vou insistir na forma
23
como voc coloca essa questo: acho fan-
tstica. Ela nos introduz diretamente nes-
sa perspectiva. Veja quando ele diz o que
que triunfa sobre a moral crist. preci-
samente a veracidade crist. Quer dizer,
essa espcie de probidade incondicional
de confessor que nos faz, em ltima ins-
tncia, que nos probe qualquer espcie de
consolo mentiroso. Veja, afirmar algo que
no seja a pura contingncia, a pura
imanncia e o puro fluxo de novo tentar
resgatar uma forma qualquer ou uma som-
bra qualquer do divino. de novo fugir
da crueza e da radicalidade filosfica e cr-
tica a que nos condena, de certa forma, a
nossa prpria probidade crist. Nesse sen-
tido que o tema da auto-superao da
moral se articula, necessariamente, na
minha opinio, com o conceito de nii-
lismo, porque a prpria sublimao da
veracidade crist que me impede a crena
nos valores sobrevividos. Que me impe-
de, por probidade intelectual, por dever
de honestidade intelectual, continuar re-
correndo - seja isso involuntrio ou cons-
cientemente - mas de continuar preso
sombra de Deus. Ou seja, em ltima ins-
tncia: porque ns somos suficientemen-
te cristos, diz Nietzsche, to radicalmen-
te cristos, que ns temos que levar at
o fim essa veracidade e suprimir, de for-
ma incontornvel, os valores sobrevividos.
Por isso que eu tomei a liberdade de in-
sistir muito mais no no parentesco e sim
na diferena. Mais alguma questo?
(C.S.): Para encerrar talvez possamos vol-
tar ao incio. Fiquei curiosa, e gostaria de
saber se voc teria condies de avanar
aqui para ns as linhas gerais e algumas
das hipteses que voc ir trabalhar nesse
curso de Nietzsche e Freud na Unicamp.
(O.G.): Bom, eu pretendo fazer anlise
cerrada mesmo no texto, uma caracte-
rstica minha de trabalho; seria uma limi-
tao da qual eu no posso de forma ne-
nhuma abrir mo. No posso me libertar.
Eu vou tentar fazer em primeiro lugar uma
anlise do ressentimento na Genealogia
da moral e vou tentar mostrar como a
genealogia do ressentimento nos abre a
perspectiva de uma certa gnese do sagra-
do em Nietzsche, do sagrado e da consci-
ncia moral. Eu pretendo fazer isso mos-
trando como Nietzsche, de fato, perma-
nentemente dialoga com autores que ele
s vezes nomeia e s vezes no nomeia:
como o discurso nietzschiano da Genea-
logia da moral e deAlm de bem e mal
uma desconstituio de certas evidnci-
as aceitas tanto na historiografia quanto
na filosofia do sculo XI X. Eu pretendo
mostrar que Eugen DUhring um pensa-
dor com o qual Nietzsche polemiza o tem-
po todo, pretendo mostrar como a gnese
ativa do ressentimento uma contra-
posio frontal teoria da vingana de
Dhring, e pretendo mostrar como o dis-
curso nietzschiano confessadamente s
pode se constituir como uma hiptese ge-
ntica e esta forma de autoproduo ge-
ntica o que, de certa maneira, pratica-
mente, d sustentao ao discurso do
Nietzsche. Por outro lado, pretendo fazer
o mesmo exame em Freud, em especial
no Totem e tabu e no Moiss e o mono-
tesmo; pretendo mostrar que tambm para
Freud as hipteses psicanalticas so ne-
24
cessariamente genticas; nesse sentido h
uma concordncia explcita entre os dois
autores. Eu pretendo mostrar como tanto
o discurso sobre o sagrado quanto o dis-
curso sobre a conscincia moral esto l i -
gados a algo assim, que a gente, parodi-
ando Freud, poderia chamar de hipteses
fantsticas. A hiptese do assassinato pri-
mordial, de um lado, e em Nietzsche a
ideia absolutamente extravagante da horda
de senhores que se apropria de uma mas-
sa informe, de um bando errante, d a ele
a forma do Estado, etc. Como so, de um
lado e de outro, hipteses fantsticas - se
voc quiser -, mitos. E eu pretendo mos-
trar qual o estatuto dessas hipteses em
um e em outro discurso. Por que que
Freud precisa recorrer a essas hipteses e
o que que essas hipteses produzem, qual
o ganho epistemolgico que elas pro-
movem no texto do Freud e, por outro
lado, por que Nietzsche formula uma hi-
ptese, digamos assim, aparentemente dis-
paratada como essa. Eu pretendo mostrar
que no caso de Nietzsche trata-se de um
objetivo polmico preciso, trata-se de
desconstituir certas evidncias como a do
contratualismo, por exemplo, certas evi-
dncias jurdicas com as quais o sculo
XI X estava habituado a pensar, como, por
exemplo, a categoria de finalidade; e que
para Freud trata-se de um certo ideal de
cincia em que algumas hipteses, aparen-
temente, pelo menos de incio, no ampa-
radas suficientemente por dados antropo-
lgicos ou das cincias naturais, etc, po-
dem permitir um certo ganho terico que
consiste fundamentalmente, essa pelo
menos a minha opinio, em estabelecer
analogias entre sries de explicao ou
sries de eventos aparentemente desco-
nectadas, como por exemplo os episdios
que voc observa na prtica clnica ao lon-
go do desenvolvimento da libido indivi-
dual e, por outro lado, uma certa perspec-
tiva de trajetria evolutiva dos sistemas
de pensamento. preciso que voc encon-
tre o elemento ou o conjunto que torna
possvel estabelecer relaes de analogi-
as entre sries causais. Agora, se voc dis-
pe de uma perspectiva como essa, voc
pode estabelecer uma sntese justa entre
cadeias de explicao e sries de eventos,
que aparentemente no mantinham rela-
o entre si. Agora, precisamente esta sn-
tese, que se produz por analogia, pode for-
necer uma perspectiva global -, se voc
quiser-, no sistmica ou sistemtica, mas
pelo menos plausvel e dessa forma - de
alguma maneira convincente -, articulan-
do entre si sries de diferentes fenme-
nos, que se pode no somente relacion-
los entre si, mas efetuar transposies e
esclarec-las mutuamente.
25
D O S S I
DIZER O TEMPO
Jeanne Marie Gagnebin*
A Benedito Nunes
Que , pois, o tempo? Quem poder explic-lo clara e breve-
mente? Quem o poder apreender, mesmo s com o pensamen-
to, para depois nos traduzir com palavras o seu conceito? E que
assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do
que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que di-
zemos. Compreendemos tambm o que nos dizem quando dele
nos falam. O que , por conseguinte, o tempo? Se ningum mo
perguntar eu sei, se o quiser explicar a quem me fizer a pergun-
ta, j no sei. (Santo Agostinho. Confisses, XI, 14 [17]).
Com essa exclamao famosa, no centro do Livro XI de suas Confisses, Santo
Agostinho inicia uma interrogao filosfica que marca, at hoje, a reflexo ocidental
sobre memria, tempo e histria. Para essa discusso, escolhi alguns aspectos dessa
interrogao, e isso por duas razes principais.
Primeira razo: porque o gnero discursivo das Confisses se situa num cruza-
mento privilegiado entre histria e literatura. Com a histria, ele compartilha uma
pretenso de verdade como reconstruo exata e verificvel dos acontecimentos do
passado. o motivo essencial da 'sinceridade', que, desde Agostinho at, no mnimo,
Rousseau, quem sabe at mesmo Althusser, serve sempre de justificativa para o estra-
nho empreendimento da narrao autobiogrfica. Com a literatura, o gnero das Con-
fisses compartilha as estratgias da fico, em particular a construo do enredo, da
trama (aquilo que Ricoeur [1983; p. 55 et seqs.] chama de "mise en intrigue"); cons-
truo que remete a uma noo de verdade no mais como exatido da descrio, mas
sim, muito mais, como elaborao de sentido, seja ele inventado na liberdade da ima-
ginao ou descoberto na ordenao do real.
Em vez de falar na construo do tempo e da memria primeiro na histria e,
depois, na literatura, prefiro, de antemo, tratar desse discurso fronteirio, ambguo,
no qual a segurana da verificao histrica e a arbitrariedade da imaginao literria
se relativizam e se constituem mutuamente.
Professora do Programa de Estudos Ps-Graduados em Filosofa da PUC-SP e IEL-Unicamp. Autora de
Histria e narrao em Walter Benjamin (So Paulo, Perspectiva, 1994).
27
Segunda razo da minha escolha da reflexo agostiniana sobre tempo e memria
nas Confisses: ela marca um corte fundamental com as tentativas da filosofia antiga
(em particular em Plato e em Aristteles) que definiam o tempo em relao ao movi-
mento de corpos externos, em particular em relao ao movimento dos astros. Ao
propor uma definio do tempo como inseparvel da interioridade psquica, Agosti-
nho abre um novo campo de reflexo: o da temporalidade, da nossa condio espec-
fica de seres que no s nascem, e morrem 'no' tempo, mas, sobretudo, que sabem,
que tm conscincia dessa sua condio temporal e mortal. Em particular, como j o
indica nossa citao inicial, que podem falar e pensar no tempo. Veremos que essa
ligao entre tempo e linguagem (fala do tempo, tempo da fala/escrita do tempo, tem-
po da escrita/msica do tempo, tempo da msica) ser absolutamente decisiva para a
prpria possibilidade de uma definio do tempo - e da memria - por Agostinho. Em
outros termos: somente pela reflexo sobre nossa temporalidade, em particular so-
bre a temporalidade inscrita em nossa linguagem, que podemos alcanar uma reflexo
no aportica sobre o tempo. Sigo aqui, como em toda essa exposio, a leitura que
Paul Ricoeur (ibid.) faz das Confisses, mais especificamente sua tese que "... a espe-
culao sobre o tempo um matutar inconclusivo ao qual s replica a atividade
narradora" (p. 21).
No caso especfico das Confisses - e isso d leitura desse texto, independen-
temente do valor de edificao espiritual que ele possa ter, o prazer da descoberta que
a aproxima da leitura de um romance de aventura e de suspense -, a interrogao sobre
o tempo tambm , de maneira inseparvel, uma interrogao sobre o eu narrador,
sobre a identidade narrativa portanto, e uma interrogao sobre o sentido desse empre-
endimento comprido e complicado que so as prprias Confisses, sobre a enunciao
dessa narrativa. A conjuno dessas trs questes - sobre a natureza do tempo, sobre a
identidade do sujeito narrador, sobre o sentido da narrao - explica tambm o recurso
frequente, cortando a narrativa propriamente dita, orao. Agostinho no rezaria,
pois, somente em virtude dsua santidade j presente, mesmo que ainda no canoniza-
da; rezaria muito mais para retomar flego na sua longa busca e, simultaneamente,
para se certificar, diante da bondade e da eternidade divinas, do possvel sucesso de
sua empresa. O contraste entre tempo humano e eternidade divina se desdobra, desse
modo, no contraste entre os longos e difceis meandros da histria humana que se vive
e se conta e a oniscincia instantnea de Deus que no precisa de nossas histrias para
conhecer a verdade: "Sendo tua a eternidade, ignoras porventura Senhor, o que te
digo, ou no vs no tempo o que se passa no tempo? Por que razo te narro, pois,
tantos acontecimentos?" Assim comea o livro XI , ligando estreitamente a questo
sobre a natureza do tempo sobre o sentido da narrao das Confisses. A essa orao
inicial corresponde uma segunda, no ltimo trecho do Livro XI , mais precisamente no
intervalo crucial entre as refutaes das definies do tempo como medida do movi-
28
mento dos corpos e a aquisio progressiva da definio agostiniana do tempo como
"distentio animi", "distenso da alma/do esprito":
Confesso-te, Senhor, que ainda ignoro o que seja o tempo. De
novo te confesso tambm, Senhor - isto no o ignoro -, que
digo estas coisas no tempo e que j h muito tempo que falo do
tempo, e que esta longa demora no outra coisa seno uma
durao de tempo. E como posso saber isto, se ignoro o que seja
o tempo? Acontecer talvez que no saiba exprimir o que sei?
Ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro! (XI, 25 [32],
trad. modificada).
Entre essas duas oraes, Agostinho j venceu dois obstculos maiores apreen-
so desse tempo que condio transcendental do seu discurso sobre ele, fundamento
da prpria fala que se furta a ela. Um obstculo , como j dissemos, a refutao das
definies antigas do tempo segundo o movimento dos corpos. No me estenderei
aqui a esse respeito. O outro obstculo, muito maior para nossa sensibilidade moder-
na, a refutao dos argumentos cticos sobre a inexistncia do tempo. Argumentos
angustiantes, que voltaro, reiteradas vezes, nas numerosas queixas filosficas ou po-
ticas sobre caducidade, a fragilidade, mais a mortfera transitoriedade do tempo hu-
mano: o passado no existe, pois j morreu; o futuro tampouco, pois ainda no ; e o
presente, que deveria ser o tempo por excelncia, porque a partir dele que se afirmam
a morte do passado e a inexistncia do futuro, o presente, ento, nunca pode ser
apreendido numa substncia estvel, mas se divide em parcelas cada vez menores at
indicar a mera passagem entre um passado que se esvai e um futuro que ainda no .
Aos assaltos do ceticismo, Agostinho no retruca - malgrado sua santidade! - por uma
afirmao de crena ou de f, mas sim por umareflexo crtica, e, em seguida, por
uma reflexo pragmtica sobre nossa linguagem.
Explico melhor. Uma reflexo crtica sobre nossa linguagem: a impossibilidade
de determinar onde se encontra esse tempo sempre fugidio, em particular esse presen-
te que "no tem nenhum espao" ( "praesens autem millum habet spatium ", XI15,20),
no acarreta, como o querem os cticos, a inexistncia em si do tempo, mas somente
sua inexistncia espacial objetiva. Dito de outra maneira: a nossa propenso, quase
natural, de falar e de pensar no tempo em termos (em imagens, em conceitos) espaciais
que nos impede de entender sua verdadeira natureza.
Essa critica j se encontrava no Livro X das Confisses, no qual Agostinho reco-
nhecia que era impossvel falar em termos espaciais da memria, pois nenhuma met-
fora (grandes "campos", "antros e cavernas sem nmero", "vastos palcios", "grande
receptculo" da memria, etc.) consegue dar conta das imagens que a memria "en-
cerra" "dentro" de si. Essa 'dimenso' infinita da memria provoca em Agostinho,
como mais tarde em Proust, uma reao de admirao e de susto, quase de medo.
29
Mesmo que no se pense nas ideias inatas oriundas de Deus e sempre presentes 'em'
nossa memria, tambm quando no, o percebemos, mesmo que se pense somente na
memria profana, oriunda das sensaes e do aprendizado humanos, a profuso de
imagens que nos invade, s vezes nossa revelia (cf. a bela anlise das imagens que
"irrompem aos turbilhes" contra nossa vontade; X , 8, 12), exige o abandono da des-
crio da atividade espiritual do lembrar em termos espaciais. Para poder descrever,
pois, seus prprios atos, o esprito no pode se pensar a si mesmo como o palco, gigan-
tesco e sempre cambiante, de uma representao infinita, no pode se pensar em ter-
mos de espao e de representao, mas deve, para se pensar a si mesmo, pensar simul-
taneamente o que est 'alm' dele, o que, portanto, lhe escapa, o que ele no pode nem
conter nem compreender. Agostinho expe de maneira belssima essa impossibilidade
de o esprito se apreender a si mesmo, se quiser dizer sua verdade mais ntima:
E grande esta fora (vis) da memria, imensamente grande,
meu Deus. um santurio infinitamente amplo. Quem o pode
sondar at ao profundo? Ora, esta potncia prpria do meu
esprito e pertence minha natureza. No chego, porm, a apre-
ender todo o meu ser. Ser porque o esprito demasiado estrei-
to para se conter a si mesmo? Ento onde est o que de si mesmo
no encerra? Estar fora e no dentro dele? Mas como que o
contm? (X, 8, 15)
E no fim do Livro X , antes de iniciar a anlise do tempo no livro seguinte, Agos-
tinho evoca a atividade psquica e espiritual por excelncia, a busca de e o encontra
com Deus, como sendo o paradoxo de um movimento incessante que no acontece em
lugar nenhum: "E no h nenhum lugar, quer retrocedamos, quer nos aproximemos, e
no h nenhum lugar". ( "Et nusquam locus, et recedimus et accedimus, et nusquam
locus. ") (X, 26, 37)
Pensar a memria no em categorias espaciais, mas em termos de atividade ps-
quica: a mesma tentativa se repete a respeito do tempo no Livro XI - o que, podemos
not-lo, mais temerrio ainda, pois se a memria parecia estar dentro de ns, somos
ns, agora, que parecemos estar dentro do tempo. A estratgia de crtica da linguagem
espacial, imprpria para dizer tanto a memria como o tempo, se desdobra, no Livro
XI , numa estratgia maior que poderamos chamar de argumentao pragmtica, isto
, no s de reflexo critica a respeito de nossas categorias lingusticas, mas tambm
de reflexo sobre os vrios usos que fazemos da linguagem, sobre as vrias formas de
empreg-la, sobre os diferentes 'jogos de linguagem' diria, hoje, um Wittgenstein. J
ao colocar a questo central "quid est enim tempus? " ("que pois o tempo?"), Agos-
tinho diferenia entre a tentativa aportica de explicar a natureza do tempo e, em
contraposio, a nossa fala comum, que utiliza sempre essa noo de tempo, como se
soubssemos, de maneira intuitiva, inconsciente, mas prtica, o que ele :
30
Quando dele falamos compreendemos o que dizemos. Compre-
endemos tambm o que nos dizem quando dele nos falam. O
que , por conseguinte, o tempo? Se ningum mo perguntar, eu
sei, se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, j no sei
(XI, 14, 27)
Agostinho distingue, portanto, uma prtica explicativa, analtica, e uma prtica
comum, cotidiana, mais fundamental que a primeira, que permite resistir aos sofismas
do pensamento entregue a si mesmo. Com efeito, essa prtica comum que refuta a
demonstrao da inexistncia do tempo pelos cticos. "E contudo, Senhor, percebe-
mos os intervalos dos tempos, comparamo-los entre si e dizemos que uns so mais
longos e outros so mais breves. Medimos tambm quando esse tempo mais compri-
do ou mais curto do que outro..." (XI, 16,21). Esse protesto do sentimus, comparamus,
dicimur, metimus , como o ressalta Ricoeur (1983; p. 24), o protesto de nossa ativida-
de sensorial, lingstica e prtica, que no se deixa intimidar pelas sutilezas
argumentativas dos filsofos. O mesmo recurso nossaprtica discursiva fornece
mais um elemento para recusar a suposta inexistncia do tempo: se no houvesse nem
passado nem futuro, como poderamos falar a respeito deles? Ora, ns contamos o
passado, distinguimos o que nele aconteceu ou no, portanto o verdadeiro do falso em
relao a ele; simetricamente, podemos prever o futuro e verificar a verdade ou a
falsidade de nossas previses. Podemos observar que esse raciocnio se aplica pr-
pria atividade narrativa de Agostinho nas Confisses: se no pudesse lembrar do pas-
sado, saber o que nele aconteceu, no poderia narrar sua infncia e sua juventude -
tema dos primeiros livros das Confisses - nem chegar a esse momento de auto-refle-
xo narrativa que constitui a especulao do Livro XI sobre o tempo, ou ainda: a
prpria narrao das Confisses pressupe, como condio transcendental, a existn-
cia do passado, portanto do tempo passado e do tempo presente em que se escreve,
mesmo que no se saiba como explicar ou definir essa existncia.
Pensar o tempo significa, portanto, a obrigao de pensar na linguagem que o diz
e que "nele" se diz. H no texto agostiniano um deslocamento progressivo de uma
reflexo - aportica - sobre o tempo, como um certo tipo, misterioso e inapreensvel,
de substncia, para uma auto-reflexo sobre as vrias atividades humanas. Esse deslo-
camento assinalado pela passagem das 'substantivas neutras singulares', Praeteritum,
Praesens, Futurum, para a forma plural adjetiva, Praeterita, Praesentes, Futura -
acontecimentos passados, presentes, futuros (Ricoeur, 1983; p. 26). Num segundo
momento, passa-se da reflexo sobre os acontecimentos ou as coisas em si mesmas
(Res ipsae) para uma reflexo sobre as rastros (vestigio), ou as 'imagens' que deixam
na alma, pois, como o diz Agostinho,
(...) ainda que se narrem os acontecimentos verdicos j passa-
dos, a memria relata no os prprios acontecimentos que j
decorreram, mas sim as palavras concebidas pelas imagens da-
31
queles fatos, os quais, ao passarem pelos sentidos, gravaram no
espirito uma espcie de vestigio (XI, 18,23).
No vou me demorar aqui nas dificuldades epistemolgicas dessa teoria do
vestigium, dificuldades apontadas por todos os comentadores (Ricoeur, 1983, pp. 28
ss; e Gilson, 1969; em particular a 1
1
parte, capitulo 5). Queria ressaltar muito mais que
essa noo de vestigium, de 'rastro', opera um duplo movimento: movimento de
dessubstancializao do tempo, como j apontei, pois a ideia de rastro alude ao estatu-
to ontolgico paradoxal de um ser que no mais (a esse respeito, cf. Freud e seu
bloco mgico ou Derrida e suas traces), e movimento de interiorizao na alma, pois,
agora, trata-se de analisar a atividade psquica especfica que reconhece imagens e
rastros com ndices temporais diversos. A questo inicial, portanto, se transformou.
De uma questo sobre a essncia ou sobre a substncia ("Que , pois, o tempo?")
passa-se a uma questo sobre as condies transcendentais de nossa apreenso, pela
atividade intelectual e lingstica, no esprito ou na alma, como diz Agostinho, de trs
modalidades diferentes de tempo:
Mas talvez fosse prprio dizer que os tempos so trs: presente
das coisas passadas, presente das presentes, presentes das futu-
ras. Existem, pois, estes trs tempos na minha mente que no
vejo em outra parte: lembrana presente das coisas passadas
("praesens de praeteritis memoria "), viso presente das coisas
presentes ("praesens depraesentibus cantuitus") e esperana/
expectativa presente das coisas futuras ("praesens de futuris
exspectatio") (XI, 20, 26).
Esse resultado parcial recoloca, porm, o problema j comentado no Livro X da
insuficincia do vocabulrio espacial para descrever a atividade espiritual. No basta,
pois, passar de uma noo espacial exterior do tempo a uma noo espacial interior,
mesmo que houvesse a um progresso em direo a uma descrio mais especfica de
como agimos 'no' tempo, 'com' o tempo, 'sobre' o tempo. Agostinho retoma e am-
plia a questo ao se perguntar no mais sobre a essncia do tempo, mas sobre nossas
prticas de medio: como conseguimos medir o(s) tempo(s) se esse(s) no tiver(em)
espao? (XI , 21,27). Essa nova pergunta leva exausto a contradio entre a realida-
de da ao subjetiva (da medida) e a insuficincia do vocabulrio espacial. Os exem-
plos de Agostinho so todos emprestados - vale a pena ressalt-lo mais uma vez - do
domnio da linguagem: recitao de um poema, canto de um hino, medida das slabas
no verso. Nesse momento crucial do Livro XI , no qual se alcana, a duras penas, uma
definio, a questo da linguagem - esse estranho ser que s remete s coisas porque
presentifica sua ausncia - e a questo do tempo - esse outro estranho ser que no se
deixa agarrar em seu incessante escapulir -, ambas questes se unem. Com efeito, a
relao entre tempo e linguagem no , como parecia primeira vista, uma mera rela-
32
o de continente e de contedo, mas, criticadas essas categorias espaciais que nos
confundem em vez de nos esclarecer, muito mais profundamente, uma relao
transcendental mtua: o tempo se d, de maneira privilegiada, minha experincia em
atividades de linguagem - no canto, na recitao, na escrita, na fala - e s consigo
falar, escrever, cantar e contar porque posso lembrar, exercer minhaateno eprever.
Cito o belo pargrafo 28, 38:
Vou recitar um hino que aprendi de cor. Antes de principiar, a
minha expectativa estende-se a todo ele ("in totum exspectatio
mea tenditur "). Porm, logo que o comear, a minha memria
dilata-se ("tenditur in memoria mea ") colhendo tudo o que pas-
sa de expectao para o pretrito. A vida deste meu ato divde-
se em memria, por causa do que j recitei, e em expectao,
por causa do que hei de recitar ("At que distenditur vita huius
actionis meae in memoria ...et in exspectionem... "). A minha
ateno est presente e por ela passa [melhor: lanado, trans-
portado] o que era futuro para se tornar pretrito ("praesens
tamen adest attentio mea, per quam traicitur quod eratfuturum,
ut fiat praeteritum "). Quanto mais o hino se aproxima do fim
[melhor: quanto mais se faz avanar e se faz avanar ("quanto
magis agitur et agitur")] tanto mais a memria se alonga e a
expectao se abrevia, at que esta fica totalmente consumada,
quando a ao, j toda acabada, passar inteiramente para o do-
mnio da memria ("quum tota illa actio finita transierit in
memoriam ").
Essa descrio exemplifica a definio, j proposta por Agostinho em 26,33, do
tempo como distensio animi, distenso da alma. Observemos aqui que Agostinho no
chega a essa definio por uma srie de dedues lgicas rigorosas, pois a condio
transcendental da temporalidade em relao a nossa linguagem e a nosso pensamento
impede que se possa refletir sobre ele como se fosse um objeto exterior ao pensar.
Agostinho procede muito mais por uma anlise paciente que poderamos chamar de
fenomenolgica (alis Husserl e Heidegger lembraro muitssimo do Livro XI das
Confisses [Ricoeur, 1983; p. 34]), uma tentativa de descrio daquilo que acontece
quando agimos - e, em particular, quando falamos, contamos ou cantamos - nessa
imbricao originria entre ao, linguagem e temporalidade. Ou ainda: Agostinho
no tenta mais falar, de fora, sobre o objeto tempo, mas sim descrever, ladeando com
o pensar o prprio pensamento, nossa experincia do tempo. Ora, essa no se diz em
termos espaciais objetivos, mas em termos ativos de esticamento, de dilacerao, de
tenso entre o lembrar e o esperar. No trecho que acabamos de ler, encontramos os
'substantivos' principais desse movimento da alma: distentio e attentio (s vezes tam-
bm o sinnimo intentid). A distentio caracteriza mais uma tenso em sentidos opos-
33
tos, portanto uma luta incessante, dolorosa, entre a ao da lembrana (do passado) e
ao da expectativa (do futuro); a attentio designa muito mais a concentrao da ativi-
dade intelectual que tenta pensar essa luta, isto , a intensidade de um presente que no
mais mero ponto indiferente de passagem, mas sim instante privilegiado de apreen-
so dessa no-coincidncia, tomada de conscincia ativa desse incessante esticamento.
Como Ricoeur (ibid.; p. 34 et seqs.) o sublinha com fora, justamente o
aprofundamento nesta falha dolorosa da temporalidade humana, falha da qual os cd-
eos queriam deduzir a inexistncia do tempo, que permite a Agostinho sua verdadeira
compreenso.
A estrutura temporal revelada pelo exemplo acima da recitao aplicada, em
seguida, a qualquer forma de narrativa, seja ela mais curta (na silaba), seja ela mais
comprida como "a histria - inteira - dos filhos dos homens" (28, 38). Mais essenci-
almente, essa distenso caracteriza nossa existncia temporal, portanto nunca plena de
si mesma numa beatitude eterna que s cabe a Deus, mas sim dilacerada numa inces-
sante e dolorosa no-coincidncia consigo mesma, nesse desacerto, nesse desassosse-
go que nos faz sofrer- r e, inseparavelmente, procurar, inventar, desmanchar, construir
e reconstruir sentido(s).
Chego minha concluso que empresto, mais uma vez, bela leitura de Ricoeur.
No texto agostiniano, obvio, essa reflexo sobre a temporalidade humana dilacerada
s adquire seu sentido ltimo em oposio plenitude da eternidade divina. No entan-
to, no h somente um antagonismo irredutvel entre temporalidade humana e eterni-
dade divina, mas, na reta linha da teologia agostiniana da encarnao e da iluminao,
ama relao mais secreta e fundadora de co-pertena: a prpria visada da experincia
temporal, na sua intensidade presente (attentio ou intentio no vocabulrio de Agosti-
nho) torna-se como que uma imagem do presente eterno de Deus em ns. A dialtica
tempo-eternidade corresponde, no seio da prpria experincia temporal, a dialtica
entre distentio - a tenso com o dilaceramento doloroso - e intentio ou attentio - a
tenso como intensidade, fora, concentrao. Assim, ainda segundo Ricoeur, a oposi-
o entre tempo humano e eternidade divina no acarreta s, como uma leitura edificante
barata induziria a pens-lo, uma desvalorizao do primeiro, falho e transitrio, em
relao plenitude da segunda. De maneira muito mais instigante, esse constraste
introduz, dentro da experincia humana do tempo, uma diferenciao qualitativa es-
sencial. Ela permite, nas palavras de Ricoeur, uma teoria das vrias intensidades tem-
porais, um aprofundamento da temporalidade humana, contra a concepo vulgar de
um tempo cronolgico, linear, "homogneo e vazio" (no dizer de Walter Benjamin).
Permanece a seguinte questo: hoje, quando no podemos mais acreditar, com a
mesma certeza tranquila, que o Outro de nosso tempo seja a eternidade divina, como
conseguir, porm, uma compreenso diferenciada, inventiva da temporalidade - e da
histria! - humana em suas diversas intensidades? Questo essencial qual o pensa-
34
mento teolgico de Agostinho responde e qual, em sua profanidade radical, a refle-
xo contempornea, seja ela histrica, potica ou filosfica, no pode se furtar.
Referncias bibliogrficas
AGOSTINHO, Santo. Confisses, XI, 14 [17], Trad. de J. Oliveira Santos, S.J. e A. Ambrsio de
Pina, S.J. So Paulo, Abril Cultural, 1980. (Os Pensadores)
GILSON, Etienne (1969). Introduction V tude de Saint Augustin. Paris, Vrin.
RICOEUR, Paul (1983). Temps et rcit, I. Paris, Seuil.
35
A HISTRIA E O ESTRANHO *
Luiz A. M. Ceies**
O captulo V de A interpretao dos sonhos, dedicado elucidao do material
e das fontes do sonho, aps discutir a presena, no sonho, de material atual indiferente,
de material recente significativo e de material antigo significativo, permite-nos, em
suas ltimas sees, perguntar pelo modo de presena desse material antigo (infantil)
significativo e, na terminologia metapsicolgica, reprimido. nessa condio que se
encontra o desejo despertado no sonho e que, ento, se faz fonte do sonho.
Dizendo que na alma existem desejos reprimidos, Freud (1900 a [1899];
p. 247) acrescenta: "A expresso 'existem' no a entendemos no sentido histrico, a
saber, que tais desejos estiveram dados e depois se os aniquilou (...) tais desejos se-
guem existindo, mas ao mesmo tempo uma inibio pesa sobre eles".
Desse modo, o antigo, o infantil, continua existindo de maneira no-histrica,
presentifica-se mesmo por sua no-historicidade. Mais frente, Freud (ibid.; p. 259)
completa: "No esto mortos [os desejos antigos] como entendemos que o esto nos-
sos defuntos, seno como as sombras de A Odisseia, que, to logo bebem sangue,
despertam para uma certa vida."
Presentifica-se o infantil por sua no-historicidade e de maneira no-histrica,
tem uma certa vida, esta vida que pode ser retomada no sonho, por exemplo. Alis,
Freud o diz explicitamente, vida a que "pode o sonho fazer retroceder todas as noites"
(ibid.; p. 255).
Finalmente Freud (ibid.; p. 257) completa: "A essncia mais profunda e eterna
da humanidade, que o poeta conta poder despertar em seu auditrio, so aquelas mo-
es da vida da alma que tm sua raiz na infncia que depois se fez pr-histria".
Tomo a expresso 'pr-histria', introduzida a por Freud, para conduzir nosso
percurso.
* Este artigo parte de um trabalho mais extenso que tenho desenvolvido sobre a funo do tempo na
elaborao psicanaltica freudiana. A seo aqui destacada prope uma compreenso da concepo de
histria na psicanlise freudiana, que gostaria de trazer mais imediatameiite reflexo pblica, em face do
seminrio sobre o 'esuangeiro' realizado no segundo semestre de 1994, na PUC-SP.
Para o ttulo, inspirei-me em histrias bastante familiares, como A bela e a fera ou O mdico e o monstro.
** Psicanalista, doutor em Psicologia Clnica, professor da UnB.
37
' Pr-histria' se ope histria, primeiro no sentido de que naquela no h
histria; trata-se propriamente de um tempo mtico, onde o tempo histrico no est
presente, onde no se pode mais pensar com os parmetros temporais habituais de
nossa histria. Mas tambm uma pr-histria que pode ser despertada, condio com
a qual conta o poeta, este despertar que nos proporciona toda noite o sonho. Como o
desejo que existe em sentido no-histrico, a pr-histria tem para Freud o sentido do
que permanece, e que permanece como pr-histria, quer dizer, como o que no se
deixa submeter histria, no se deixa modificar nem morrer: insiste como uma mes-
ma coisa sempre; permanece, no obstante a histria. Como tal, 'pr-histria' no se
deixa fazer histria, est l, como que em um tempo irrecupervel.
De um segundo modo, 'pr-histria' se ope histria, no sentido que, con-
frontada com esta, aquela permanece antiga: anterior histria. Dessa maneira as
moes infantis, a infncia, o antigo permanecem existindo, mas com as marcas de sua
antiguidade. Permanecem com uma marca distintiva de tudo o mais que, para a psique
atual, est igualmente presente. Isto , afinal de contas, o que sustenta Freud (1918b
[1914]; p. 48) em sua formulao metapsicolgica, e que, inclusive, o faz rejeitar a
hiptese (de outro modo sustentada por Jung, por exemplo), segundo a qual as fanta-
sias da infncia seriam simples construes do adulto transpostas para a infncia. Apon-
tamos, segundo essa perspectiva, um modo de presena positiva do parmetro da
temporalidade na metapsicologia freudiana, e no somente no modo negativo da defi-
nio do inconsciente como atemporal. Pois abra-se mo dessa marca positiva da pr-
histria como pr-histria, dessa marca positiva do recalcado como antigo, e se estar
em face de uma impossibilidade de anlise, na especificidade que lhe d a psicanlise.
At mesmo se perderia a especificidade da psicanlise
1
.
Chama-nos a ateno, ainda, a ltima frase de Freud citada, que diz: "infncia
que depois se fez pr-histria". O verbo dessa frase indica uma mudana de condio,
a saber, a "infncia", no seu tempo, no foi pr-histria, ao contrrio, fez-se pr-hist-
ria. Quer dizer, em seu tempo, ela foi histria. "Depois", o advrbio temporal usado
por Freud, "se fez pr-histria". H, portanto, um tempo de converso dessa infncia,
a seu tempo histria, em pr-histria. Com esse advrbio temporal 'depois', Freud
parece colocar-nos diante da ideia de uma histria que transforma uma outra histria
em pr-histria. Como se num determinado e hipottico tempo, uma histria que se
inicia faz, da histria at ento, pr-histria. Mas esta ideia ainda muito simples.
Freud usa o verbo 'fazer' num sentido reflexivo, que nos permite traduzir a frase para:
histria que depois se faz pr-histria. Quer dizer, esse sentido de uso reflexivo que
faz Freud do verbo parece apontar para a particularidade de que a histria que conver-
te a histria em pr-histria , afinal, a mesma histria que a histria convertida em
pr-histria.
Vale a pena estendermos estas reflexes para indicarmos dois caminhos de
elaboraes que esta passagem freudiana pode ensejar.
38
1. A primeira perspectiva de reflexo refere-se a uma histria que transforma
outra histria em pr-histria. Pensaramos, assim, em duas histria: a histria infantil,
depois transformada em pr-histria; e a histria-causa dessa transformao. Um pro-
cesso que pode ser entendido seja pensando-se na hiptese de que duas histrias se
interceptam, transformando a primeira e continuando a segunda como esquecimento
da primeira, seja pensando-se na hiptese de que num determinado momento uma
segunda histria se inicia, transformando a primeira. Vejamos.
1.1. A ideia de uma histria que interceptada por outra, transformando a pri-
meira, , no obstante sua simplicidade, o que especificamente est explicitado na
primeira teoria do trauma. Esta a teoria que deu sustentao primeira compreenso
psicanaltica das psiconeuroses (a 'neurtica', como Freud com muito mau gosto a
designou em uma carta a Fliess). O trauma, ento, pensado como efeito de alguma
coisa estranha, alheia ao sujeito e mesmo objetivamente alheia, como efeito da interse-
o de uma outra histria sobre a histria infantil. a posio dada seduo paterna,
por exemplo. Assim, o destino neurtico do sujeito pensado como produto dessa
violncia, dessa objetividade da seduo.
Dessa maneira formulada, a coisa ainda est muito parcial. certo que tal modo
de explicao permitiria a concepo de todo um aparato profiltico; excluiria, por
outro lado, qualquer possibilidade de 'cura' analtica. O sentido do progresso de Freud
j denuncia essa compreenso parcial, pois foi a cura analtica que lhe permitiu cons-
truir a primeira explicao da psiconeurose. Ela mostra, afinal, que a histria objetiva-
mente alheia termina por constituir-se em histria prpria, da qual, no obstante, o
sujeito se defende, recalcando, transformando sua histria em pr-histria. Podera-
mos dizer que h, nessa perspectiva, dois efeitos dessa interseo de histrias. Primei-
ro, e o que est diretamente indicado por Freud, a transformao da histria infantil em
pr-histria. Trata-se de um processo de defesa que busca eliminar o estranho dessa
intercepo, mas que, pela defesa, constitui estranha (isto , faz pr-histria) a prpria
histria infantil. Segundo, esse estranho que, agora, habita a prpria histria, transfor-
ma esta histria, d-lhe, por exemplo, o destino neurtico. Um esquema:
De qualquer maneira, estamos diante de uma concepo do trauma como efeito
de uma objetividade propriamente alheia histria infantil.
1.2. A hiptese, segundo ainda o primeiro modo de compreenso da passagem
39
deA interpretao dos sonhos que estamos discutindo, uma histria alheia segundo a
qual no intercepta a histria infantil, mas, sim, num determinado momento uma outra
histria se inicia, como histria prpria, e transforma a histria de at ento empre-
historia. Esta hiptese pode ser exemplificada com a teoria do desenvolvimento libidinal,
tal como dela Freud (1916-1917; p. 299) nos d um resumo:
... que a vida sexual - o que chamamos a funo libidinal - no
emerge como algo acabado, tampouco cresce semelhante a si
mesma, seno que recorre a uma srie de fases sucessivas que
no apresentam o mesmo aspecto; , portanto, um desenvolvi-
mento retomado vrias vezes, como o que vai da crislida
mariposa. O ponto de virada desse desenvolvimento a subor-
dinao de todas as pulses parciais sob o primado dos genitais
e, com isto, o submetimento da sexualidade funo da repro-
duo.
O 'Caso Dora', ainda que tenha sido elaborado segundo um momento inicial da
teoria do desenvolvimento libidinal, talvez originrio, , por isso, exemplar a respeito.
Nesse momento, a primeira teoria das psiconeuroses (a 'neurtica') est abandonada
por Freud, ainda que no publicamente. Trata-se, ento, de entender a funo traum-
tica segundo outros modelos que no o da seduo (mesmo que seja possvel apontar
a presena desse modelo no 'Caso'). Como mostramos em outro lugar (Ceies, 1991),
a causa da neurose , ento, creditada por Freud ao surgimento da genitalidade, enten-
dida como ltima posio do desenvolvimento libidinal. Esta ltima convulso vulc-
nica
2
adquire o estatuto de um verdadeiro estranhamento, capaz, inclusive, de reorgani-
zar (ou 'redesorganizar') a histria do desenvolvimento corrente, mesmo que esta seja
j entendida de modo multifacetado e parcializado. Mas h, diz Freud (1905e [1901];
p. 51, n. 45 e p. 77), uma condio para que o surgimento da genitalidade, da libido
genital, tenha um efeito traumtico (atentando-se para o fato de que nesse caso e nessa
passagem, o conceito de trauma no usado por Freud): a condio de que o gozo
genital seja prematuro. Quer dizer, o efeito traumtico do surgimento dessa nova his-
tria, a da genitalidade - e, claro, histria das experincias que tornam a libido genital
em genitalidade vivida -, apia-se sobre numa condio temporal, mais precisamente,
sobre a antecipao da experincia genital
3
.
Em resumo, encontramo-nos diante do seguinte quadro: a) as posies libidinais
podem ser entendidas como incios de novas histrias, que, se no transformam as
anteriores, permitem que elas permaneam; melhor, no as afetam. O 'desenvolvimento
libidinal' no tem, assim, um estatuto desenvolvimentista, como se fosse o crescimen-
to de uma mesma coisa sempre, mas entendido como feixes de histrias parciais,
cada uma delas estendendo-se diacronicamente e relativamente independentes umas
das outras; e b) no esta completamente a posio da genitalidade (pelo menos no
no 'Caso Dora'). No 'Caso Dora' e na citao acima transcrita (de 1916-1917), ela
40
aparece como uma possibilidade de reestruturao das parcialidades anteriores - ela
no , desta maneira, tratada como parcial e tem um momento prprio de surgimento.
Nesse sentido, a genitalidade tem uma funo sinttica, sendo capaz como que de
estruturar as parcialidades das posies libidinais anteriores, capaz de constituir, ver-
dadeiramente, histria. Que essa histria se constitua como estranhamento, incluindo
um estranhamento das posies anteriores, aparece como possibilidade efetiva. Dessa
maneira, no a libido, ou a pulso (usando uma terminologia mais tardia de Freud), se
constitui como o acontecimento traumtico, mas o tempo de seu surgimento: estra-
nha a genitalidade, a vivncia genital, o gozo genital prematuro, isto , antes do tempo
apropriado. Um esquema poderia ser assim proposto:
2. O segundo modo de compreenso da passagem freudiana deA interpretao
dos sonhos que apontamos acima a que reala o uso reflexivo do verbo 'fazer' ("his-
tria que depois se fez pr-histria"), e traz o entendimento de uma estranheza prpria
histria infantil, realizando, em consequncia, uma dificuldade de se manter a distin-
o entre sujeito e objeto, entre subjetivo e objetivo. Trata-se de incorporar histria
infantil uma estranheza que lhe seja prpria. Dito de maneira mais apropriada, diz de
um estranhamento inerente histria infantil. Como se no primeiro modo de compre-
enso delimitado, a sua primeira hiptese (1.1.) reverberasse na segunda (1.2.), ou se
inclusse na segunda, de tal maneira a entender que a histria mesma do sujeito passa
a ter ela um carter de estranheza, de alheamento. S que no mais um alheamento
objetivo, mas somente objetivvel pelo prprio processo de recalque, ao qual, no en-
tanto, se paga um preo, o da neurose. Vejamos.
Caricaturando um pouco a crise da primeira teoria das psiconeuroses
4
, e da
primeira teoria do trauma, nela implicada, bem este passo que, ento, se impe
compreenso freudiana: a compreenso de que a seduo no tem o estatuto de uma
objetividade alheia, mas que expresso da prpria fantasia infantil. Mas uma fantasia
que, nem por isso, deixa de ser traumtica, deixa de ter seu carter de estranheza, de
estrangeiro - um estrangeiro que faz parte da prpria histria infantil, ou, dito ao con-
trrio, uma histria estrangeira a si mesma.
Todos sabemos da historinha que Freud, na poca, conta a Fliess, justificando
essa crise: no acredito que tantos pais assim, dentre eles o meu, sejam to perversos a
ponto de ficarem seduzindo suas filhinhas... as filhinhas o so. A sexualidade, a sexu-
alidade infantil a verdadeira responsvel pela neurose. ela que se constitui no
histria a partir da genitalidade
histrias das posies
parciais da libido
incio da genitalidade
41
estranho radical histria do 'sujeito', mas nela que se constitui a histria, isto , a
histria de que se trata a histria sexual que , ela mesma, estranha, estrangeira.
Mas nem a crise da primeira teoria das psiconeuroses e nem a introduo da
sexualidade infantil, como j apontamos acima, articulam de vez e completamente
essa concepo de um estrangeiro prprio eoriginrio. Essa crise da primeira teoria
do trauma e o debater-se de Freud com ela
5
so reveladores de suas amplas consequn-
cias na compreenso psicanaltica de como, poderamos dizer assim, o homem se
existencializa. Pois ela parece abrir as questes da compreenso psicanaltica da hist-
ria, da histria prpria, do estatuto do sujeito, da alteridade e do objeto, em psicanlise.
No nos parece nem mesmo difcil, ainda que trabalhoso, mostraro esforo freudiano
em articular, compreender ou simplesmente expressar o que a se anuncia, seja na
perspectiva da clnica (refro-me mesmo s histrias clnicas), da tcnica, da meta-
psicologia ou das teorias da sexualidade
6
. Mantendo-me fiel ao objetivo desse artigo,
somente aponto para uma das direes da elaborao freudiana que me parece repre-
sentativa dessa compreenso da estranheza prpria e originria da histria in-fantil.
No mbito da elaborao da questo da sexualidade, parece-me significativa
dessa compreenso a introduo daquilo que Freud chama "organizao genital infan-
til". A organizao genital infantil como uma interpolao teoria da sexualidade
relativamente tardia na obra freudiana, data de 1923 (Freud, 1923e; p. 141). No en-
tanto, j o 'Caso Homem dos Lobos', escrito em 1914, portanto quase dez anos antes,
se apoia completamente na questo da 'castrao', articulando plenamente a compre-
enso da genitalidade infantil. O que me parece absolutamente essencial e caracters-
tico dessa noo de genitalidade infantil no a simples ideia da presena da genitalidade
na infncia, mas sim a de que ela infantil, isto , parcial: ela adquire a significao ou
o estatuto de sexualidade parcial.
Freud no usa, pelo que possa lembrar-me, essa expresso para designar a
genitalidade infantil; quase que se nos impe, ento, como tarefa, mostrar seu carter
parcial na compreenso freudiana. Aqui no vamos seno faz-lo de maneira indicativa.
Basta lembrar, e com ela todas as suas consequncias, a sua qualidade exclusivamente
flica, to essencialmente marcada por Freud, distinguindo-a do que seria a sexualida-
de genital dita adulta. Em outra direo, mas no mesmo sentido, a preocupao, que a
partir de ento se impe a Freud de compreenso da sexualidade feminina, ou, mais
propriamente falando, da constituio da feminilidade, mostrar que muito antes de a
genitalidade ter a funo sinttica a servio da reproduo, como apontamos no item
1.2. acima, ela , ela mesma em sua origem, parcial, infantil.
O fator de distrbio da genitalidade deixa de ser a sua antecipao temporal.
Agora, com a antecipao estrutural da genitalidade, qualquer tempo tempo de seu
surgimento: constitui-se estranho no mais a sua antecipao, mas o seu surgimento -
estrangeira a sua presena.
42
Por outro lado, a perda de um ponto de apoio fundante que permita continuar
falando de histria o que parece se impor de maneira imediata, mais precisamente, a
perda de um ponto de sntese das histrias da sexualidade infantil. A genitalidade,
tornada parcial, perde essa funo originaria. Radicaliza-se o que vnhamos discutin-
do no item anterior. Como falar de histria a respeito de uma multiplicidade de vivncias
parciais, que se organizam apenas de maneira parcial? Como conciliar a noo de
histria com essa caracterstica, to precisamente apontada por Freud, como sendo o
polimorfismo da sexualidade infantil e - veja-se o 'Caso Homem dos Lobos' - das
vivncias infantis? Teramos que pensar em uma diversidade de histrias, em histrias
parciais.
A coisa, no entanto, no to simples assim, pois trata-se, na psicanlise, tam-
bm de dar conta da sexualidade dita adulta e esta, de alguma maneira, apresenta um
carter sinttico e unificado. No curto texto de 1923, 'A organizao genital infantil',
Freud traz, logo nas primeiras duas pginas, essa discusso. Opondo-se sua ideia
anterior de que somente na puberdade se daria o primado dos genitais e com isso a
unificao das pulses parciais, ele completa:
Hoje j no me declararia satisfeito com a tese de que o primado
dos genitais no se consuma na primeira infncia, ou o faz so-
mente de maneira incompleta. A aproximao da vida sexual
infantil do adulto chega muito alm, e no se circunscreve
emergncia de uma eleio de objeto. Ainda que no se alcance
uma verdadeira unificao das pulses parciais sob o primado
dos genitais, no apogeu do processo de desenvolvimento da se-
xualidade infantil o interesse pelos genitais e a atividade genital
adquirem uma significatividade dominante, que pouco vai atrs
da idade madura, (ibid.; p. 146)
Uma dupla condio parece ser dada genitalidade infantil: a de parcialidade e
a de primazia, definindo-se sua propriedade e estranheza. O valor de estranheza dessa
sexualidade se exterioriza, diz Freud (ibid.; p.146), "como esforo de investigao,
como curiosidade sexual". Sehistria o que da ordem da significao, ganham
importncia as fantasias assim construdas, pois so o que do significaes s
vivncias
7
. Mais precisamente, ganha importncia aquilo com que Freud muito cedo
se preocupou, as 'teorias sexuais infantis', que, por suas caractersticas, so parciais,
constituindo-se em sucessivos motivos de estranhamento, de retornos, de correes, e
jamais superadas cabalmente (aptas a fazerem-se pr-histrias).
Se tomarmos o texto do 'Caso do Homem dos Lobos' como expressivo a esse
respeito, percebemos como as diversas histrias vo se constituindo e se interceptando
como que numa espcie de auto-estranhamento, segundo uma temporalidade bastante
caracterstica de ressignificaes e retornos, de tal maneira que poderamos propor os
seguintes esquemas:
43
Pulses parciais uma a uma
Onde: PI .... P4 = pulses, ou mais precisamente, experincia de satisfaes pulsionais.
Ou podemos represent-las em conjunto, assim:
todas
PI P2 P3 P4
Retomando a outra direo de reflexes que a passagem deA interpretao dos
sonhos que estamos tomando como mote permite, apontamos alguns sentidos de de-
senvolvimentos que o advrbio temporal usado por Freud enseja, mais precisamente,
retomamos a ideia de que 'depois' uma histria se transforma. Este advrbio nos con-
duz ideia ou ao conceito que na passagem-more no est propriamente explicitado, o
conceito de 'posterioridade' [Nachtrglich].
Esse conceito, associado teoria do trauma, conduz-nos ao recalque, e bem
precisamente ao recalque em sua acepo de recalque primrio e recalque secundrio.
Para somente sugerir indicando desenvolvimentos possveis, conviria indicar, segun-
do a primeira teoria do trauma, na qual a ideia de recalque primrio no est propria-
mente presente, a funo dessa posterioridade como efetivamente um 's depois' do
efeito do confronto traumtico. Teramos que distinguir a 'experincia' de 'trauma', e
talvez acrescentar a noo de 'cena' para marcar a transformao da "experincia"
histrica em cena traumtica pr-histrica. Teramos que estabelecer ainda a funo
propriamente do inconsciente enquanto condio para o trauma, isto , para a transfor-
mao posterior da histria, isto , da experincia, em pr-histria, isto , em 'cena'.
Condio de inconscincia esta que Freud (1896a, p. 139; 1896b, p. 157; 1896c, p. 185)
estabelece, ainda no interior de sua primeira teoria traumtica.
Em seguida, trataramos de aproximar a concepo propriamente antittica de
' posterioridade', para o que nos alerta Mahony (1992) (para-frente-para-trs - tal como
representamos no ltimo esquema, acima), conceituao do recalque como, diz Freud
no texto sobre o caso Schreber, delineado em trs fases: recalque primrio (que em
certo sentido parece poder ser aproximado condio de inconscincia da primeira
teoria do trauma); recalque propriamente dito (que poderia ser aproximado ao efeito
44
traumtico propriamente dito, na primeira teoria do trauma), e retorno do recalcado
(que poderia ser aproximado idia da permanncia, afinal de contas, da histria trans-
formada em pr-histria, que, como tal, se faz repetir, isto , permanece atual, presen-
te. Melhor dizendo, o retorno do recalcado pode ser aproximado ao efeito da impossi-
bilidade de historiao - ou temporalizao
8
- do que se transformou em pr-histria).
No estou, com essas aproximaes, procurando garantir a unidade da psican-
lise, apontando ideias 'precursoras' das posteriores conceituaes freudianas, nem o
inverso. No este tipo de reflexo que me ocupa aqui. Sabe-se que 'recalque prim-
rio' no se encontra na posio de simples conceituao ou simples explicitao da
' condio de inconscincia' da primeira teoria do trauma. No entanto, ambos apontam
para a mesma direo e sentido: para a compreenso de que antes mesmo de se estabe-
lecer um estranhamento traumtico propriamente dito, que se d, no mnimo, em dois
tempos - no que a idia de posterioridade como um 's depois' ganha pleno sentido -
h uma estranheza originria sexualidade, ou dito de maneira mais precisa, embora
de alcance mais amplo, uma estranheza originria atividade pulsional. Esta compre-
enso leva-nos, mais uma vez, tarefa de apontar para o fato de que a idia de "uma
histria que se faz pr-histria" no suficiente para dar conta do que se passa na
psicanlise. A estranheza originria carrega a idia de que no h uma histria origin-
ria a ser transformada em pr-histria; ou carrega a idia de que toda histria consti-
tuda se faz sobre um estranhamento originrio, que em relao histria estar sem-
pre na 'posio crtica' de pr-histria. Que no se entenda esta "posio crtica" no
sentido de uma outra significao constituinte, mas crtica insuficincia de sentido
de qualquer histria.
Estas tarefas nos conduzem aproximao entre anlise e metapsicologia, pre-
cisamente por meio da subverso temporal realizada no conceito de posterioridade,
que leva compreenso da histria do sujeito em anlise, e assim, a uma espcie de
teoria psicanaltica da temporalizao, e compreenso ou possibilidade de explica-
o metapsicolgica dos destinos da histria do sujeito, ou dos destinos subjetivos, por
meio do conceito de recalque. Um tal desenvolvimento permitir-nos-ia propor a tese
de que o parmetro temporal mediao entre anlise e metapsicologia.
Percebemos, ento, que este modo de presena no-histrica do remoto, do
infantil, supe, precisamente, a sua presena infantil, isto , no-historicizada, no
elaborada historicamente, e que nisso se funda, propriamente falando, a idia ou a
definio da atemporalidade do inconsciente. Mas supe, igualmente, um modo de
presena distinto daquilo que estaria presente no sentido histrico, portanto presente-
mente ausente.
No entanto, o texto freudiano est de tal maneira marcado pela elaborao dis-
so que se apresenta de maneira no-histrica que fica difcil estabelecer ou articular
aquilo cuja presena seria histrica. Ora, se a histria aqui o parmetro usado por
Freud para marcar a outra presena, a presena do infantil, do pr-histrico, aquilo que
45
histrico no aparentemente possvel de ser marcado no texto freudiano. Dessa
maneira, aquilo que da ordem histrica se nos apresenta como uma presena suposta
e no propriamente elaborada, elucidada quanto sua presentificao.
Podemos fazer uma pequena comparao para esclarecer isto. Aquilo que
historicamente presente para os sujeitos aparece-Ihes como certeza imediata. Lem-
branas de suas experincias se lhes aparecem como passadas, mais ou menos precisa-
mente localizadas no tempo, realizadas, numa palavra, se lhes aparecem como lem-
branas. E ns sabemos quanto trabalho se faz necessrio para que os sujeitos rom-
pam com esta crena at chegar a perceber que pelo menos parte dessas lembranas
no so propriamente lembranas, mas tm uma vigncia atual, como no-histricas.
A elaborao freudiana, ao contrrio, empenhada que est na elucidao da presena
no-histrica das experincias remotas dos sujeitos acaba tomando como suposta, isto
, deixando no elaborada, no elucidada, o que seria da ordem da presena histrica
dessas experincias. Assim, do ponto de vista da elaborao psicanaltica, isto que
designado 'presena histrica' est latente em relao quilo que chamado de pre-
sena no-histrica. Se nos permitido usar a terminologia psicanaltica para esclare-
cermos (ou analisarmos) a prpria psicanlise, diramos que o histrico na psicanlise
o recalcado. No sentido de que sua vigncia na elaborao psicanaltica s apreensvel
como resultado de um trabalho, trabalho que ser de anlise.
Outro passo na direo da compreenso da histria em psicanlise parece-me
importante.
Precisamente por volta da poca da anlise do 'Homem dos Lobos', Freud
introduz o conceito de narcisismo. notvel que Freud desloque para o narcisismo a
funo de unificao antes plenamente dada genitalidade. tambm com o narcisismo
que a psicanlise mete-se, como se diz, em maus lenis, pois acarreta a compreenso
de uma espcie de monismo pulsional que contradiz o que me parece ser o ganho
fundamental da psicanlise, a saber, a tese do conflito como originrio
9
; nos termos
que estamos empregando neste artigo, podemos dizer, a tese de umaoriginria estra-
nheza. Sabemos que Freud somente recupera de maneira plena a concepo do dualismo
pulsional com a introduo da pulso de morte. O que a leitura deAlm do princpio
do prazer (Freud, 1920g; p. 1) traz-me de mais instigante e original a ideia de que a
pulso de vida se constitui no verdadeiramente estranho, estrangeiro, em face da mor-
te. Ora, uma compreenso assim no incua, pois permite-nos entender, por exem-
plo, que a angstia, em sua radicalidade e origem, se d diante da vida, isto , da
pulso de vida, mais precisamente, da pulso sexual. Por isso, sempre que se pensa no
estrangeiro em psicanlise, se o pensa originrio, constituinte ou familiar. Acrescente-
se a isso o fato de que o sexual na concepo psicanaltica introduzido pelo outro e
do outro, e reencontramo-nos com a vigncia da teoria do trauma, s que trauma
constitutivo e no como desvio, erro ou distrbio.
46
Pfotas
1. Pretendemos desenvolver em texto prximo o tema da positividade do antigo no presente,
tomando por objeto a narrativa de uma anlise, a do 'Homem dos Lobos'.
2. Lembro-me de uma das muitas imagens que Freud utiliza para instigar nossa compreenso
do desenvolvimento libidinal. Em uma delas, mesmo no me lembrando da referncia, as
diversas posies libidinais ou fases do desenvolvimento libidinal so ilustradas como con-
vulses de um vulco cujas larvas, jogadas umas sobre as outras, se sedimentam em camadas
que permanecem.
3. Percebe-se que estamos olhando parcialmente o 'Caso Dora'. Nele, a compreenso freudiana
da funo da sexualidade na subjetivao muito mais complexa, ainda que no completa-
mente sistematizada, o que nos permite desenvolver compreenses parcializadas, como aqui
fazemos.
4. Dizemos que caricaturamos, pois a crise da 'neurtica' no se d unicamente, como continua-
remos a argumentar, pelo confronto com a fantasia e nem tem como consequncia a sua
substituio pela fantasia, como mostramos em outro lugar (Ceies, 1993 e 1994).
5. Muitos anos depois, Freud literalmente a retoma (cf., por exemplo, Freud, 1918b [1914];
p.187).
6. No propriamente hora de traarmos o carter do esforo freudiano de construo da psica-
nlise. Um exemplo disso, esbocei-o em artigo recentemente publicado (Ceies, 1993b).
7. Nesta passagem, estou usando o termo 'vivncias' no sentido de 'afetaes', de 'ser afetado'.
Esta preciso se faz necessria para distingui-lo do sentido prprio de 'vivncia' que se
constitui no s depois da significao. A noo de 'acontecimento' que Figueiredo trs de
Heidegger para a anlise parece-me ser adequada para expressar o sentido que na passagem
estamos utilizando, precisamente aquilo que Figueiredo elucida como a primeira fase do
acontecimento (Figueiredo, 1994, p. 149 et seqs.). No entanto, a utilizao da noo de 'acon-
tecimento' neste texto requereria um esforo crtico de mudana de nomenclatura que, por
economia, no fao aqui.
8. A ligeireza com que utilizo a partcula alternativa 'ou' no deve deixar entender que historiao
(ou historicizao) e temporalizao sejam noes aqui intercambiveis. Mesmo porque
historicizao supe uma temporalizao, parecendo ser esta mais primria do que a outra.
Em Freud, podem-se encontrar tanto preocupaes temporalizantes quanto historicizantes.
Talvez seja um exemplo da primeira preocupao a insistncia de Freud em marcar, nos
relatos de casos clnicos, o tempo preciso na histria dos pacientes das recordaes lembra-
das ou construdas em anlise (alis, diga-se de passagem, que essa insistncia caracterstica
dos relatos freudianos no me parece ainda suficientemente destacada como questo e muito
menos compreendida quanto ao que as enseja e quanto aos seus efeitos ou ganhos, seja
considerando-se o percurso analtico ou a construo psicanaltica). A preocupao histori-
cizante, por outro lado, aparece explicitada, por exemplo, em 'Construes em anlise' (Freud,
1937d; p. 4. Construcciones en el anlisis. In: . Obras completas, v. XXIII.) quando Freud
47
fala da funo essencial das 'construes' como sendo a de completar o quadro da histria
inicial dos pacientes, cujos fragmentos teriam sido esquecidos ou mesmo no formulados
historicamente. Alm disso, no que diz respeito psicanlise, parece ser necessrio distin-
guir diversas formas de historicizao. Por exemplo, e utilizando-me livremente de certas
noes lacanianas, poder-se-ia distinguir historicizaes imaginrias de historicizaes sim-
blicas.
9. Todos sabemos o quanto o embate de Freud com Jung, em defesa do dualismo pulsional, teve
o sentido de preservar a especificidade da psicanlise.
Referncias bibliogrficas
CELES, Luiz A. M. (1991). Sexualidade e subjetividade nos incios da psicanlise; um estudo
do Caso Dora. Rio de Janeiro, PUC. Tese de Doutorado.
(1993). Teoria da sexualidade e teoria do psiquismo; posies relativas na construo
inicial da psicanlise. (Indito.)
(1993b). A fragmentao na elaborao freudiana: notas sobre o "eu" no "Caso Schreber",
Percurso, So Paulo. 6" (11): 35-43.
(1994). Sexualidade e subjetivao; um estudo do Caso Dora Brasilia, UnB. (No prelo.)
FIGUEIREDO, Lus Cludio M. (1994). Escutar, recordar, dizer; encontros heideggerianos com
clnica psicanaltica So Paulo, Escuta-Educ. (Ensaios: Filosofia e Psicanlise.)
FREUD, Sigmund. (1896a). La herencia y la etiologa de las neurosis. In:__. Obras completas.
Buenos Aires, Amorrotu. v. 3.
(1896b). Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. In: . Op. cit. v. 3.
(1896c). La etiologia de la histeria. In: . Op. cit. v. 3.
(1900a [1899]). La interpretacin de los sueos. In: . Op. cit. v. 4 e 5.
(1905e [1901]). Fragmento de anlisis de um caso de histeria ('Caso Dora'). In: . Op. cit.
v. 7.
(1916-1917 [1915-1917]). Conferencias de introduccin al psicoanlisis. In: . Op. cit.
v.15-16.
(1918b [1914]). De la historia de una neurosis infantil. In: . Op. cit. v. 17.
(1920g). Ms all del principio de placer. In: . Op. cit. v. 18.
(1923e). La organizacin genital infantil. In: . Op. cit. v. 19.
MAHONY, Patrick (1992). Gritos do Homem dos Lobos. Rio de Janeiro, Imago.
48
ANLISE, TEMPO, LUTO...
Mauro Meiches*
Eu custava a imaginar que algum pudesse se
suicidar antes de uma sesso de anlise. Em
sua maioria, meus pacientes chegam com a
esperana de que tero uma boa sesso, e de
que nessa sesso decisiva descobriro suas
prprias verdades, eliminando assim as
desgraas que infernizam as suas vidas.
Esperana incrivelmente ftil, mas tenaz, a
ponto de eu chegar a considerar que, pensando
bem, a anlise se resumia a uma questo de
prxima sesso. (Gattgno, 1993; p.112)
Retirada de um romance policial, cuja personagem central um psicanalista as-
sediado por um paciente que usa a anlise de maneira premeditada para acobertar suas
tramas criminosas, a epgrafe descreve uma considerao acerca da temporalidade. E
de uma relao entre tempo e afeto estabelecida com o tratamento analtico.
Defmida por uma incompletude no presente que volta os olhos para um futuro
prximo encontro, esta relao temporal e afetiva com a sequncia de uma anlise
comporta, por este movimento mesmo, uma propulso estrutural, cujo motor consci-
ente dar conta de um passado que, se supe, faz sofrer. Temos ento os trs tempos
a tentar compor verses, tradues que se alternam e se eliminam (se o movimento da
anlise segue a contento), da histria pessoal de algum. Como paradigmas de certeza
de uma temporalizao que cobre toda a possibilidade de estar no mundo, nestes trs
tempos se desenhar a narrativa, paradoxalmente muito pouco cronolgica, que ao
fmal no poder ser contada totalmente, isto , como uma histria que comea e
termina. A anlise sinaliza o sentido de um interminvel.
maneira da relao com um objeto de desejo, esta mediao desejante com as
sesses, espao-tempo onde solues podero se decantar, fala primeiramente de uma
aproximao esperanosa em que se aposta sobretudo num sucesso. S que sucesso,
por parte do desejo inconsciente, pode ter sentidos insuspeitos. Em anlise, o que se
busca , de fato, uma ultrapassagem de determinado estado de alma, rumo a um ganho
psquico da ordem do bem-estar, da complexificao da potncia vital, da inteligncia
e da vida afetiva. Isso implicar enfrentamentos que parecem caminhar numa ordem
Psicanalista, doutorando do Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clnica da PUC-SP. Co-
autor de Sobre o trabalho do ator (So Paulo, Perspectiva, 1988).
49
de coisas absolutamente inversa a estas metas 'razoveis' que compem o horizonte
imaginrio de um tratamento. O que antecede a sesso poderia ser visto como o antnimo
do suicdio e envolve ansiedade, expectativa, quando h de fato comprometimento, e
uma certa excitao corporal.
Este momento prvio, com seu montante crescente de energia, pode ter como
destino uma profunda decepo. Decepo que envolve, no entanto, um alvio. No
sentido primeiro de uma frustrao, quando as interpretaes mgicas no compare-
cem, a decepo orienta o sujeito em anlise a acostumar-se a uma temporalidade sem
pressa, porm no preguiosa; cada sesso, apesar de ter seu limite evidente, pode
conter aquilo que, numa trama que se arma na posterioridade, o germe, coisa elementar
ou um dos percalos que move uma transformao. O alvio adviria deste aprendiza-
do, que envolve lidar com pacincia e urgncia, movimentos pendulares do desejo,
at um desfecho lgico, isto , a seu tempo, que inscreve a apropriao do tempo da
anlise como paradigma da apropriao de um tempo pessoal de existncia, onde as
coisas podem acontecer num ritmo que obedece a uma lgica genuinamente privada.
Junta-se a esta ideia quase matematicamente exposta uma espcie de dialtica do
desperdcio. A anlise passa por momentos necessrios de estagnao, de no produ-
tividade. A avaliao dessas passagens, no entanto, s possvel a posteriori, uma vez
decantado o resto que o desperdcio acaba por constituir. Como resto, porm, ele se
junta demanda, vista aqui em perspectiva. Era imprescindvel desperdiar tempo,
palavras, ideias, para ter acesso quilo que pde decantar tudo isto como resto.
Perceber esta possibilidade implica o reconhecimento de uma condio: apenas
em parte gerenciamos nosso projeto de existncia. E este gerenciamento passa longe
de uma produtividade capitalista.
Alm daquilo que assunto por excelncia de anlise, e que toca nossa equao
com o desejo que nos habita, algo pode se precipitar em nossa direo, subitamente,
acontecendo-nos sem que estejamos preparados. Este algo nos desloca radicalmente e
funda com sua ocorrncia uma nova maneira de viver. O acontecimento pode se preci-
pitar por um ato, um fato, uma interpretao, por nada disso, mas o que importa subli-
nhar sua autonomia perante os recursos de nossa conscincia e tambm de nossa
inconscincia. O acontecimento independe em sentido forte e nos afeta na mesma
intensidade de sua independncia.
A potncia com que ocorre parece, por vezes, guardar o poder de nos aproximar
de algo registrado em ns, mas cuja inscrio no nos acessvel, em hiptese alguma.
O acontecimento pulsa como uma primeira vez. Ou ser que de fato ele primeiro? Ou
nico?
maneira do estranhamente familiar freudiano, uma possibilidade do aconteci-
mento revelar preciosidades originrias que se inscreveram e sumiram repressiva-
mente em nossa vida psquica. Uma espcie de descoberta de nossa alteridade, expres-
so paradoxal mas diretamente reveladora de nossa condio de estar no mundo. Nos-
50
sa 'outridade' no nos pertence, no manipulvel de acordo com o nosso desejo. A
unicidade ou primeiridade dessas aproximaes uma questo que se decide no res-
ponder numa experincia de anlise, ou que a anlise propicia que se deixe em aberto,
aceitando, porm, sermos por ela afetados. Justamente este desimpedimento dos ca-
nais receptores sensoriais, afetivos e representacionais para reconhecer e contatar o
novo parece ser a mais feliz e insustentvel das posies. preciso altern-la com
perodos de impermeabilidade, como a tentar deter quixotescamente a histria e seu
movimento constituinte, que parece nos levar para longe de um momento originrio,
no qual supostamente o enigma de nossa alteridade decretou nossa 'ex-sistncia' em
relao a ns mesmos.
H uma semelhana entre este reconhecimento de como opera a temporalidade
que cada um executa em anlise e nossa relao com os objetos de desejo. Nosso
encontro frontal com eles costuma nos paralisar, pois a possibilidade de no haver
mais o que desejar, uma vez consumado o circuito do desejo, , simultnea e parado-
xalmente, a realizao de tudo o que queramos e, portanto, a morte. Faltaria a esse
encontro mediao, sobretudo mediao significante, que contorna o objeto com a
pelcula, ainda que tnue, da representao; esta permite que no fiquemos paralisados
de horror, pois passamos a nos relacionar com ela e no mais diretamente com o obje-
to, que nos escapa para sempre. O que sucede num pesadelo se aproxima deste encon-
tro frontal, e nos livramos dele imediatamente, acordando. H um excesso de reconhe-
cimento daquilo que somos que ultrapassa o limite do tolervel. O tempo do pesadelo
parece o tempo do raio que fulmina por excesso instantneo de luz. Pode-se dizer que
o instante tambm o tempo da finalizao lgica do insight, tempo de compreender.
Mas este ltimo se liga a todos os elos significantes dos quais a finalizao, enquanto
o instantneo do pesadelo, para tom-lo como paradigma do encontro frontal com o
objeto de desejo, parece advir do cu, como o raio que fulmina. Nossa nica reao
tentar sair dele assim como da angstia que lhe correlativa na ordem dos afetos. O
instantneo do pesadelo no se liga a nada, no d liga, e precisar de um outro tempo
para tentar ser integrado no circuito psquico do qual emergiu. Esta tentativa de liga-
o, alis, bem poderia ser considerada nossa incessante operao em busca de uma
sempre impossvel homeostase psquica.
tambm o acontecimento que pode precipitar uma psicose, quando passam a
estar vedadas quaisquer outras crises 'acontecimentais'. A histria se detm, apenas o
envelhecimento prossegue em seu processo inescapavelmente esclerosante. Esta pa-
ralisao, curiosamente, tambm pode ser obtida pela constituio de uma histria
(delrio). Esta comea a se contar e recontar, reiterando-se para que nenhuma outra
histria advenha e precipite outro acontecimento. H talvez uma aproximao exces-
siva do originrio, um vislumbre (tempo no qual se v em demasia e que j possui
todas as conotaes atribuveis ao imaginrio) de uma decifrao, cuja posse inviabi-
liza a existncia.
51
No estamos totalmente de acordo com a realizao daquilo que queremos, em-
bora nossa verso consciente ache esta assertiva um despropsito. Precisamos olhar de
lado, por meio de frestas, de disfarces, essas anteposies daquilo que imaginamos
querer, ou que nos excita sem que saibamos previamente. preciso que haja insatisfa-
o para suportar uma realizao desejante qualquer, assim como preciso despreparo
para que algo acontea. imperioso que haja resto. Os restos nos acalmam, pois indi-
cam um caminho a continuar.
Como estar aberto a esses encontros sem levar um susto paralisante a cada vez
que acontecem? Como no estar preparado em demasia para o acontecimento, uma
vez que a preparao parece por si s emperrar o andamento das coisas? Se o aconte-
cimento pressupe algum estado, este o de uma radical no preparao; ele sugere
uma situao de desamparo radical. Uma situao originria.
Como no h receita (afinal, estamos postulando a mais singular das situaes),
nosso desejo inconsciente cumpre aqui uma funo: ele regula (e desregula) uma re-
cepo perceptiva a partir da qual podemos nos entusiasmar por ou renunciar quilo
que nos acontece. Quando esta interferncia forte e invasiva em demasia, e a media-
o desejante no consegue apropriar-se de sua fora, passamos, louca e quixotesca-
mente, a tentar antecipar o j acontecido.
Quanto a este desejo inconsciente, h nele uma parte que j conhecemos; outra
pela qual pagamos a um analista para desvendar conosco; e uma terceira, da qual
alguns acontecimentos de nossa vida nos daro notcia. Este picante tempero desejante
que envolve, entre outras coisas, nossa relao com a temporalidade e seu subcaptulo,
o tempo de uma anlise, sustenta nosso comprometimento com as coisas do mundo.
Ele nos vincula, sustentando simultaneamente a manuteno de um enigma que nos
situa uma possvel origem. Esta, uma espcie de lugar de no-representao radical,
que se recria como tal a cada avano do universo representacional. A operao do
desejo, que coloca a representao em funcionamento permanente, ao gerar-se, tenta
incessantemente suprimir o espao da no-representao.
O avano daquilo que representa no se efetua de forma organizada, linear, cro-
nolgica, totalizadora. Um de seus meios a metfora, cujo sentido etimolgico a
sentena 'eu transporto'. No transporte entre duas representaes j constitudas cria-
se o espao para uma terceira, mediadora. Esta abre, por sua vez, espao, localidade,
para o estabelecimento de novas mediaes e transportes: a imagem das redes de co-
mrcio formando seus pontos de entrecruzamento, nas quais aconteciam as feiras e
suas trocas intensas entre alteridades, na Baixa Idade Mdia, figura exemplarmente a
metfora. Para haver percurso tem que haver transporte. E como no h meio de levar
tudo, o caminho da metfora pressupe principalmente transformao, mas tambm
excluso, perda e desperdcio. Implica, portanto, luto.
Lembro de uma criana de cinco anos, em anlise, cuja capacidade de narrar
aumentava medida que o material de sua caixa transformava-se paulatinamente (em
52
ritmos diversos) em entulho, dificilmente reaproveitvel. As narrativas, claro, se refe-
riam s suas fantasias e a crescente complexifcao das mesmas indicava o advento
de um sujeito onde antes parecia haver uma disperso de pulses. A criao de um
entulho, forma paradigmtica do desperdcio em termos no-analticos, executa um
resto, aquilo que tem de existir para ser deixado para trs, constituindo a possibilidade
de metaforizar. Isto , defrontar-se com a perda de algo e com o luto de uma situao.
H, no entanto, diferentes qualidades de luto que se tornam mais ou menos per-
ceptveis, dependendo da distancia que mantemos do que se perdeu ou morreu. A
anlise pode tornar ntido um trabalho de luto, propiciando uma experincia referida
ao trgico, que visa marcar, com todas as letras possveis, a presena atuante de um
elemento sem o qual, dada a intensidade afetiva, o trabalho da metfora tenderia a
descarnar-se defensivamente.
O luto veemente da mudana dos nomes prprios, descrito por Freud em Totem
e tabu - no qual a tribo inteira, de comum acordo, opera uma metaforizao coletiva,
levando-a a mudar de tempo quando da morte de um de seus membros -, impede ao
missionrio a constituio de uma histria. Ele tem como contraponto aquele que, por
um desejo de historiar em demasia, no admite uma histria imperfeita, com "espaos
para enigmas, acasos, surpresas e disparates" (Figueiredo, 1993; p. 37). Ambos, e a
gama intervalar infinita que os acompanha, situam, como nomeia Laplanche, "um
limite do luto", algo 'imetabolizvel', que se inscreve a partir de cada movimento
metafrico
1
. A metfora, mesmo a mais perfeitamente construda, que no deixa per-
ceber em sua tessitura o referente do qual ela metfora, decanta um resto, produto de
sua apesar-de-tudo imperfeita constituio. O resto tem um duplo estatuto: aquilo que
se joga fora mas que pode passar a gravitar em torno daquilo de onde foi ejetado. Este
resto age sobre o movimento que transporta, podendo tanto ser metabolizado mais
frente, a partir de novos acontecimentos, ou acumular-se, pesando sobre a formao
de novas metforas e emperrando o transporte. Impossvel no produzir restos. Con-
sola saber que eles podero ajudar na produo de novas metforas. Entretanto, mais
honesto seria pensar no peso que vo exercer sobre a estrutura mvel da existncia.
Desses dois movimentos parte nossa temporalizao da existncia. De um luto
que se resolve com limites, ou de um luto que no suporta suas perdas e melancoliza-
se. A melancolia teria como modelo uma histria perfeita, que no admite a imperfei-
o correlata ao funcionamento da metfora.
Em todo caso, uma tragicidade parece despontar mesmo no mais feliz dos cami-
nhos. O indecifrvel do enigma que nos habita originariamente ou do limite
intransponvel do luto funciona como imagem seminal desta condio. Para avanar
ou permitir que nossa existncia se transforme, necessrio aceitar no saber, perder,
enlutar, para poder desfrutar daquilo que canais receptores desimpedidos podem pro-
piciar como fruio do indito, ainda que ele tenha se inscrito em ns h longo tempo.
Para viver preciso permitir que deixemos de ser constantemente, nos concebermos
53
como alteridade (que indica tambm alterao), tal como a revelao de um orculo
desloca o heri trgico de um caminho que ele imaginava traar e trilhar. Trata-se de
um 'isto' ('Tu s isto') que ressignifica inapelavelmente a sua vida e d a ela uma
direo que, no mais das vezes, o heri precisa suportar.
A despeito do peso dessa imagem, que tem tambm seu sentido reconfortante
(porque desalienante), da busca desse absolutamente pessoal e outro que se sustenta
o projeto de uma anlise. Trata-se de um misto entre o reconhecimento de um tecido j
tramado e a liberao de seus fios para uma nova confeco. Como resultado pode-se
at falar de uma alteridade relativa, isto , uma alteridade que se compe de semelhan-
as elementares. A recombinao de elementos movida a acontecimentos pode tornar
irreconhecvel uma primeira forma, e isto no parece ser um caso-limite.
Para voltarmos relao que se estabelece com a temporalizao desta experin-
cia, que vemos como transbordante para a existncia do sujeito, um luto parece inscre-
ver-se no desenho traado sesso aps sesso. Luto pelo tecido destecido, mas no
apenas este, relativo ao passado. Seguindo ainda o modelo da reserva do nome, do
qual fala Laplanche (1992), a anlise parece criar o mesmo tipo de reas: levando em
considerao que h um espao que se cria a partir da metfora que executa o luto (o
exemplo o do transporte de uma populao inteira pela sua histria, com vistas a
preservar os homens de um contato insuportvel), a anlise ensina a impossibilidade
do todo. Ao desenrolar-se, sesso aps sesso, ela inventa as lacunas de uma nova
geografia, ndice da instaurao de um mundo. Este, por sua substncia significante,
gera aquilo que a ele mesmo falta, faz furo, torna-o felizmente imperfeito. Ao gerar-se,
constitui em si seu sentimento de enlutamento, sua temporalizao e historicidade.
Seria possvel pensar, voltando nossa epgrafe, que, com o caminhar da anli-
se, poucos contedos ou lembranas conseguem permanecer intactos. Resta um modo
de comunicao, relacional, que aponta, no limite, para a existncia de algo do qual
advm, como doao, sentidos variavelmente efmeros. Da a imagem da anlise como
a espera da prxima sesso, marco visvel de um prximo movimento, que no sabe-
mos se acontecer nela, antes ou depois. Em todo caso, este marco mobiliza uma qua-
lificao bastante diferenciada de afetos, gerando contrastes que so, para Freud, a
receita humana para alguma felicidade, cujo antnimo seria o tdio do mesmo.
Talvez essa estranheza que eu sentia - e muitos outros sentem -
de dormir num quarto desconhecido no seja seno a forma
humlima, obscura, orgnica, quase inconsciente, dessa decidi-
da negativa oposta pelas coisas que constituem o melhor de nos-
sa vida presente possibilidade de revestirmos mentalmente com
a nossa aceitao a frmula de um futuro onde elas no mais
figurem. (Proust, 1957; p. 193).
54
Notas
1. Algo que atribuiramos ao Real, que carrega a marca do inominvel, mesmo que tenha sido
nomeado algum dia. Pode-se pensar que o nome do morto, que no mais se pronuncia, o
nome da morte, ndice dela, que deve permanecer permanentemente apartado. Afinal, ainda
pode afetar a todos.
Referncias bibliogrficas
FIGUEIREDO, Lus Cludio M. (1993). Fala e acontecimento em anlise. So Paulo, Programa
de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clnica da PUC-SP. (Apostila de curso.)
GATTGNO, Jean-Pierre (1993). Neutralidade suspeita. Trad. Rosa Freire D'Aguiar, So Pau-
lo, Companhia das Letras.
LAPLANCHE, Jean (1992). O tempo e o outro. In: . La rvolution copernicienne inacheve.
Paris, Aubier.
PROUST, Mareei (1957). Em busca do tempo perdido. Trad. Mrio Quintana. 2
a
ed. Porto Ale-
gre, Globo, 1983. v. 2.
55
COMENTRIO SOBRE O ARTIGO
'O TEMPO E O OUTRO' DE J EAN LAPLANCHE
Pedro Luiz Ribeiro de Santi*
O artigo de Laplanche est sendo tomado como base para destacar certos ele-
mentos da reflexo sobre o tempo em Freud; no procurei resenhar o texto ou acompa-
nhar passo a passo a argumentao do autor.
Laplanche procura nesse artigo construir uma concepo de temporalidade pr-
pria obra de Freud, fazendo-a 'trabalhar', como de seu costume. Com esta inten-
o, toma o caminho, sempre temerrio, de distinguir uma teoria explcita de outra
implcita no pensamento freudiano.
Iniciando pela teoria explcita, ele apresenta a ideia de posterioridade (Nach-
trglichkeit), que remete imediatamente para uma modificao na "flecha do tempo":
em vez do sentido comum, passado, presente, futuro, teramos a sequncia presente,
passado, futuro.
Detenhamo-nos por um momento neste ponto. A noo de posterioridade insere-
se na concepo de Freud de que o psiquismo formado por sistemas ou camadas de
memria. Cada momento de vida caracteriza-se por um arranjo da memria que orga-
niza a experincia, vale dizer, por um eu. Periodicamente h uma mudana de fase,
caracterizada por uma ruptura na organizao psquica, que leva a um novo arranjo
com novos 'valores' (nova configurao, tal como obtida no insight, da teoria da
Gestalt). Na passagem entre as fases deve haver uma traduo dos elementos da fase
anterior para a atual segundo o sistema de significaes vigente. Disto resultar a
valorizao de novos elementos e a impossibilidade de traduo, a falta de lugar ou
palavra para outros deles, que ficaro excludos, reprimidos. Uma representao sem
sentido numa fase pode ser significada em outras e vice-versa; a isto que se refere a
noo de posterioridade.
bem comum ouvirmos em meios psi, mesmo universitrios, a ideia de que a
psicanlise desconsidera o presente em favor do passado; esta crtica costuma preceder a
evocao de uma alternativa mais atenta ao imediato ou 'pessoa'. Independente da
consistncia prpria alternativa, a avaliao sobre a psicanlise parece-me equivoca-
*Psicanalista, graduado em psicologia pela PUC-SP. Mestre em filosofia pela USP. Professor do curso de
psicologia da Unip e da ESPM.
57
da e talvez esteja baseada na crena de que passado ou presente existam enquanto tais.
A partir da noo de posterioridade, podemos derivar algo que desenvolveremos
adiante sobre a dinmica do psiquismo. O inconsciente no o passado, ele remete
justamente quilo que no passou e, por isto, torna-se uma grade que insiste em tornar
o presente repetio; o vivido presente, por sua vez, pode significar o que restou sem
sentido (ao menos parcialmente) para deix-lo, agora sim, ser passado. Coloca-se em
questo, assim, a existncia de uma distino clara entre as noes de passado e pre-
sente.
Laplanche suspeita que a ideia de posterioridade possa dar ensejo a uma
desconsiderao pelo infantil e, por outro lado, teme que atribuamos hoje uma impor-
tncia para o conceito ausente no prprio pensamento de Freud.
1
Procurando articular uma concepo mais clara sobre o tempo na obra freudiana,
Laplanche prope quatro categorias, que poderiam ser aplicadas a qualquer outro pen-
sador, com as quais procura identificar a posio de Freud: nvel 1, tempo cosmolgico,
tempo do mundo; nvel 2, tempo perceptivo, conscincia imediata e, mesmo, tempo
do vivente; nvel 3, tempo da memria e do projeto, seria propriamente a temporalizao
do ser humano; nvel 4, o tempo da histria, o tempo da humanidade como um todo.
Cada um dos nveis exemplificado com a meno de pensadores que os ca-
racterizariam. A teoria explcita de Freud enquadrada no segundo e quarto nveis.
Em 'Notas sobre o bloco mgico' (1925), encontraramos uma teoria da percep-
o segundo a qual ela se d por aberturas e fechamentos cclicos, o que poderia levar
ideia de que o ser presente no mundo sofre de um "excesso de mundo". Laplanche
considera a insero de Freud neste nvel extremamente localizada e at mesmo
desvinculada do conjunto da teoria, pois no haveria outras referncias a uma teoria do
funcionamento da percepo e, sobretudo, ela poderia aplicar-se a qualquer ser viven-
te. Embora no pretenda estender-me sobre este ponto, gostaria de indicar que esta
teoria da percepo ligada extenso e encolhimento rtmicos do psiquismo tem lugar
na teoria de Freud. Basta atentar para a discusso de textos como o do 'Projeto de uma
psicologia para neurlogos' e 'Alm do princpio do prazer'.
A insero de Freud no nvel 4', o nvel da histria, seria evidente por meio de
obras como 'Totem e tabu', por exemplo.
Mas o que interessa de fato a Laplanche trabalhar o nvel 3, o da temporalidade
humana. Para isso, pensa ser necessrio explorar uma teorizao implcita obra.
neste ponto que tem incio a parte mais interessante do artigo, assim como a mais
problemtica. Numa belssima anlise de 'Luto e melancolia' e 'Totem e tabu', o fen-
meno do luto apresentado como paradigma da relao humana com a perda; ele
colocaria em questo a necessidade de metabolizar, ao longo do tempo, o impacto do
outro sobre o psiquismo.
Laplanche articula a temporalidade humana a sua concepo de mensagem. A
constituio da subjetividade remete ao impacto de mensagens enigmticas, cujo sen-
58
tido escaparia ao prprio emissor, pois emanariam do outro que o constitui, de seu
inconsciente. O enigma desperta o surgimento de um impulso visando seu domnio, a
sua soluo. Diz Laplanche: "O enigma reconduz assim alteridade do outro; e a
alteridade do outro sua reao ao seu inconsciente, quer dizer, sua alteridade a ele
mesmo". ( p. 380)
Como em obras anteriores, Laplanche destaca a importncia da expresso Lsung
na escrita de Freud; ela remete anlise, decomposio, dissoluo, desatamento de
ns (esta tentativa de traduo de um termo, na qual propus quatro outros que no
bastam para esgot-lo, j serve como exemplo). O luto implicaria uma soluo dessa
espcie em relao aos vnculos com o objeto perdido; realizada progressivamente a
dissoluo desses vnculos, novas ligaes poderiam se dar. Sobraria do enigma, no
entanto, sempre um resto sem soluo - no h complexo de dipo bem resolvido. Em
todo caso, caberia psicanlise remontar a este 'passado', visando analis-lo.
O n a ser dissolvido no sofre a ao do tempo, a isto que se refere a ideia de
que o inconsciente atemporal. Laplanche prope uma interpretao bastante original
da suposta espera de Penlope por Ulisses: o ato de tecer de dia e destecer de noite
durante anos poderia ser entendido como um trabalho de luto. E se Ulisses no tivesse
voltado? Poderamos imagin-la um dia largando a tela e aceitando o assdio de algum
pretendente que conseguisse dobrar o arco de (como) Ulisses?
No final do artigo, Laplanche explicita a clara influncia de Heidegger em seus
trabalhos mais recentes e reafirma a necessidade da categoria de mensagem como
forma de dar conta da constituio da subjetividade humana em psicanlise, sem o
recurso a hipteses biologizantes e remetendo-a ao impacto do outro.
Mesmo considerando o artigo de Laplanche extremamente instigante e rico -
numa medida cada vez mais rara de ser encontrada - e respeitando-o como um dos
mais importantes comentadores da obra de Freud, penso que cabe question-lo em
alguns pontos. Creio ser extremamente problemtico o procedimento de explicitar
uma suposta teoria implcita com categorias externas ao prprio campo. O artigo
deixa a impresso de que preciso encontrar em Freud a categoria de alteridade
fundante. O trabalho visa satisfazer esta suposta necessidade, como se Freud precisas-
se ser salvo ou traduzido para um discurso 'moderno'. Talvez fosse melhor pensarmos
o artigo no como um ensaio sobre uma teoria implcita em Freud, mas como uma
teoria explcita de Laplanche, sugestiva e plena de valor.
Creio ainda ser possvel dizer que h uma concepo explcita de Freud sobre a
temporalidade - ainda que no seja sistematizada -, na qual h um lugar para o outro
ou, ao menos, para algo alheio ao psiquismo. Refiro-me a obras como 'Recordaes
encobridoras', 'O poeta e o fantasiar', 'A dinmica da transferncia' e 'Construes
em anlise'.
Trata-se justamente da possibilidade de que, em psicanlise, passado, presente e
futuro no fossem entendidos como entidades autnomas, mas como elementos de
59
uma complexa dinmica, tal como foi sugerido no incio desse comentrio. No o
caso de desenvolver aqui um ensaio a este respeito. Apenas como indicao, cito um
trecho de 'O poeta e o fantasiar', no qual Freud observa que as fantasias no devem ser
entendidas como imutveis no tempo:
Elas se adaptam s impresses vitais que se alteram, mudam a
cada oscilao das situaes da vida, recebem uma, por assim
dizer, 'marca temporal'. A relao da fantasia com o tempo
extremamente significativa. Deve-se dizer: uma fantasia ergue-
se igualmente sobre os trs tempos, os trs momentos de nossa
representao. O trabalho anmico liga-se a uma impresso atual,
um motivo do presente capaz de despertar os grandes desejos da
pessoa, volta recordao de uma impresso precoce, na maio-
ria das vezes infantil, em que aqueles desejos eram satisfeitos,
criando uma situao referida ao futuro que se apresenta como a
satisfao daqueles desejos; precisamente os sonhos diurnos ou
as fantasias, que trazem agora os traos de sua origem na oca-
sio e na recordao. Portanto, alinham-se passado presente e
futuro como num fio percorrido pelo desejo. (GW, v. VII, p.
217-8)
2
possvel destacar desta citao extremamente rica, entre outras coisas, aideia
de que o psiquismo (a imaginao, o pensamento, o desejo) opera entre dois referen-
tes: as realidades material e psquica, inacessveis diretamente. No h dvidas de que
Freud sempre trabalhou privilegiadamente com a ltima, era sobre este universo que
ele acreditava ter algo de novo a dizer, mas igualmente indubitvel que o psiquismo
no todo ele autista. Esta realidade outra ao psiquismo evidencia-se frequentemente,
sobretudo na figura da frustrao, na impossibilidade de o desejo impor-se realidade.
A ttulo de concluso, creio que essas formulaes podem levar a uma concep-
o segundo a qual a dinmica do psiquismo e, assim, de sua temporalidade, desenlia-
se como numa rede percorrida pelo desejo suspensa entre plos virtuais - duas realida-
des inalcanveis, segundo Freud -, em constante concorrncia.
Notas
1. Este um problema quase comum com relao a metforas, imagens ou expresses do senso
comum, que, por aparecerem com alguma frequncia na escrita de Freud, impe aos
comentadores um trabalho de avaliao de seu estatuto. A 'posterioridade' ganhou grande
parte de seu status atual a partir da leitura de Lacan; o mesmo ocorre hoje com o uso que
Laplanche faz de expresses freudianas como 'corpo estranho'.
2. As citaes de Freud foram extradas e traduzidas por mim da edio alem Gesammelte
Werke, Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag, 1977, em 19 volumes.
60
A GRAVIDEZ NA MULHER E NA ANALISTA:
ACONTECIMENTO E TEMPORALIZAO
Helena Kon Rosenfeld*
A memria de Amazonas Alves Lima
Existirmos
A que ser que se destina?
Caetano Veloso
Por que um homem morto (...) parece ocupar to pouco lugar?
Com efeito, aquele que o descobre no deixa de chocar-se com
a restrio de seu espao. Ele se encontra inscrito em limites que
no so propriamente seus, pois ele no os coloca transgredin-
do-os, e tampouco ele os nega ao coloc-los, como faz precisa-
mente o vivente. Este encontra-se presente em nosso espao
comum por seu automovimento ou suas tenses motoras. Vi-
vente, um homem habita o espao... Mas algum que jaz, amon-
toado nele mesmo, alojado no espao, a se encontra como que
incrustrado... (Maldiney, 1991; p. 19).
O corpo morto mostra um 'des-ser' e nos atinge desestabilizando nossa ancora-
gem. A viso de um corpo morto um acontecimento: provoca uma "ruptura na trama
das representaes e das rotinas", uma "quebra dos dispositivos de construo e ma-
nuteno do tecido da realidade", ao mesmo tempo em que "transio para um novo
sistema representacional" (Figueiredo, 1993; p. 4).
possvel perguntar, parafraseando Maldiney: "como somos atingidos pelo cor-
po grvidoT O corpo grvido mais do que corpo vivo: vida gerando vida. Ocupa
lugar demais, espalha-se pelo espao, transforma-se e cresce num ritmo veloz, trans-
gride os limites a cada momento.
De fato, uma mulher grvida jamais provoca indiferena. A gravidez um 'esta-
do ritual' que pode ser visto como algo a ser venerado ou temido. Na Samatra, h
rituais para proclamar a gravidez:
... a me da mulher grvida vai oferecer um bolo de arroz me
do homem e d a este um presente em dinheiro (...) No stimo
ms a grvida recebe arroz, especiarias, sabonete, p de talco e
Psicanalista, membro do departamento de Psicanlise do Instituto "Sedes Sapientiae". Mestranda no
Programa de Estudos Ps-Graduados em psicologia clnica da PUC-SP.
61
um sarong novo; acompanhada por um especialista em tradi-
o islmica que queima incenso e faz uma salada de frutas,
convidando as almas dos antepassados para comer (Kitzinger,
s.d.; p. 70).
Para outros grupos, a mulher grvida est em 'perigo ritual':
... pensa-se que ela est exposta a perigos por se encontrar num
estado intermedirio - ainda no me e j no virgem (...)
Enquanto passa por esta crise transitria de identidade, ela tam-
bm constitui uma ameaa para as outras pessoas (...) O beb
que ainda no nasceu tambm est em perigo ritual, no tem
lugar na sociedade. Nem sequer se sabe qual vir a ser o seu
sexo, como ser, ou se ir sobreviver (...) Por este motivo,
tambm considerado como sendo vagamente ameaador (...) As
futuras mes Lele da frica Central evitam aproximar-se de
pessoas doentes, que poderiam ser afetadas pelo beb, e piorar.
Entre os Nyakyusa, uma mulher grvida no deve se aproximar
do trigo que cresce nos campos, dado que o beb pode apro-
priar-se dele e fazer com que a colheita seja magra (ibid.; p. 69).
Uma grvida, iluminada ou perigosa, provoca sempre um impacto.
A gravidez um acontecimento, e no s pela brutal e rpida transformao
corporal que se abate sobre a mulher, mas pelo que tal transformao testemunha: a
gerao de um novo ser, ou melhor, de dois novos seres - um beb e uma me. O
corpo de sempre, to familiar, muda rapidamente e adquire outra forma e funo. A
mulher se tornar me e ter sua vida, sua identidade de at ento, totalmente des e
reestruturada. Ruptura e transio: acontecimento e temporalizao.
Todo acontecimento tem uma relao direta com a temporalidade: alm de divi-
dir o tempo em antes e depois, ele tem uma temporalidade intrnseca. o tempo do
trnsito, do estar em suspenso, do ferimento aberto. Em cada acontecimento h dois
momentos: uma quebra de sentido e a re-emergncia dele, que reconstitui o passado e
descortina um novo futuro.
Por mais comum e cotidiana que a gravidez seja no mundo dos humanos, tem em
si um aspecto surpreendente, inesperado, impossvel, inacreditvel. A gravidez pode
ser intensamente desejada ou cuidadosamente evitada, mas o desejo de (no) engravidar
no basta para (no) engravidar. Est fora do controle da vontade, assim como o sexo
do beb ou o dia do parto. A gravidez surge, a mulher passvel a ela. As tentativas de
controle, que aumentam cada vez mais com o desenvolvimento tecnolgico, podem
ser uma defesa contra a abertura, a facticidade. "Estar lanado (ao invs de escolher)
um fato, e meu fado, meu destino" (Figueiredo, 1993; p. 17).
A atitude mais sbia diante disso seria a serenidade, tal como compreendida por
Heidegger: "Quando se espera o inesperado nada h a fazer seno (...) manter-se na
62
espera; esperar com os sentidos atentos e abertos mas sem uma direo pr-sele-
cionada..." (ibid; p. 34). Trata-se de uma relao muito particular com o tempo, em
que o presente o espao do acolhimento de um acontecimento, um presente que no
est entupido pelo passado e que no impede a aproximao do futuro. Permitir que
este acontecimento-gravidez se d no seu corpo, aceitar a ineludvel sujeio nature-
za. A serenidade especialmente necessria, por exemplo, no final da gravidez, quan-
do se sabe que o parto pode ser hoje ou daqui a 15 dias. Muitas mulheres e mdicos
no suportam essa espera, essa espera do inesperado, a ideia de que o parto ser quan-
do e como tiver que ser, e marcam data e horrio para a cesariana.
"Fazer uma experincia: sofrer o encontro com uma alteridade inesperada e
inominvel (...) entrar em contato com o que sempre esteve ali, to prximo, mas
esteve todo o tempo apenas como fundo, reserva e possibilitao do que at ento
estivera presente" (ibid.; p. 20). Ser mulher, esta condio que tambm no escolhi-
da, traz consigo a possibilidade, que nem sempre se realiza, da gravidez e da materni-
dade. A gravidez e o ser me so alteridades que sempre estiveram ali como fundo e
reserva para a mulher. O seio que sempre esteve ali to familiar torna-se outro quando
enche-se de leite e passa a alimentar um beb. O enjoo dos trs primeiros meses, a
depresso ps-parto, o abalo que surge com a descida do primeiro leite podem ser
vistos como expresso de um transtorno, como reao da mulher irrupo dessa
outra que ela mesma to estranha.
O trabalho de parto e o prprio parto um acontecimento especialmente trans-
tornante e transformante: nele a mulher se encontra, impulsionada pela vivncia de
dores e emoes fortssimas nunca antes sentidas, diante de algo extremamente
impactante. Trata-se do 'trnsito' propriamente dito, trnsito vivido concretamente no
corpo e que a expresso da temporalidade intrnseca do acontecimento-gravidez.
Aquilo que precisou de nove meses para se formar e crescer dentro dela, sai agora de
maneira abrupta e ser preciso muito tempo para que a mulher possa efetuar o trnsito
num outro nvel, o trnsito que vai permitir a simbolizao e a temporalizao, o "trn-
sito da irrupo de um inominvel ao a posteriori do sentido" (ibid.; p. 6), para que
possa, a partir dessa experincia desestabilizante, realizar um trabalho psquico que
lhe permita transformar-se em me.
O que aumenta o impacto dessas experincias para a mulher o fato de serem
experincias comuns, cotidianas. Tantas mulheres engravidam e parem todos os dias!
No entanto, quando faz esta experincia aparentemente to previsvel, conhecida, fa-
lada, que a mulher sofre uma violenta desancoragem - torna-se "signo vazio de
sentido" - porque percebe o quo nica, inominvel e imprevisvel uma gravidez e
um parto. E se d conta do rduo trabalho de elaborao, religao, traduo,
metaforizao, busca de sentido, que ter de fazer para concluir esse acontecimento,
inserindo-o em sua histria de vida interior e temporalizando sua existncia. Mulher -
corpo feminino - me.
63
Voltando pergunta inicial, possvel reformul-la num outro contexto: como
um paciente atingido pela gravidez da analista?
Trata-se de um corpo grvido que vai surgindo - um aspecto da vida ntima da
analista que irrompe na relao analtica. Uma barriga que vai crescendo, um corpo
que vai se transformando, impondo uma presena, forando ser percebido. Um tercei-
ro que passa a estar presente na sala durante a sesso. Um fato, um elemento concreto
que invade a cena e com o qual analista e paciente vo se deparar inevitavelmente.
Ione casou-se aos 23 anos e teve uma filha, de quem no pde cuidar (tratava-se
de uma impossibilidade psquica, no econmica). Ficou grvida, pariu, mas no se
tornou me. Sua filha foi criada pela av, me de Ione. Procurou-me h quatro anos:
sua me havia morrido e a filha, ento com 12 anos, veio morar com ela. Nesses 12
anos teve outro casamento e depois o que ela chamava de "vida sexual promscua".
Temia ter Aids. Fez vrios abortos, o ltimo dos quais, feito numa 'espelunca', culmi-
nou com a retirada do tero, o que fazia com que se apresentasse como 'mutilada'.
Deu-se conta da minha primeira gravidez dizendo: "Nunca pensei que voc pu-
desse engravidar (...) algumas pessoas so picas para mim, no so como todo mun-
do, no riem..." Desancoragem.
Sentia-se incomodada em ser 'mutilada', algum que no podia ter filhos, diante
de uma mulher no pleno exerccio da fertilidade. Minha gravidez - e ainda mais, eu
devia ter um casamento estvel, ser feliz, centrada, etc. - a remetia para sua misria.
"Sou estril, no posso ser me, no tenho tero..." Falei que ela de fato tinha perdido
o tero, mas que j havia tido uma gravidez e uma filha, de quem poderia tornar-se
me. Minha gravidez detonou nela um processo de 'gravidez simblica', de uma nova
gravidez e parto da prpria filha, e ficamos muito tempo falando sobre o ser me, tema
que no se esgotou. Minha gravidez - para ela saudvel, bem-sucedida, etc. - era uma
esperana: dizia que no contato comigo aprenderia a ser me tambm.
Ao mesmo tempo, vivia tentando me impressionar, falando dos filhotes ensan-
guentados de sua cachorra e de mortes por parto, talvez para testar se eu era to forte e
destemida quanto ela precisava que eu fosse.
Quando percebeu minha segunda gravidez, falou dela en passant, com naturali-
dade e indiferena, talvez para minimizar o impacto do que havia percebido, para
agarrar-se ao cho cotidiano, evitando a desancoragem. Quando isso tornou-se impos-
svel, a fora com que esse acontecimento destroou seu mundo fez-se notar. Come-
ou a pensar na morte, a morte da me, a morte dela prpria, a minha morte. At a sua
cachorra, ausente de seus relatos por longo tempo, reapareceu doente e morrendo. "Ao
destroar um mundo, ele [o acontecimento] sempre uma prefigurao da morte"
(ibid.; p. 5).
Mesmo tendo vivido comigo minha primeira gravidez e tendo testemunhado
meu afastamento e meu retorno, temia que algo se transformasse de vez na relao,
64
temia que eu no voltasse depois do parto.
"Grvida de novo? Vai sair de licena de novo? At a Laura [filha] disse que
voc acabou de ter um e j vai ter outro!" Sentia-se trada por mim e dizia que grvidas
so desatentas: eu a estava deixando s. Sentia que eu queria que ela desenvolvesse
logo recursos prprios para no precisar mais vir: eu a estava preparando para o dia em
que no fosse mais atend-la. Vingava-se faltando as sesses; quando vinha, desculpa-
va-se pela "grosseria" de ter me deixado esperando por ela.
Por outro lado, assim como na poca da minha primeira gravidez, comeou a
pensar que poderia usar o tempo em que eu estivesse afastada para dedicar-se mais
sua filha: em vez de ser apenas uma filha abandonada por mim, poderia ser tambm
uma me, assim como eu.
A gravidez da analista um acontecimento na relao analtica, algo que irrompe
e rompe sua dinmica habitual. Alguns pacientes logo percebem que algo mudou e
outros nada reparam mesmo quando a barriga j est bem saliente.
A primeira reao geralmente de perplexidade: "Analista engravida? mesmo
uma gravidez o que estou percebendo?" Uma paciente disse que no comentou nada
porque achava que eu estava era gorda e receava me ofender - ela tem problema de
excesso de peso.
difcil sair do cho cotidiano em que s ocorre o esperado e previsvel. Quando
no d mais para negar que algo surpreendente e ainda irrepresentvel ocorreu, a an-
gstia toma conta. o momento do "trnsito da irrupo de um inominvel ao a
posteriori do sentido", do "signo vazio de sentido", do estar em suspenso.
Solange, ainda antes de iniciar a anlise, teve uma gravidez difcil, em que sen-
tia-se uma "porca obesa" gerando um "monstro Alien". Resiste a engravidar de novo,
apesar das presses do marido. Numa determinada sesso, estava falando da raiva que
muitas vezes sente do filho e me pergunta: "Por acaso voc est grvida?" E diante da
minha afirmativa: "Ah, mas que bom, que timo, uma coisa maravilhosa para uma
mulher, parabns!" Fala com um tom de voz formal, distante de mim e de todas as suas
vivncias em relao maternidade, que para ela no tinha nada de maravilhoso. At
esse momento no havia se permitido arrastar pelo acontecimento; agarrou-se s con-
venes sociais, ao 'impessoal cotidiano', aos fatos e 'reaes' (em oposio a aconte-
cimentos e 'respostas'). Foi s na sesso seguinte que disse ter muito medo de me
fazer mal: se falasse da raiva que sentia do filho, iria me influenciar e eu iria ter raiva
do meu beb; se falasse de sua depresso, eu iria ter depresso ps-parto. Sabia que as
pessoas falam coisas para influenciar as grvidas e no queria (queria?) fazer isso
comigo. Neste 'trnsito', viu a relao comigo ficar ameaada, j que no podia mais
dizer o que sentia realmente - e de fato no dizia, ficando no plano das formalidades,
de onde tenho muita dificuldade de desaloj-la-, mas ao mesmo tempo pde comear
a entrar em contato com a ideia de que h outras formas de viver a feminilidade,
65
diferente da forma como ela sofridamente vive.
A gravidez da analista um acontecimento que provoca um abalo na relao
analtica e empurra a dupla para uma nova situao ainda indeterminada. um impac-
to, uma desancoragem que pode transformar-se num trauma, num acontecimento
transtornante que atemporaliza a existncia, ou pode abrir para a relao campos at
ento inexplorados: o acontecimento destroa, mas tambm funda. O trauma um
acontecimento que no acabou de acontecer, um acontecimento que no transita. No
processo de temporalizao, por outro lado, o acontecimento passa: o passado torna-se
apto a ser esquecido, o presente est desobstrudo e o futuro se abre como campo de
possibilidades diferentes do que j passou. O trabalho psquico deve ser o de suportar
o estar deriva e ao mesmo tempo tentar sair do trnsito angustiante, distanciar-se do
impacto diante do acontecimento-gravidez para conclu-lo, ultrapass-lo, temporaliz-
lo - simbolizando, traduzindo, metaforizando, carregando de sentido - e inseri-lo na
histria interior de vida do paciente e na histria da relao. Como nas palavras de
Henry Maldiney (apud ibid.; p. 31):
A existncia se constitui atravs de estados crticos onde algum
, a cada vez, impelido, pelo acontecimento (pelo jorro do mun-
do), a ser si ou se aniquilar... Uma crise uma ruptura de exis-
tncia. Nela o si coagido ao impossvel para responder ao acon-
tecimento sob a ameaa do qual ele no pode existir a no ser
tornando-se outro. Resolver a crise integrar o acontecimento
transformando-se.
Referncias bibliogrficas
FIGUEIREDO, Lus Cludio (1993). Fala e acontecimento em anlise. Percurso, (11): 45-50,
So Paulo, Departamento de Psicanlise, Instituto "Sedes Sapientiae".
KITZINGER, Sheila (s.d.) Mes; um estudo antropolgico da maternidade. Portugal/Brasil, Pre-
sena/Martins Fontes.
MALDINEY, Henry (1991). Evnement et psychose. In: . Penser l'homme et la folie. Grenoble,
Millon. ['Acontecimento e psicose', trad. livre Martha Gambini.]
66
PS-NATURALISMO E CIENCIA DA SUBJETIVIDADE:
PROBLEMA DO TEMPO E DA AUTONOMIA
NO COGNITIVISMO CONTEMPORNEO
Eduardo Passos *
Talvez j no produza espanto dizer que o pensamento que nos habituamos a
identificar como o das cincias humanas e sociais esteja marcado, contemporaneamente,
por um desafio: o de manter-se no limite instvel entre o dilogo com a diferena, com
as singularidades que matizam a realidade objetiva, e a busca da inteligibilidade ou
sentido do objeto. O risco maior experimentado por esse pensamento seria o de per-
der-se em um descritivismo da diferena por ter abdicado do seu compromisso com o
sentido ltimo, com a verdade. Essa abdicao estaria historicamente justificada pela
autocrtica que essas cincias foram obrigadas a realizar frente ao que foi a sua marca
dominante at ento, a saber, a busca de universais ou de verdades trans-histricas
acerca do seu objeto e que as funes cientficas tinham como projeto equacionar.
Mas assumir esse desafio atual no implica necessariamente abandonar a tarefa
de buscar um sentido para esse estranho objeto de estudo que pareceu sempre refrat-
rio sua apreenso definitiva pelas funes cientficas disponveis. A subjetividade
esse objeto de conhecimento que constrange um ideal de inteligibilidade definido pela
tentativa de alcanar um determinismo e uma previsibilidade mximos - ideal que
podemos chamar de laplaciano e que se imps como forma hegemnica de conheci-
mento. exatamente pela dificuldade em formalizar um conhecimento sobre a subje-
tividade, tal como as cincias naturais investigavam em seus laboratrios, que o pen-
samento contemporneo se esfora em traar uma estratgia de abordagem paralela
quela da cincia. Falar a verdade do sujeito: a quem cabe essa tarefa? No lugar deixa-
do vazio pelo discurso cientfico, impuseram-se, como formas alternativas e legtimas
de saber sobre o sujeito, duas prticas discursivas que no se confundiam: a filosofia e
a psicanlise. Trata-se de saber em que medida aquele desafio no pode ser encarado
assumindo-se uma terceira posio. Gostaria de me colocar realmente em uma outra
posio que de alguma forma se situa entre a psicanlise, a filosofia e a cincia. Para
tal, devo partir do fato da cincia contempornea na sua relao - que espero ao final
*Professor-adjunto do setor experimental do Departamento de Psicologia da UFF. Doutor em Psicologia
pela FGV-UFRJ.
67
ter podido explicitar - com os problemas da subjetividade e do tempo.
A principio, pode-se estranhar a tentativa de conciliar esses termos, cincia e
subjetividade, pois quando a questo a do sujeito h uma tendncia a se inclinar o
discurso seja para o campo da psicanlise, seja para o da filosofia. No entanto, tente-
mos resistir, dentro do possvel, s inclinaes e nos esforcemos por nos manter no
interior desse domnio, que a partir da segunda metade do sculo XIX se funda como
um projeto de cincia da subjetividade
1
. E por cincia da subjetividade entendemos as
tentativas que, de Wundt (1879) aos nossos dias, buscam dar conta do fenmeno cogni-
tivo e do sujeito que se define como sujeito do conhecimento. Pois a psicologia, como
atualizao primeira da cincia da subjetividade, nasceu da influncia de duas linhas
genealgicas que fizeram desse saber uma forma de epistemologia experimental: por
um lado, a psicologia herdou uma problemtica da filosofia moderna - essa que desde
Descartes encontra como fundamento do conhecimento a certeza inelutvel da exis-
tncia de um eu pensante - e, por outro lado, importado, por esse saber com preten-
ses cientificas, o mtodo de investigao das cincias naturais. sob a gide do natu-
ralismo que se define o esforo original da psicologia de se estabelecer como uma
cincia da subjetividade - pretenso que se apresenta, por isso mesmo, como crtica,
na dupla acepo do termo: saber que no pode deixar de se impor por sua capacidade
de criticar os outros projetos de explicao de seu objeto, mas tambm saber que nasce
em uma situao de crise, da qual em vo tenta se livrar.
Pois, constrangedoramente, foi esse naturalismo que sempre impediu a realiza-
o daquele projeto. H, nos parece evidente, uma impossibilidade de direito de se
compatibilizar o tema da subjetividade com a noo tradicional de natureza, sobretudo
quando se verifica que o prprio do humano - se realmente ainda possvel falar aqui
em propriedade - o que se localiza a como inumano. Tento me explicar: o que h de
mais humano no homem seno a sua capacidade de forjar para si outras naturezas?
Viver na cultura ou estar na linguagem como em um 'meio natural' definir-se por
uma situao paradoxal: humano porque em constante desvio por relao ao que se
imporia como limites internos sua natureza, humano porque movido por uma vonta-
de do incomensurvel, por uma vontade de superao desses limites.
Pois bem, no quadro recente da cincia da subjetividade, essa inumanidade se
apresenta de forma bastante explcita. Verifica-se no cognitivismo das ltimas dca-
das (mais especificamente a partir da dcada de 1950) uma forma paroxstica dessa
vontade de superao da natureza. Refiro-me, ento, ao campo de investigaes que se
funda a partir do advento de um novo instrumento terico-tecnolgico - o computador
- e que Herbert Simon chamou muito acertadamente de campo das 'Cincias do Arti-
ficial' (1969)
2
. Nesse campo, os estudos sobre o sujeito cognoscente (a cincia cognitiva
como ficou conhecida a partir da dcada de 1970) j no mais se realizam exclusiva-
mente nos laboratrios de psicologia. Vrias linhas de investigao se cruzam doravante,
criando uma regio epistemolgica de ntidos traos transdisciplinares. Pois o com-
68
putador que, pela sua fora de artifcio, dissolve as antigas fronteiras entre as discipli-
nas, permitindo o surgimento de formas hbridas e novas de conhecimento. E se foi a
psicologia que no sculo XIX iniciou o projeto de uma cincia da subjetividade, no
ela que chega sozinha ao final desse percurso.
Nesse novo campo, o sujeito, caindo mais uma vez capturado por essa imagem
intelectualista que desde o sculo XVII o identificava ao ato puro da razo (o sujeito
como res cogitans), esse sujeito desafiado a sublimar-se completamente, abdicando
de toda existncia material para realizar-se como puro pensamento, pensamento sem
corpo ou como software que se define independentemente da base material em que ele
se inscreve, seu hardware. Supremo desafio de superar o que ainda se oferecia como
um limite ao pensamento: a morte do pensamento imposta pela morte do corpo. Em
uma bela conferncia a filsofos alemes em 1986, J-F. Lyotard (1990) fez ver como
uma nova experincia da morte que mobiliza a cincia e a tecnologia contempor-
neas. Da advm um estranho compromisso que o pensamento no pode agora despre-
zar: garantir ao humano uma sada inumana.
Vivemos em uma civilizao marcada por essa experincia de uma morte radical
- morte nunca antes pensada, mas que agora se impe como problema-limite de que
a razo humana no parece poder escapar. Trata-se da ameaa da morte total ou extino
da matria, que vem anunciada pelas projees astronmicas e mesmo aproximada
pelos telescpios orbitais. "Na Terra, haveria extino em massa" (Folha de S. Paulo,
10.6.1994), foi assim que se noticiou a magnitude da morte causada por uma coliso
possvel da Terra com o cometa Shoemaker-Levy 9. As observaes por intermdio
do telescpio orbital Hubble ofereceram as imagens da maior coliso testemunhada
pelo homem, quando Jpiter foi atingido por vinte fragmentos do cometa na forma de
bolas de gelo com dimetro de at 4 km e com velocidade de 60 km/s. A exploso
estimada foi da ordem de cem milhes de megatons de TNT, mais de dez mil vezes o
arsenal nuclear da Terra armazenado durante a Guerra Fria. A morte absoluta trazida
na cauda fria do cometa a forma mais do que imaginria do problema a se encarar.
Como enfrentar essa dimenso de uma morte absoluta, uma morte que no a morte
do indivduo ou uma morte local? Como garantir ao pensamento a permanncia da sua
atividade quando a matria ameaada de extino? Como libertar a razo humana da
morte do Homem advinda na forma de um cataclisma astronmico, como a extino
do Sol ou a coliso de um cometa?
Libertar o sujeito pensante da ameaa dessa morte talvez tenha sido a misso
secreta de uma cincia da subjetividade que projetou artificializar a inteligncia a fim
de torn-la autnoma e eterna. Nos deparamos atualmente com uma cincia que to-
mou a fico como princpio de realidade. Os robs so sucedidos pelos cyborgs e j
esperamos pelos andrides. A cincia quer sintetizar o humano, ou por outra, a cincia
aposta em uma sada inumana para a humanidade. E no se deve achar que h qual-
quer juzo de valor quando se afirma esse inumano. Pois inumano no o que menos
69
que o humano em urna escala evolutiva (como o macaco de que se dira ser infra-
humano), nem o que inferior em uma dimenso normativa (como um frio assassino
de quem se dira ser subhumano). Inumano aqui designa o que no homem se define
como fora negadora ou potncia de superao da prpria identidade. O pensamento,
enquanto capacidade sintetizante ou inventiva no homem, atestaria essa sua inu-
manidade. Tentar, ento, entender a faculdade pensante , de alguma forma, confrontar-
se com essa dimenso inumana da subjetividade. Tal o desafio e o paradoxo. Na cena
terico-cientfca contempornea, o cognitivismo computacional foi uma tentativa de
sntese da capacidade sintetizante do pensamento. Quis-se formalizar o sujeito
cognoscente, revelando-lhe a estrutura, decodificando a lgica de organizao do sis-
tema simblico, acreditando-se ter chegado finalmente sua 'psico-lgica'. A realiza-
o final da exigncia de umknowing by doing, tal como Vico formulou como condi-
o para a cincia, a forma camuflada de uma vontade demirgica do homem: criar
a si mesmo, repetindo tecnologicamente a inveno de Deus.
Mas em que esse desafio demirgico ainda fracassa? Sem dvida no seria pela
sua audcia, j que ela no faz mais do que reforar a sua humanidade, ou melhor, a
sua inumanidade. Fracassa talvez pela concepo de sujeito que a mquina com-
putacional encarna. Mas, partamos do incio: a definio do projeto computacional.
H um mrito irrecusvel desse modelo computacional do sujeito - e afirman-
do-o como modelo j me distancio do ncleo duro do cognitivismo computacional,
que no admite que o computador seja um modelo ou uma metfora, mas a realidade
mental ela mesma (veja, por exemplo, os trabalhos de Fodor, 1983 e Pylyshyn, 1975).
O mrito desse modelo, de qualquer forma, ento o de ter repensado a posio rela-
tiva do sujeito frente ao impasse entre natureza e artifcio. Podemos entender que a
atividade mental constri seus artefatos ou sistemas de ideias sem lanar mo de in-
gredientes naturais e a partir de entidades puramente abstraas, mentais: ideias, inten-
es, crenas, imagens, objetivos, etc. Logo, o projeto para uma cincia dessa produ-
o leva inevitavelmente a uma 'cincia do artificial'. Pois estamos lidando com a
engenhosidade da atividade cognitiva, esse o objeto de investigao. Uma cincia
cognitiva no poderia evitar essa sintonia entre o trabalho da investigao e a prpria
especificidade do fenmeno investigado. Pois, aqui, o sujeito teorizante ocupa as duas
posies na relao cognoscente, elevando ltima potncia a situao cognitiva.
Conhecer o ato de conhecer faz com que se crie esse exponencial cognitivo que decola
o pensamento do reino com que a natureza foi identificada. Na verdade, a noo
mesma de natureza que se subverte diante dessa 'reflexo' do pensamento, j que se
encontra, no s no homem, essa potncia cognitiva. Se h engenho e projeto na natu-
reza, preciso ento descobrir ali tambm o artifcio.
Ora, se o sujeito pode ser pensado como uma potncia de artifcio, nada nos
impede de tom-lo como uma realidade maqunica. E foi isso que a cincia cognitiva
fez - em especial os seus estudos em Inteligncia Artificial (I. A.). O que quer a I. A. ,
70
pela produo de programas computacionais capazes de executar tarefas cognitivas,
demonstrar a identidade entre esses softs e a inteligncia humana. E no a que se
deve encontrar as razes para a crtica I.A., pois no se cai em um psicologismo ao se
afirmar o projeto computacional, j que a natureza - no s a do homem mas a nature-
za como um todo - ela mesma tida como artificial.
Na verdade, se achamos alguma coincidncia entre o objeto tal como foi tradi-
cionalmente definido pelas cincias naturais e aquele das cincias do artificial, isso se
deve a uma aparente superposio de interesses diferentes. Pois as cincias naturais se
interessaram at recentemente pela estrutura interna do seu objeto e pelo ambiente no
qual este se localiza. So dois termos ou duas estruturas que se investiga, uma interna
e outra externa. Ao contrrio, um artefato computacional (soft), no lugar de estar em
uma dessas posies, uma interface entre esses meios. Sem entrar no detalhe da
constituio dos ambientes interno e externo, as cincias do artificial buscam, e cito
Simon (1981), na "relativa simplicidade da interface a fonte primria de abstrao e
generalidade". E o que se abstrai e generaliza o que h de semelhante entre compor-
tamentos de sistemas cujos meios interiores no so necessariamente idnticos. O que
importa aqui a similitude da 'organizao' dos componentes, encarada como inde-
pendente das propriedades dos componentes em si. Desprezando a questo de que
termos formam a estrutura de um organismo ou de um sistema artificial qualquer,
destaca-se o aspecto organizacional do comportamento, a maneira como se projeta a
relao entre os meios interno e externo, em suma, a lgica do funcionamento da
interface. Conclui-se, portanto, que as cincias do artificial so, por definio, 'cin-
cias da simulao', j que qualquer sistema pode ser tomado semelhana de um
outro, desde que se manifestem as mesmas caractersticas funcionais ou organizacionais.
Nesse sentido, o computador o artefato mais conveniente para a descrio funcional.
Podemos descrever o seu funcionamento em termos do seu programa organizacional
(seu software) sem fazer referncia sua interioridade material (seu hardware). Da
ser possvel e mesmo legtimo pensar uma biologia, uma psicologia ou uma astrono-
mia computacionais, isto , cincias que igualmente lidam com seus domnios objeti-
vos tomando-os como realidades computacionais. Nesse sentido, se inteligncia de-
finida agora como o que se descreve em termos organizacionais, se cognitivo todo o
sistema que pode ser descrito a partir da sua lgica de organizao, se, finalmente,
artificial toda realidade simulvel computacionalmente, logo o limite entre o humano
e o no-humano, entre o natural e o artificial, entre as cincias do homem e as cincias
naturais foi superado.
A novidade do modelo neomecanicista, que a ciberntica desenvolvida por N.
Wiener engendrou, est em ter empregado dispositivos mecnicos no para reproduzir
a forma aparente do homem ou de qualquer outro organismo, mas sim para tentar
produzir a rplica de sua capacidade cognitiva, sintetizar o seu esprito. O autmato
construdo como um sistema feedback no quer imitar a aparncia das coisas, como
71
faziam os bonecos mecnicos do sculo XVIII; ele almeja ser um 'replicante' (no sen-
tido de rplica ou cpia), cujo funcionamento no pode ser distinguido da maneira de
funcionar daquele que ele copia, no se colocando, em contrapartida, nenhuma identi-
dade de natureza entre eles. Entre o organismo e o 'replicante' h uma identidade
nessa absoluta diferena: uma identidade, portanto, funcional, lgica ou organizacional.
A tese ciberntica afuma que a estrutura da mquina ou do organismo um ndice do
desempenho que dela se pode esperar. H, portanto, uma correspondncia forma-fun-
o que permite a possibilidade, pelo menos terica, da construo de uma mquina
cuja estrutura artificializasse, no a anatomia, mas a fisiologia do organismo, e cuja
operao tivesse uma capacidade funcional idntica. Com engrenagens ou circuitos
eltricos pode-se produzir um efeito de intencionalidade que torna indistinguvel o
que realizado pela mquina e pelo organismo.
No sculo XX, chega-se a uma concepo mais precisa de automatismo que de-
fine algo alm da simples capacidade de movimento espontneo da mquina. Os aut-
matos de relojoaria no so 'replicantes' verdadeiros porque no simulam o comporta-
mento intencional, no possuem autonomia ou auto-regulao. Seu funcionamento
est ordenado (programado) do incio at o fim da operao, no havendo neles espon-
taneidade intencional, ao contrrio do autmato com retroalimentao, que pode regu-
lar a sua prpria conduta. A cincia neolgica que Wiener criava tinha a pretenso de
desvelar a mecnica secreta dos comportamentos intencionais. Ciberntica uma pa-
lavra derivada do vocbulo grego que designa a ideia de pilotagem. Como os compor-
tamentos so orientados? Como se governa a ao? O modelo computacional da inte-
ligncia parecia se aproximar da soluo dessas questes. No entanto, um aspecto
essencial era deixado de fora do novo esquema explicativo. Pois se com esse modelo
era possvel pensar algo mais do que o mero automatismo, por outro lado, no se
conseguia sintetizar efetivamente a autonomia. Todas as simulaes realizadas
computacionalmente esbarraram na dificuldade de artificializar a capacidade criativa
ou inventiva do pensamento. No toa que a inteligncia aqui definida como
capacidade de soluo de problemas e no de inveno de problemas. O autmato
computacional pode muito bem resolver um problema de lgebra ou jogar xadrez, mas
com a condio de possuir previamente uma regra de operao, um soft que organize
o seu comportamento. Nesse sentido, a simulao ainda s aparente, j que no foi
possvel desenvolver programas capazes de criar outros programas com superior ou
igual capacidade cognitiva
3
. O autmato no completamente autnomo. Ou, por
outra, somos j capazes de criar robs e cyborgs, mas no andrides.
Mas essa dificuldade parece ser mais do que um limite de fato que os avanos
tecnolgicos um dia superaro. Talvez seja ela uma limitao de direito, determinada
pela maneira como concebida a realidade como mquina. O cognitivismo com-
putacional vacila em seu projeto de simulao do sujeito pela forma como ainda se
filia tradio mecanicista. Esse neomecanicismo repete a mesma tendncia de anali-
72
sar o seu objeto como uma realidade puramente espacial e de que no cabe perguntar
a gnese. O sujeito definido assim como um conjunto de operaes simblicas de-
terminadas pela sua estrutura formal. A sintaxe dessas operaes guardam o segredo
da subjetividade, um segredo sem histria, j que essa lgica - ou 'psico-lgica', se
preferirem - independe do curso da experincia, independe do devir das mquinas.
Na verdade, as mquinas cibernticas no experimentam o devir. Da, a dificuldade de
pensar o sujeito como um Homo ciberneticus, pois esse modelo-mquina no serve
para dar conta da maqunica subjetiva.
Mas no devemos desanimar frente a essas dificuldades. No est descartada
integralmente a possibilidade - pelo menos terica - de se explicar o sujeito maquinica-
mente, sem que se caia em uma forma de reducionismo. isso que pesquisas
contemporneas nos parecem apontar. Refiro-me especificamente s teses de uma bio-
logia do conhecimento que foi concebida aqui perto de ns, no Chile. A obra de auto-
res como Maturana e Varela nos do indicadores muito estimulantes para a superao
daquelas dificuldades.
na efervescncia do governo de Allende que as ideias inaugurais dessa nova
biologia foram criadas. Quer-se redefinir a vida, pensando-a como uma atividade
cognitiva marcada por sua absoluta autonomia. Por isso, fazer biologia por definio
tratar do problema do conhecimento. E, nesse sentido, v-se como mantida uma
distncia por relao neurobiologia clssica, que toma a cognio como atividade
exclusiva do sistema nervoso, e toma o sistema nervoso como um mecanismo de pro-
cessamento de informao. Segundo essa concepo que j podemos chamar de tra-
dicional, a cognio uma atividade heternoma, j que determinada pelo que provm
do ambiente, ou seja, de fora do organismo. Na primeira fase da obra de Maturana e
Varela, encontramos uma inverso topogrfica dessa concepo. Agora, para declarar
a autonomia do fenmeno cognitivo, afirma-se que na interioridade do sistema que
se deve buscar o ponto de referncia a partir do qual a exterioridade ela mesma
engendrada. uma primeira tentativa de superao do paradigma dominante centrado
na noo de informao como poder estruturante do ambiente. No lugar do realismo
da neurologia tradicional, afirma-se um idealismo que preciso, ele tambm, ser
superado
4
.
A partir da dcada de 1980, esses autores reformulam as bases lgicas do proble-
ma da biologia do conhecimento. No mais localizam um ponto de referncia exterior
ou interior, mas conceituam a interdependncia do dentro e do fora. A autonomia do
fenmeno cognitivo, como da vida em sua essncia, doravante pensada com o con-
ceito de 'enao'
5
(neologismo criado a partir do verbo ingls to enact: decretar, dar
fora de lei). O que se declara, ento, que a cognio um mecanismo autopoitico,
isto , um ato de criao que constitui tanto o plo objetivo quanto o subjetivo do
fenmeno da cognio. Ela , portanto, um ato ou decreto que faz emergir bilateral-
mente um sistema cognitivo e o ambiente que com ele se relaciona. Conhecer no
73
mais processar simbolicamente um input, no mais ser informado pelo meio, nem
constituir representaes. No , por outro lado, idealizar o mundo no interior de uma
subjetividade dada. Ao contrrio, a cognio se realiza como as modificaes de um
sistema fechado que cria os seus prprios componentes e que est em 'acoplamento
estrutural' com o ambiente. A manuteno da vida pressupe que a cada modificao
do organismo corresponda uma alterao do ambiente sem que essa correspondncia
seja explicada por capacidades representacionais do sistema cognitivo. Isso porque a
cognio se d a partir de atos performticos (na acepo de Austin) em cuja fora
pragmtica encontra-se o sentido da autopoiese. Trata-se de uma biologia da autopoiese,
entendendo-se que esse prefixo grego (autos), que significa 'por si prprio', 'de si
mesmo', no designa a liberdade ou a autonomia de algum, j que tudo se constitui a
partir desse ato de criao, dessapoiesis, ato potico puro com que se identifica a vida.
Da a inspirao que Varela (1993) declara no seu ltimo livro (The embodied
mind - cognitive science and human experienc) receber do pensamento oriental: o
budismo teria sido uma oportunidade de intuio transversal dessas ideias. Pois o que
se impunha superar agora, quando o dentro e o fora no mais so tidos como pontos de
referncia, era a necessidade de um fundamento. A biologia do conhecimento aceitava
o desafio de pensar sem fundamento. E assim estava garantida uma verso definitiva-
mente no antropomrfica da cincia da subjetividade, uma vez que o ponto de vista
agora no mais humano, como j no era com o ncleo duro do cognitivismo computa-
cional, ou pelo menos j no era completamente. O que eu quero dizer que se avana
quando vamos das mquinas cibernticas s mquinas autopoiticas. E o que se ganha
a a possibilidade de dar conta do problema gentico ou temporal da emergncia do
humano. Pois as pesquisas em L A. debilitam o seu esquema explicativo ao identificar
cognio com soluo de problemas e soluo de problemas com aplicao de regras,
scripts ou frames
6
simblicos de que no se pode perguntar a gnese. Com essa nova
biologia a dimenso temporal que privilegiada. Tratar, ento, da questo do conhe-
cimento implica necessariamente a indagao gentica acerca dos componentes do
fenmeno cognitivo.
Ao colocar o problema da origem do smbolo e de seu sentido, fica estabelecida
a dependncia do nvel simblico em relao s propriedades histricas da rede de
conexes que compe o sistema cognitivo. Assume-se, portanto, o problema da passa-
gem da desordem para a ordem, dos elementos no-inteligentes inteligncia, do caos
da experincia estrutura da razo. A histria ganha importncia quando se faz neces-
srio explicar a origem do sentido. Pode haver, portanto, uma histria da razo em
termos biolgicos. Para isso, dois nveis de anlise tomam-se interdependentes: a an-
lise 'processual', descrevendo o funcionamento da operao cognitiva, no pode sozi-
nha dar conta da cognio sem que esteja associada anlise do processo de produo
dos estados internos e das regras de estruturao. Pois no se admite mais que toda a
atividade cognitiva possa ser pensada como resultado do funcionamento independente
74
de um sistema simblico regido por regras de inferncia - regras que no podem ser
conhecidas a partir da investigao epignica. A inteligncia, sendo um fenmeno
emergente, pode ser verificada em diferentes situaes em que se constata a formao
de uma ordem. No s o pensamento inteligente, nem a inteligncia um atributo
exclusivo do sistema nervoso. No organismo, sempre que o fluxo catico da vida se
submete, mesmo que momentaneamente, a uma tendncia ordem (ao de um atra-
tor) pode-se dizer que ali h inteligncia. H inteligncia, dessa forma, na unidade
elementar da vida que a clula. Al i verifica-se a circularidade prpria do bios, j que
na dinmica metablica da clula so produzidos os componentes que integram a rede
de suas transformaes bioqumicas
7
. Nessa circularidade, o que se produz o prprio
produtor, numa relao inseparvel entre ser e fazer. A unidade autopoitica est do-
brada sobre si, engendrando os seus prprios componentes, delimitando-se como sis-
tema autnomo. Ao descrever esse processo de auto-individuao, a biologia est desig-
nando a organizao mnima que qualquer estrutura viva deve respeitar. Todo sistema
vivo pode ser assim chamado porque respeita essa organizao. A organizao
autopoitica a identidade invarivel da vida, que persiste nas diferentes estruturas
assumidas ao longo da 'deriva natural' por que passa o organismo. vivo o que pre-
serva sua capacidade de autonomia e de criao dos prprios componentes. Essa orga-
nizao no muda, embora seja muito pouco o que se define aqui como invariante.
Porque todo o resto se apresenta como um processo de transformao dos compo-
nentes estruturais que singularizam os sistemas a partir das interaes que so estabe-
lecidas.
Todo domnio de interaes, fechado na sua operatividade circular, configura
para si uma realidade. Nessa perspectiva, o mundo tal como nos aparece resultado
das alteraes internas estrutura individual. Compreende-se, ento, a frmula que
Maturana e Varela (1990) escrevem na Arvore do conhecimento: "coincidncia cont-
nua de nosso ser, nosso fazer e nosso conhecer". Os bilogos descobrem no movimen-
to circular da autopoiese o segredo da vida. Nisso eles avisam a sua admirao pelas
formas circulares da criao, exploradas obsessivamente nas gravuras de Escher. H
uma organizao primitiva do universo vivo - primitiva porque originria - que os
desenhos do artista neerlands expressam pela fora paradoxal do crculo: forma que
contorno de si mesma. Em sua vasta obra, a banda de Mbius, que deu a frmula
para a organizao de vrias gravuras, permitiu que se expressasse, em imagem, o
paradoxo da-criao artstica: crio um mundo que outro por relao a mim em mim.
Essa questo que parecia obcecar o artista no est longe da ideia de 'clausura
operacional' que os bilogos chilenos identificam no sistema vivo. Uma banda uni-
face, que se torce de tal forma que o seu lado exterior uma verso de sua face interna,
parece refletir a especificidade da unidade viva, que cria o mundo a partir de dobras
de si mesma. Lembremos aquela gravura Mains dessinant, de 1948. Nesse desenho,
tem-se a sntese do problema que atravessa toda a produo do artista. Aqui, as mos
75
do desenhista desenham a si mesmas, capturadas, definitivamente, pela circularidade
da criao. O espao se engendra por um desdobramento de tal maneira que o interior
o exterior, que o dentro a dobra de um fora. No que haja um mundo preestabelecido
que minha imagem mental representa. Ao contrrio, o mundo contemporneo ao ato
de tom-lo: "Todo ato de conhecer traz um mundo s mos" - "Todo fazer conhecer,
todo conhecer fazer".
Colocando a vida como ato poitico, esses autores destacam a importncia da
dimenso temporal de seu objeto. A organizao autopoitica est lanada no devir,
ou como preferem esses bilogos, ela no pode ser pensada fora de uma 'deriva natu-
ral'. Natural porque devir vivo, e vivo porque em constante constituir-se. evidente
que em tal quadro terico, tomar a vida na sua deriva implica a 'flutuao', na expres-
so dos autores, da identidade do vivo. Isto , h uma instabilidade inerente vida. E
no exatamente essa a questo que atualmente aproxima as diferentes tentativas de
superao do paradigma clssico (laplaciano) da cincia? Tanto os estudos contempo-
rneos da biologia como aqueles da fsica, da qumica e da matemtica confrontam-se
com uma indeterminao de direito dos sistemas investigados, indeterminao que
no poderia ser explicada por uma insuficincia ainda inevitvel da calculatoria cien-
tfica. Essa abertura ou horizonte temporal no caracterstica exclusiva do esprito,
do vivo ou da matria inorgnica. E de um real que guarda intimamente essa dimenso
temporal, a cincia deve falar sem o ideal de mxima determinao e previsibilidade.
Trata-se, portanto, de um novo programa cientfico que no esconde a sua inspirao
bergsoniana (Prigogine e Stengers, 1986 e 1988). Porque o real surpreende. E as fun-
es cientficas elas tambm se tornam afeitas a essa instabilidade, apresentando-se
como autopoiticas, caticas, dissipativas, fractais. Elas se compatibilizam com o as-
pecto temporal da realidade, o que implica um compromisso tico da cincia, j que
falar desse real de alguma forma participar do processo de sua constituio. No caso
especfico de uma cincia da subjetividade, claro o compromisso tico. Mais do que
tudo, trata-se aqui dessa atividade reflexiva do pensamento, digo, sua reflexividade ou
circularidade autopoitica. E tendo como objeto o conhecimento em si, chego a isso
que se apresenta como criao, como inveno, como poisis a um s tempo de uma
nova ideia e de um novo territrio por onde o sujeito advm.
Alcanamos, ento, o que se prometia no incio desse trabalho: articular ou pelo
menos apontar para uma possvel articulao entre as ideias de cincia, subjetividade
e tempo. Novas funes cientficas parecem diminuir o fosso que separava os dom-
nios da cincia e da filosofia. Revela-se um momento filosofante da cincia contempo-
rnea que exige dela operadores que compatibilizem o seu trabalho com a dimenso
temporal da realidade de seu objeto. Dessa forma, torna-se possvel pensar um esque-
ma terico que a um s tempo d conta tanto do sentido e da inteligibilidade do objeto
de estudo quanto da singularidade dos sistemas como esse objeto se apresenta em seu
curso temporal. E se a cincia, tal como ela se realiza nos laboratrios da fsica e da
76
biologia, se lana nessa empresa, podemos localizar a uma preocupao que torna
esse novo programa cientfico mais compatvel com os interesses de quem investiga
o tema da subjetividade. Uma cincia da subjetividade mantm-se como uma ideia
ainda imprecisa, mas que ganha fora nessas confluencias tericas que agora veri-
ficamos.
Notas
1. Em outros trabalhos buscamos discutir mais detalhadamente a emergncia do projeto de uma
cincia da subjetividade, destacando os impasses enfrentados por diferentes abordagens que
oscilaram, desde o sculo XIX, entre os paradigmas espacial e temporal de anlise. Cf. Pas-
sos, 1992 e 1993.
2. Para uma apresentao dos problemas gerais enfrentados pelo cognitivismo computacional
cf. Pylyshyn, 1975; Gardner, 1987; Varela, 1988, 1989; Le Moigne, 1986; Andler, 1992;
Passos, 1992.
3. Nesse sentido, interessante lermos essa preocupao j presente na origem do projeto
computacional. Cf. os conceitos de 'complicao', 'auto-reproduo' e 'princpio de dege-
nerao* em Von Neumann (1987).
4. Acerca da evoluo das ideias da teoria da autopoiese ver a 'Introduo' que Maturana
escreve para o livro Autopoiesis and cognition; the realization of the living. Cf. Maturana e
Varela, 1980.
5. Prefiro aqi traduzir o neologismo enaction por um outro neologismo em portugus, embora
tradues realizadas atualmente utilizem a expresso 'configurao' (cf. Varela, 1988). Como
diz Varela (1989), o neologismo enaction tem o mrito de aproximar as ideias de action e
actor, criando um campo semntico que tambm pode ser indicado com a expresso 'fazer
emergir', tal como ela empregada pela tradio da fenomenologia
6. Acerca das noes de script e frame, cf. Schank e Abelson (1975) e Minsky (1975), respec-
tivamente.
7. Cf. as noes de 'processo causal circular' e de 'domnio de interaes auto-referentes' em
Maturana, 1980.
Referncias bibliogrficas
ANDLER, Daniel (org.) (1992). Introduction aux sciences cognitives. Paris, Gallimard.
FODOR, Jerry (1981). Representations; philosophical essays on the foundations of cognitive
science. Cambridge, MIT Press-Bradford, 1983.
(1975). El lenguaje del pensamiento. Madrid, Alianza.
(1983). Modularity of mind. Cambridge and London, MIT Press-Bradford, 1989.
77
LE MOIGN, Jean-Louis (1986). Gense de quelques nouvelles sciences: de l'intelligence artifi-
cielle aux sciences de la cognition. In: (org.). Intelligence des mcanismes, mcanismes de
l'intelligence. Paris, Fayard.
LYOTARD, Jean-Franois (1990). O inumano; consideraes sobre o tempo. Lisboa, Estampa.
MATURANA, Humberto (1970). Biology of cognition. In: . Autopoiesis and cognition; the
realization of the living. Dordrecht, D. Reidel, 1980.
e VARELA, Francisco (1973). Autopoiesis. The organization of the living. In: . Autopoiesis
and cognition. The realization of the living. Dordrecht, D. Reidel, 1980.
(1986). El arbol del conocimiento; las bases biolgicas del conocimiento humano. Ma-
drid, Debate, 1990.
MINSKY, Marvin (1975). Frame-system theory. In: R. C. Schank e B. L. Nash-Webber (org.)
Theoretical issues in natural language processing; reprints of a conference at MIT. p. 355-
376.
PASSOS, Eduardo (1992). O sujeito cognoscente entre o tempo e o espao. Rio de janeiro,
UFRJ, 1992. (Tese de doutorado.)
(1993). O sujeito entre o tempo e o espao. Arquivos Brasileiros de Psicologia, n. 1/2, p.
109-23, 1993.
PRIGOGINE, Ilya e STENGERS, Isabelle (1979). La nouvelle alliance. Paris, Gallimard, 1986.
(1988). Entre le temps et l'ternit. Paris, Fayard.
PYLYSHYN, Zenon W. (1975). Ideas tericas; algoritmos y ciberntica. In: (org.) Perspec-
tivas de la revolucin de los computadores. Madrid, Alianza, 1975.
(1984). Computacin and cognition; toward a foundation for cognitive science.
Massachusetts Cambridge London, MIT Press, 1986.
SCHANK, Roger C. e ABELSON, Robert P. (1975). Scripts, plans, and knowledge. In: Fourth
International Joint Conference on artificial Intelligence. Proceedings af the Fourth
International Joint Conference on artificial Intelligence.Toi\isi, p. 421-32.
VARELA, Francisco ( 1988). Abordagens cincia e tecnologia da cognio. Cincia e Cultura,
40(5): 460-70.
( 1988). Connatre; les sciences cognitives, tendences et perspectives. Paris, Seuil, 1989.
; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor (1992). L'inscription corporelle de l'esprit: sciences
cognitives et exprience humaine. Paris, Seuil, 1993.
VON NEUMANN, John (1970). Teoria geral y lgica de los autmatas. In: PYLYSHYN, Zenon
W. (org.) Perspectivas de la revolucin de los computadores. Madrid, Alianza, 1987.
78
T E X T O S
LINGUAGEM, REPRESENTAO E ALTERIDADE
Luiz Augusto de Paula Souza*
A linguagem enquanto representao, isto , 'representao' do mundo (objeti-
vo/subjetivo) sob a forma de signos reconhecveis, constitudos culturalmente como
repertrio comum pelos quais usualmente 'lemos' as experincias vividas, tem senti-
do utilitrio e realiza-se como meio convencional de comunicao.
Por essa via, a linguagem concebida como uma operao de equivalncia entre
a representao e aquilo que ela representa, tornando-as intercambiveis. O que a est
suposto uma certa capacidade humana de apreender o mundo pela razo, entendida
como instncia doadora de sentido que sobredetermina a experincia humana. Naffah
Neto, referindo-se herana platnica e aristotlica, nos fala sobre a tradio racionalista
e sua forte influncia na cultura ocidental. Diz ele:
Assim o mundo emprico, mutante e imperfeito, era hierarquizado
segundo graus de verossimilhana com as formas ideais, posta
como primitivas, conseguindo-se, desta forma, um princpio
racional transcendente capaz de disciplinar a realidade e es-
conjurar a multiplicidade, o acaso, o devir. O mundo trgico
dava lugar a um outro domesticado pela razo (1992; p. 16).
Nesta perspectiva, a linguagem representativa, tanto em nvel de senso comum
(utilitrio), quanto conceituai e cientfico (nvel convencional e arbitrrio), funciona
como um domnio de operaes de ordenao e classificao que busca delimitar sen-
tido e organicidade para a vida como instrumento de operacionalizao da racionalidade.
Sem dvida, tal uso da linguagem contribui decisivamente para uma certa esta-
bilidade (sempre provisria) das formaes histricas em seus sistemas de regulao
normativos e axiognicos, expressos pelo conjunto de enunciados (arquivos de saber
1
)
disponveis poca.
Na verdade, no parece constituir um problema reconhecer a necessidade e a
utilidade deste uso da linguagem entre ns. Problema h em se supor que ele possa, de
fato, captar e traduzir o real em sua durao e extenso, que possa ser sua cpia ou,
melhor ainda, sua duplicata e, na mesma direo, que o racionalismo possa, de fato,
esgotar o real.
Doutorando no Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clinica da PUC-SP. Professor da
Faculdade de Fonoaudiologia da PUC-SP e da Unicastelo.
79
sobre isto que quero falar aqui, partindo da evidncia, que pretendo ilustrar
adiante, de que a representao no , por si s, a linguagem; ao contrrio, ela apenas
um de seus vetores de efetuao e, talvez, nem o mais fundamental.
Tomando o mundo como um jogo de tempo, lugar e existncia (visvel e invis-
vel
2
), isto , como um campo mutante e polivalente, que condensa a memria do pas-
sado no presente e, por esse carter mvel e flexvel, permite o engendramento do
devir
3
, podemos supor que ele contm a linguagem tanto no plano da realidade quanto
no campo virtual que a fende e transforma.
Deste modo, a inscrio da linguagem nos fluxos de produo do real e de manu-
teno da realidade
4
confere-lhe um estatuto, alm de representacional, comunicativo
e expressivo, de componente na criao do real, na produo de sentido, isto , de
dispositivo disparador de acontecimentos.
Para explicar melhor o que quero dizer, trabalharei com dois textos que situam a
linguagem para alm da representao: o de Figueiredo (1993) e o de Naffah Neto
(1992). importante ressaltar neste ponto que, ao tomar dois autores que pensam a
linguagem fora da representao, para discutir a pertinncia das proposies que ex-
ponho, no estou equivalendo suas posies, nem negligenciando possveis diferen-
as. Ao contrrio, penso que possveis diferenas e/ou convergncias possam corrobo-
rar a ideia de que a linguagem ultrapassa o estatuto representativo desde que se saia da
perspectiva racionalista.
No primeiro caso, antes de tratar a linguagem (que pensada ali no mbito da
fala), preciso, pelo menos, entender as noes de acontecimento e temporalidade
usadas pelo autor, isto porque elas vo sustentar sua reflexo sobre a fala no campo
analtico.
Segundo Figueiredo (1993; pp. 1-2),
... um acontecimento , de incio, uma ruptura na trama das re-
presentaes, das rotinas, em outras palavras, de inicio o acon-
tecimento uma quebra dos dispositivos de construo e manu-
teno do tecido da realidade, mas um acontecimento tambm
a transio para um novo sistema representacional.
Mais adiante, v-se que, sendo uma "fenda que se introduz no possvel (mundo
da realidade)", o acontecimento destri mundos existentes e/ou funda mundos novos,
mas no ocorre em um mundo, isto , ele no componente de uma realidade j dada,
ao contrrio,
... refere-se passibilidade ao inesperado, ao surpreendente, ao
im-possivel, ao inacreditvel; enquanto inantecipvel o aconte-
cimento a figura paradigmtica da alteridade sendo que esta
tem seu lugar institudo pela perda e como perda: trata-se aqui
80
da perda de uma ilusria totalidade. Nesta medida, o aconte-
cimento pode ser encarado como o que essencialmente d
testemunho da abertura, conservando aberta e, assim, incom-
pleta a presena, propiciando, portanto, outros acontecimentos
(ibid.; p. 2).
Em relao ao tempo, Figueiredo indica uma contraposio entre o tempo como
evoluo ou desenvolvimento ao "tempo acontecimental". Nesta medida, o aconteci-
mento cindiria o tempo sequencial da evoluo em um antes e um depois, mas teria um
tempo prprio, intrnseco (acontecimental), isto , "... o trnsito da irrupo de um
inominvel ao a posteriori do sentido (...). O trnsito deixa a presena em suspenso,
pendurada em um houve que ainda no " (ibid.; p. 3).
A temporalidade do acontecimento remete, ento, a duas situaes distintas, uma
de ruptura da realidade e, portanto, de quebra de sentido e uma outra que, na sequn-
cia, "re-constitui passado e descortina um novo futuro".
As noes de acontecimento e temporalidade, definidas por Figueiredo (1993),
j permitem entrever a perspectiva da fala, para alm da representao, com a qual o
autor trabalha. Se o acontecimento uma quebra de sentido e um novo engendramento
de algo, ele pede lngua, isto , ele demanda traduo, mas no com uma representa-
o emprestada do repertrio j delimitado da realidade, ou seja, no com uma inter-
pretao ou elaborao representativa que no se origine do acontecimento e sim de
um sentido preexistente colado a ele enquanto defesa ao inesperado, sob o risco de no
designar o indito de sentido de que o acontecimento portador.
Ao contrrio disso, Figueiredo (1993) aponta a distino entre a fala "considera-
da como dispositivo representacional e a fala tomada como fala acontecimental". Esta
ltima a fala que, colocando o falante escuta do enigma
5
(dojgal que pede tradu-
o), o nomeia compondo um campo de visibilidade sobre q fenmeno, mas, ao mes-
mo tempo, aparece como estranha, como diferena inesperada em relao ao campo
de sentidos de que j dispunha.
desta palavra indisponvel e por isso liberta das tarefas de
representao, comunicao e expresso que se pode fazer uma
experincia. A rigor, diante desta palavra outra s o lugar do
ouvinte est desocupado, pois o do falante ocupado pela fala
ela mesma, (ibid.; p. 7)
Desta forma, h uma fala que vai fazendo com que o acontecimento acontea
6
e
o abrindo para simbolizao e representao. Alm disso,
... h outras falas que trabalham o que ficou disponvel para o
necessrio processamento e digesto: esta ser a tarefa, tambm
indispensvel, das falas representacionais e elaborativas. Enquan-
to a fala que faz acontecer efetiyamente faz histria, as outras.
81
m>mam- ^rKra^
m a i < !
" "
m
"<ftg Elg^flyjiii.
(ibid.; pp. 7-8).
No segundo caso, texto de Naffah Neto (1992), o autor dedica a primeira parte
do livro discusso da relao entre inconsciente e linguagem.
Em linhas mais que gerais, para que se acompanhe suas reflexes sobre lingua-
gem, o autor, apoiado em Merleau-Ponty, concebe a existncia de dois inconscientes,
um primeiro "do recalque", secundrio e correlativo ao "sistema percepo-conscin-
cia", e um outro, '^primordial" que ser
^ ... a experincia do devir, como um sim, um deixar-se inicial,
r
; antes que a linguagem ordinria e a conscincia abstraiam e fi-
X xem os fluxos em representaes e as recalquem, formando um
sistema secundrio. Ser, aps isso, a indiviso do sentir que
2 subsiste, num dominio marginal s representaes da conscincia
0 Este inconsciente no designa nada de oculto; alis, no con-
(
vm confundir o invisvel com o oculto, j disse Suely Rolnik.
~* Ele designa um universo indizvel e invisvel, marginal cons-
- cincia e com o qual preciso entrar em ressonncia. Invisvel e
^indizvel, porque fluxo, devir, sem forma ou representao
\ definida, campo de foras mveis e vibrteis (Naffah Neto, 1992;
j pp. 33-34).
Ora, justamente esse inconsciente primordial que se liga linguagem para alm
de seu carter ordinrio, isto , representativo, comunicativo e de expresso. deste
campo virtual de foras que, segundo o autor, pode brotar uma nova condio de
linguagem, criativa, que faz contato com o raro, o sutil, o inusitado.
Porm, necessrio que no se pense essa linguagem como transcendente, ou
seja, como uma habilidade inata ou inspirao divina; ela sempre relativa a sua poca
e cultura, aos tipos de cdigos constitutivos da conscincia, mas, como o que est alm
ou aqum do que ordinariamente constitui a conscincia, buscando brechas e vazios
por onde possa emergir, transmutando o plano da conscincia e encontrando outras
formas de expresso e sentido.
Naffah Neto (1992; pp. 44-45) aponta para o fato de que a arte (literatura, pintu-
ra, msica - especialmente
7
- etc.) um campo particularmente potente para a expres-
so inconsciente, mas que esta no lhe exclusiva:
Mas no s na criao artstica que o inconsciente busca forma
e sentido; as suas foras que ordinariamente no encontram ex-
presso possvel em nossa conscincia esto continuamente cri-
ando vazios e brechas na nossa percepo e no nosso discurso
por onde possam irromper. E, assim, de quando em quando,
cv
v *
82
possvel captar o seu murmrio ou seu relampejo, mesmo quan-
do elas ainda no dispem de formas pelas quais possam se tor-
nar fala ou emergir como visibilidade.
Naffah Neto alerta ainda para um outro risco; se pensamos linguagem como
capaz de exprimir o inconsciente primordial, podemos imaginar que a linguagem seja
sua condio, como queria Lacan. O autor mostra que no se trata disso e que, tampouco,
o inconsciente seja formado por significantes. Para ele o que a linguagem traduz
apenas
... a conjuntura singular de foras naquele momento determina-
do ou parte dela que pode, de alguma forma, encontrar forma
expressiva; no instante seguinte, a constelao j ser outra, e
outra e assim indefinidamente. (...) A linguagem no condio
do inconsciente, mas condio de que o inconsciente possa en-
contrar representao na conscincia. Precisamente isso (ibid.;
pp. 46-47).
Pois bem, esses dois modos de rastrear outros planos de linguagem que ultrapas-
sam sua condio de cdigo normativo e utilitrio, apresentados aqui muito rapida-
mente, pem a linguagem, seja sob o ngulo da arte, da cincia (e a da clnica) ou da
vida cotidiana, fora do campo visvel de suas representaes, ainda que com ele esteja
visceralmente enlaada, em uma relao recproca: atravessando e sendo atravessada
por seus elementos.
esta linguagem que, ajudando a rachar a mera repetio de sentidos, pode in-
ventar corpo e criar territrios d~elcpTlsl^plira os estados inditos que decor-
rem do impacto de experincias intensas (quer sejam alegres ou tristes, prazerosas ou
no, etc.).
Uma linguagem que sempre outra, pois se insere na produo de devir, isto ,
de novos vetores de subjetivao e de posicionamento ontolgico, ao mesmo tempo
tico, esttico e politico.
Tomo a dimenso tico/esttica/poltica no mesmo sentido em que Rolnik (1993;
p. 245) enunciou, ou seja, por tico estou entendendo o modo como nos colocamos
escuta das diferenas que esta linguagem vai encarnando, na afirmao do devir a
partir dessas diferenas; por esttico a criao de um campo novo e no um domnio j
dado, criao essa que "encarna as marcas no corpo do pensamento, como numa obra
de arte", e por poltico estou entendendo o embate que a se estabelece contra as foras
do j institudo que tentam bloquear as "nascentes de devir".
Trata-se, portanto, de uma linguagem da alteridade, ou melhor, de uma lingua-
gem a seu servio. Explico. Pensando a alterdade^omo decorrncia da existncia do
outro, no s humano, e como capacidade de afetar e de ser afetado por esse outro, "o
83
que tem por efeito perturbar a ordem vigente de tais corpos, provocando-lhes mudan-
as irreversveis. (...)" (Rolnik, 1992; pp. 2-3), a linguagem enquantjLCjiaJio estaria,
nesta medida, a servio das marcas_produzidas nesse encontro para lhes dar lngua.
^is^o^^TfeTirnTcnsequncia importante, isto , a linguagem, mesmo quan-
do enunciada (falada, escrita, pintada, etc.) por uma pessoa, sempre coletiva, porque
produto de um encontro com o inelutavelmente outro (condio da alteridade). Deleuze
e Guattari (1977), falando sobre literatura, diziam que: "A enunciao literria mais
individual um caso particular de enunciao coletiva".
No entanto, apreender este carter coletivo da enunciao no tarefa fcil, isto
porque estamos habituados, muitas vezes em nome de uma pretensa cientifcidade, a
subordinar o enunciado a um significante e a enunciao a um sujeito, permanecendo
no plano das constantes lingsticas
8
, sem nos darmos conta de outras dimenses da
linguagem (entre elas, algumas indicadas aqui).
- ' De qualquer forma, preciso abrir caminho para que essa linguagem que brota
do "acontecimento", do "inconsciente primordial", do "encontro", etc., ganhe terreno
e possa ressoar entre ns, designando, mesmo que provisoriamente, o que Naffah Neto
/(H992; p. 72) chamou de: "Margem, excesso, diferena, transmutao (...); esse inces-
sante, incansvel devir".
Notas
1. Este conceito foi cunhado por Michel Foucault para designar o saber disponvel e manipulvel
numa poca (extrato histrico), sendo composto por um campo de visibilidade e de dizibilidade,
isto , pelas formas de ver e as maneiras de diz-las - conjunto de enunciados - , possveis no
perodo. Sobre isso, cf. Deleuze (1987).
2. A noo de existncia como visvel e invisvel significa que a realidade no nos dada
apenas pela materialidade de fatos, expresses, representaes... Mas que tambm est
delineada por dimenses imateriais, no menos reais, de percepo, sensao e foras vitais
que perpassam e compem o que emerge no campo do visvel histrico. So planos incorporais
que implicam modos de subjetivao produzidos em cada poca
3. A ideia de memria condensada no presente est baseada em Henri Bergson (1989; p. 196),
Para ele "... quanto maior a poro de passado que adere a seu presente, tanto mais pesada
ser a massa que ele joga no futuro para comprimir as eventualidades que se preparam: sua
ao, semelhante a uma flecha, dispara com tanto mais fora para a frente quanto mais sua
representao estava vergada para trs."
A noo de devir, no se restringindo ideia de futuro - pois ai estaria contemplada a manu-
teno e reproduo do mesmo dentro de uma lgica estrita de causa e efeito - indica um
campo virtual, aberto ao acaso e ao eventual, que se faz das diferenas que encarna; so
bifurcaes e novos vetores de existncia, que, lidando com as demandas presentes, alteram
a realidade e inventam novas formas de subjetividade. Sobre isso, cf. Guattari (1992).
84
Relacionei os conceitos acima, na medida em que me parecem convergentes as dimenses
temporais e de devir assumidas por esses autores: ambos recusam uma concepo racionalista
do tempo e indicam, a meu ver, uma simultaneidade temporal e uma dimenso mltipla e
heterognea no engendramento do devir.
4. Separo a noo de 'real' da de 'realidade' para distinguir o virtual (real) do possvel e previ-
svel (realidade), na perspectiva traada por Figueiredo (1993; p. 3). Vale dizer que estes
termos sero empregados aqui com este sentido.
5. Para Figueiredo (1993; p. 3), "... o real se d como enigma implicando simultaneamente
excesso de sentido e vazio de sentido; como enigma, o real demanda traduo; no entanto,
esta traduo original que d ser ao enigma, que o realiza; ou seja, no h j algo a ser
traduzido, embora haja uma demanda de traduo".
6. Figueiredo (1993; p. 5) mostra que o acontecimento pode tambm no acabar de acontecer e,
a partir do campo analtico, afirma que "... o trauma um acontecimento incluso, ou seja, um
acontecimento que no se consuma, que no transita, cuja temporalidade intrnseca est com-
prometida; nesta medida a noo de experincia no aqui a mais adequada, j que este tipo
de acontecimento se caracteriza por no acabar de acontecer e por no chegar a constituir
histria, por isso, ele se eterniza e bloqueia a possibilidade de novos acontecimentos. Assim,
o comprometimento da temporalidade intrnseca do acontecimento compromete radicalmen-
te a temporalidade histrica da existncia". O autor apontar adiante as razes da incluso
traumtica do acontecimento e as formas de enfrent-las em sua perspectiva analtica, porm
estes so aspectos que no tratarei mais detidamente aqui.
7. A msica seria particularmente potente enquanto "linguagem criativa", no quando repete
sistemas meldicos preestabelecidos - e isto vale para outras formas de expresso esttica -
mas, e fundamentalmente, porque trabalha com a linguagem dos afetos, ou seja, no estando
presa aos signos de reconhecimento (representaes) capta as intensidades e foras inconsci-
entes pelo registro de seus ritmos, tons, andamentos, melodia, etc. Estados de esprito que
ganham forma fora da representao consciente; ondulam-se em si mesmos, enquanto fluxos
de energias vitais transformados em sons complexamente compostos.
8. Estas ideias foram colhidas em Rocha (1993) e referem-se s concepes de Deleuze e Guattari
sobre agenciamentos coletivos de enunciao.
Referncias bibliogrficas
BERGSON, Henry (1989). A conscincia e a vida. So Paulo, Nova Cultural. (Col. Os Pen-
sadores).
DELEUZE, Gilles (1987). Foucaul. Lisboa, Vega.
e GUATTARI, Felix (1977). Kafka por uma literatura menor. Rio de Janeiro, Imago.
FIGUEIREDO, Lus Cludio M. (1993). Fala e acontecimento em anlise. Percurso, (11): 45-50,
So Paulo.
85
GUATTARI, Felix (1992). Caosmose. Rio de Janeiro, Editora 34.
NAFFAH NETO, Alfredo (1992). O inconsciente como potncia subversiva. So Paulo, Escuta.
ROCHA, Dcio O. S. (1993). O que (no) se v atrs da porta. Cadernos de Subjetividade, So
Paulo, 1 (2): 163-169.
ROLNIK, Suely (1992). Cidadania e alteridade. So Paulo, 30.5.1992.Trabalho apresentado no
IV Encontro Regional de Psicologia Social da ABRAPSO.
(1993). Pensamento, corpo e devir. Uma perspectiva tico/esttico/poltica no trabalho aca-
dmico, Cadernos de Subjetividade, 1 (2): 241-251, So Paulo.
86
O DI SCURSO DO EU NA(S) FALA(S) DO SUJ EI TO
Rosana Paulillo*
... talvez o linguista gostasse de limitar o
inconsciente nos lapsos... e se ocupar do resto.
J. Authier-revuz
Este trabalho o resultado do encontro de algumas linhas de preocupao que
venho perseguindo e tentando cercar, h mais ou h menos tempo, e, a partir de um
determinado momento, pareceu-me que, mais do que pontos de contato ou de seme-
lhana, poderia haver entre elas uma solidariedade anterior, produtora de determina-
es recprocas.
Em primeiro lugar, e esta a questo mais antiga, o problema do sujeito no
discurso. A questo que me instigava era a dvida de que o campo do sujeito na lin-
guagem fosse satisfatoriamente tratado, quer pelas teorias da enunciao, com sua
concepo de sujeito como locus de uma intencionalidade que se manifesta nos qua-
dros da interao, quer pelas formulaes, j clssicas em anlise de discurso (A.D.)
da forma-sujeito como produto das formaes ideolgicas. Em outras palavras, eu
desconfiava que havia mais sujeito alm do escopo dessas conceituaes; ou antes,
que o campo do sujeito no se resumia na intencionalidade consciente ou pr-consci-
ente do ego da enunciao, assim como no se esgotava no efeito-sujeito da A.D.,
produto imaginrio da iluso produzida pelo 'esquecimento n
Q
2'. Segundo tal con-
cepo, o sujeito produto de uma formao ideolgica, que o determina enquanto
uma forma-sujeito, inscrevendo-o, assim, em certas posies de discurso (formaes
discursivas). Mas a circunscrio do campo dos sentidos e das formulaes possveis
no interior de uma formao discursiva no se realiza seno pelo movimento de con-
traste/confronto com outras formaes discursivas, sob o pano de fundo do
inter discurso, espcie de zona bablica marcada pela polissemia e pelaparfrase, em
que coabitam todos os sentidos e todas as formulaes possveis. Produzem-se, ento,
dois 'esquecimentos': o primeiro, apaga a exterioridade dos sentidos; o segundo, apa-
ga a exterioridade dos modos de dizer. Emerge, ento, o ego efeito-sujeito, que imagi-
nariamente se cr fonte e origem: de seus sentidos; de seu discurso. (Considero aqui,
em especial, as formulaes retificadas de Pcheux, 1975, sobre os dois esquecimen-
tos, presente emSemntica e discurso.)
Professora do Departamento de Lingustica da PUC-SP. Doutoranda no IEL-Unicamp.
87
fato que as formulaes da A.D. avanam em relao s das teorias da
enunciao, na medida em que da exterioridade do interdiscurso (em relao ao ego
efeito-sujeito) que se constitui o intradiscurso do sujeito-falante (ibid.; p.167). No en-
tanto, a tica que tais formulaes pem em jogo deixam, a meu ver, escapar alguma
coisa, que se vislumbra num hiato intransponvel entre a ilusria homogeneidade do
euea exterioridade do interdiscurso que o determina. De um lado a
... impresso de realidade de seu pensamento para o sujeito fa-
lante ("eu sei o que estou dizendo", "eu sei do que estou falan-
do"), impresso deflagrada pela abertura constitutiva da qual
esse sujeito se utiliza constantemente atravs do retorno sobre si
do fio de seu discurso, da antecipao de seu efeito e da consi-
derao da discrepncia introduzida nesse discurso pelo discurso
de um outro (como prprio outro) para explicitar e se explicitar
a si mesmo o que ele diz e "aprofundar o que ele pensa", (ibid.;
p. 167)
De outro lado, o fato de que ... o intradiscurso, enquanto "fio do discurso" do
sujeito, , a rigor, um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma interioridade intei-
ramente determinada como tal do exterior (ibid.; p. 167).
Assim, por meio de processos discursivos exteriores a si mesmo que o discurso
do sujeito estrutura, simbolicamente, a consistncia imaginria do ego e a impresso
de coincidncia de ego consigo mesmo.
No entanto, a iluso produzida pelo 'esquecimento n 2', constitutiva do efeito-
sujeito, no me parece funcionar de modo to espesso e impermevel, pois o sujeito,
enquanto ego, frequentemente se confronta com o despedaamento das estruturas de
linguagem (o corpo verbal de Pcheux) que sustentam a espessura do eu e a espessura
dos referentes. quando a discursividade parece se descolar da referncia, e ali, onde
o mundo vacila, o prprio eu vacila nas suas auto-representaes constitutivas da
identidade imaginria.
Desse ponto de vista, portanto, deveria haver na discursividade 'sintomas' que
apontariam para o carter imaginrio dessa 'impresso de realidade' produzida pelo
'esquecimento n 2', enquanto configuraes que marcam, no discurso e no sujeito,
pontos de ruptura no campo das representaes imaginrias.
A teoria da heterogeneidade, via aberta pelos trabalhos de Jacqueline Authier,
parece-me representar um quadro terico satisfatrio e apropriado para a abordagem
desses problemas. Tomando como fontes iniciais, simultaneamente, a teoria do sujeito
de Lacan e a teoria do dialogismo de Bakhtin, Authier pe em jogo um conceito de
sujeito marcado pela heterogeneidade constitutiva: "Contrariamente imagem de um
sujeito 'pleno', que seria a causa primeira e autnoma de uma fala homognea, sua
posio antes aquela de uma fala heterognea que o fato de um sujeito dividido"
(Authier-Revuz, 1982; p. 124).
88
Se, para a psicanlise, o sujeito no uno, no homogneo, porque a descober-
ta freudiana confrontou o sujeito com esse outro desconhecido, distinto do eu consci-
ente, que o constitui. E se a linguagem a condio do inconsciente, como diz Lacan,
no possvel que a discursividade no contenha marcas desse descentramento do
sujeito.
No entanto, observa Jacqueline Authier (1984; p. 32), o que caracteriza a hete-
rogeneidade constitutiva o fato de que constitui uma "... heterogeneidade radical, em
exterioridade interna ao sujeito e ao discurso, como tal no localizvel e no
representvel no discurso que constitui, aquela do Outro do discurso - onde esto em
jogo o interdiscurso e o inconsciente..."
A par do conceito de heterogeneidade constitutiva (no coincidncia bsica do
sujeito na linguagem), condio mesma da constituio do sujeito, mas que deve ser
elidida para que o sujeito possa se constituir como tal, Authier trabalha especificamen-
te com aquilo que chama de formas da heterogeneidade representada, isto , coment-
rios metaenunciativos nos quais o sujeito representa e circunscreve, como pontos lo-
calizados, fenmenos de no-coincidncia que podem ser de quatro tipos:
1) no-coincidncia do discurso consigo mesmo - presena de palavras de outro
discurso no discurso do sujeito (p. ex., "X, como diz fulano");
2) no-coincidncia do sentido entre interlocutores (p. ex., "X, para voc, quer
dizer algo diferente'
1
);
3) no-coincidncia entre palavras e coisas - o dizer fracassa em nomear a coisa
(p. ex., "X, no bem esse o termo");
4) no-coincidncia das palavras entre si - o lapso, o tropeo, a homonmia.
As formas de heterogeneidade representada aparecem, ento, como sintomas da
heterogeneidade constitutiva, mas que, imaginariamente representados pelo sujeito
como fenmenos setoriais, localizados, sinalizam a presena do outro no discurso
"para o circunscrever e afirmar o Um"; assim, as formas de heterogeneidade
mostrada,
... por uma espcie de compromisso precrio que d lugar ao
heterogneo e, portanto, o reconhece, mas para melhor negar
sua onipresena, elas manifestam a realidade dessa onipresena
precisamente naqueles lugares em que tentam encobri-la (ibid.,
p. 33).
O lugar especfico das formas de heterogeneidade representada, segundo Authier,
o de uma retrica da falha escancarada, da costura aparente (ibid.; p. 34), em
contraponto s "... fissuras, junes que funcionam como costuras escondidas sob a
unidade aparente de um discurso..." (ibid.; p. 34).
No outro extremo estariam as formas no marcadas de heterogeneidade repre-
sentada - discurso indireto livre, ironia, metforas, jogos de palavras que
89
Sem ruptura, conduzem aos discursos que, bem mais prximos
da heterogeneidade constitutiva, renunciam a qualquer proteo
em relao a ela, e tentam o impossvel de "fazer falar" esta
heterogeneidade, no vertiginoso apagamento do enunciador atra-
vessado pelo "isso fala" do interdiscurso e do inconsciente...
(ibid.; p.34).
O ponto em que minhas preocupaes encontram o tema da heterogeneidade
constitutiva justamente no campo dessa espcie de tipologia que as consideraes de
Jacqueline Authier deixam entrever: de um lado, as formas marcadas de heterogeneidade
representada, denegao e sintoma da heterogeneidade constitutiva; de outro, as for-
mas no marcadas de heterogeneidade representada, uma forma oposta de negociao
com a heterogeneidade constitutiva, que implica maior risco, pois "...joga com a dilui-
o, com a dissoluo do outro no um, onde este, precisamente aqui, pode ser enfatica-
mente confirmado, mas tambm onde pode se perder" (ibid.; p. 34).
Penso que entre esses dois extremos - a demarcao do heterogneo com o exte-
rior ao eu da enunciao ou amis-en-scne, investida pelo falante, de uma espcie de
glossolalia - h um campo intermedirio que est longe de se constituir como o reino
da iluso do homogneo. Afinal, as 'costuras escondidas' no so to escondidas
assim.
As formulaes de Jacqueline Authier, aqui resumidas, levariam a pensar que
entre a denegao do heterogneo e o jogo com o heterogneo intermedeia o campo da
forcluso do heterogneo no discurso. Creio, no entanto, que esse campo intermedi-
rio no o da ausncia de sintomas da heterogeneidade constitutiva, mas, ao contrrio,
que h mais sintomas da heterogeneidade constitutiva que os fenmenos da
heterogeneidade representada. E que esses outros fenmenos onde a heterogeneidade
constitutiva se mostra^ no constituem exatamente marcas de uma forcluso, mas de
um acossamento constante da no-coincidncia que afeta o sujeito e seu discurso, no
coincidncia interna, retorno desse heterogneo recalcado.
Nesse sentido, a questo que se coloca diz respeito s formas de discurso que
permitem vislumbrar configuraes que apontam, de modo especialmente intenso,
para esses sintomas possveis da heterogeneidade constitutiva.
1. O discurso de enunciao da subjetividade
Do ponto de vista tipolgico, pode-se dizer que cada discurso um efeito de suas
condies de produo; e, nesse mesmo sentido, cada tipo de discurso produz seu
efeito-sujeito de discurso. Assim, por exemplo, o discurso poltico ou o cientfico
produzem o sujeito da certeza, do saber e do saber-fazer. Ora, aquilo que podemos
chamar de formas pblicas de discurso, isto , aquelas que inscrevem o sujeito em
90
formas pblicas de interao, na circulao de papis pblicos, no por acaso se carac-
terizam, tpicamente, por determinados funcionamentos, isto , configuraes de lin-
guagem, cujo efeito de sentido se interliga aos processos imaginrios centrados na
homogeneidade e na coincidncia da relao sujeito, sentido, dizer.
Algo bem diferente ocorre naquilo que chamo de 'discurso de enunciao da
subjetividade'. Este se inscreve no espao das formas privadas de interao e sustenta
o sujeito menos na relao de interao com outros sujeitos, mas, fundamentalmente,
num processo auto-reflexivo. Trata-se da fala que se produz nas conversaes ntimas,
de carter confidencial, ou na fala em situaes teraputicas. Mas no uma modali-
dade exclusivamente oral: manifesta-se tambm nos escritos ntimos, dirios, e em
diferentes produes escritas de carter auto-reflexivo. Sua tpica fundamentalmen-
te constituda de relatos de experincias, lembranas e de enunciaes de estados sub-
jetivos, pensamentos e sentimentos experimentados no passado ou no momento pre-
sente em que se enunciam.
Creio que o discurso de enunciao da subjetividade (D.E.S.) constitui um tipo
(no sentido de Orlandi, 1983; p. 141), irredutvel aos demais, que se estrutura a partir
de certos funcionamentos especficos: auto-reflexivo, tateante, constitudo de frag-
mentos de memria e de estados psquicos, que, fugazes, parecem representaes p-
lidas, que escapam; desejo de autoconhecimento que se manifesta como desconheci-
mento; vacilaes, truncamentos, giros, retornos ao mesmo ponto; estrutura frouxa,
desconectada, mal articulada. No D.E.S. o sujeito tenta delinear um referente que cons-
tantemente lhe escapa. No busca, em relao a um possvel interlocutor, convencer,
persuadir, disputar ou jogar: fala menos ao outro que ao Outro, enquanto ele-mesmo.
Parece-me que no domnio especfico do D.E.S. pode-se detectar alguns proces-
sos ligados natureza do sujeito, processos esses que, em geral, no emergem nas
formas pblicas de discurso ou, pelo menos, no na extenso e na intensidade com que
emergem no D.E.S. E que, a meu ver, podem mostrar como, ali mesmo onde o efeito-
sujeito se estrutura simbolicamente, no fio do discurso, ele tambm se desvenda en-
quanto lugar vazio e despedaamento, tecido esgarado e frouxo, fio de voz que ali-
nhava pedaos desconectados.
Nesse sentido, o D.E.S. um campo especialmente propcio ao trabalho com as
formas enunciativas e discursivas que so da ordem da categoria da heterogeneidade
constitutiva, tal como esse conceito est posto nos trabalhos de Jacqueline Authier-
Revuz.
2. O D.E.S. como discurso do eu
O aspecto que mais imediatamente ressalta no D.E.S. consiste na onipresena do
eu. O D.E.S. o discurso do 'eu' por excelncia. No se trata, aqui, do eu enquanto
91
sujeito da enunciao, o que, do ponto de vista fenomenolgico de Benveniste, a
condio de possibilidade de qualquer discurso
2
, mas do fato de que, no D.E.S., o eu
no somente o sujeito, mas tambm o prprio objeto do discurso.
Nesse sentido, o D.E.S. um campo especialmente propicio para se investigar
at que ponto faz sentido a suposta espessura do ego, seja enquanto sujeito de seu
discurso, nas teorias da enunciao, seja enquanto efeito-sujeito imaginrio nas for-
mulaes clssicas da A.D.
No D.E.S., a enunciao se realiza de um lugar de subjetividade. O sujeito do
D.E.S. emerge constantemente como o eu que est s voltas com eu-mesmo, isto ,
com suas auto-representaes. Desse ponto de vista, o D.E.S. poderia aparecer como o
reino do ego imaginrio, espao de onde a alteridade e o heterogneo estariam, no
campo dessa configurao imaginria, decididamente excludos (recalcados ou
forcludos).
No entanto, o que se observa que sob a homogeneidade aparente do sujeito da
fala, que aqui sequer se v confrontado com a exterioridade externa dos referentes
pblicos, o que se mostra a heterogeneidade do sujeito na fala.
Mas o que o eu? Para Lacan (1954-1955; p. 224), o eu no o lugar da pleni-
tude, mas um ponto de tenso:
A conscincia no homem por essncia tenso polar entre um
ego alienado do sujeito e uma percepo que fundamentalmente
lhe escapa, um puro percepi. O sujeito seria estritamente idnti-
co a esta percepo, se no fosse esteego que o faz, se que se
pode dizer, emergir de sua prpria percepo numa relao
tensional.
Nesse sentido, diz ainda Lacan (ibid; p. 224) que o conjunto das relaes da
conscincia
... constitudo por uma certa relao a esta estrutura que cha-
mamos ego, em torno da qual centra-se a relao imaginria (...)
a partir desse ego que todos os objetos so olhados. Mas
justamente pelo sujeito, por um sujeito primitivamente desafi-
nado, fundamentalmente despedaado por este ego que todos os
objetos so desejados.
Assim, a dialtica da conscincia o que se constitui a partir da tenso entre o
sujeito e o ego. a partir desse ponto de vista que a teoria do sujeito em Lacan pe em
jogo a noo de uma exterioridade interna, pois sujeito e ego no constituem compar-
timentos distintos de um mesmo ser, nem inconsciente e conscincia, desdobramentos
de um ser uno primitivo.
Para Lacan, o inconsciente no uma outra coisa, distinta, alheia ao sujeito da
conscincia, mas o que se manifesta - irrompe - a mesmo.
92
Se os significados do discurso remetem ao campo do eu, os significantes da fala
- sua materialidade enunciativa - remetem ao sujeito. Desse modo, o discurso, se o
espao no qual se representa a iluso da homogeneidade do ego, tambm o lugar no
qual se mostra (no sentido de mostrao)
3
a no-coincidncia entre o eu e o sujeito.
nesse sentido que penso que a discursividade que caracteriza o D.E.S., ao
mesmo tempo que configura a afirmao de persistncia do eu, a busca de coincidn-
cia do eu consigo mesmo, sinaliza a presena constante de um heterogneo irredutvel.
O discurso do inconsciente no um 'outro' discurso, que somente 'a virada do aves-
so' da hermenutica encontraria; o discurso manifesto o prprio material onde o
inconsciente se inscreve
4
.
3. Os referentes privados no D.E.S.
Afinal, de que trata o D.E.S.? Sua tpica se resume a fatos de natureza subjetiva:
as experincias vividas pelo sujeito e suas sensaes, sentimentos e pensamentos rela-
tivamente a essa mesma vivncia. Em suma, referentes privados, que, como tal, esca-
pariam disputa polmica e s formas pblicas de determinao denotativa, em ter-
mos de verdade ou falsidade.
Estranhamente, porm, parece ser a que aparece de forma mais candente a ques-
to da verdade e da certeza. Nas formas pblicas de discurso, a dvida do sujeito
aparece, frequentemente, escamoteada, ou, outras vezes, contrafeita na figurao de
uma persona retrica para finalmente encontrar, no decorrer do discurso, sua soluo
nas respostas comandadas pelo enunciador. O D.E.S., por outro lado, surge como uma
forma discursiva atravessada pela dvida, a ponto de sua prpria coeso estrutural se
ver constantemente ameaada de esfacelamento pelos mecanismos que reiteradamente
pem em causa a referncia.
Nesse sentido, a peculiaridade do D.E.S. em relao s formas pblicas de dis-
curso decorre menos de sua tpica, mas, principalmente, dos processos de linguagem
que o caracterizam. Se, pela natureza de sua tpica, o D.E.S. se inscreve no campo dos
referentes privados, que, enquanto tal, escapam s formas pblicas de determinao
do verdadeiro e do falso, , no entanto, aqui que a discursividade se escancara como
estranhamento, como no-certeza, no-saber, que a enunciao se esgara nas formas
vacilantes, que a nominao aparece sempre como imprpria, revogvel, marcada de
incompletude, mostrando, assim, os processos bsicos da heterogeneidade que atra-
vessa o sujeito e o discurso, ali mesmo onde, livre dos compromissos das trocas pbli-
cas e da 'negociao' com outros 'eus', o 'eu' poderia se instalar na sua fantasmtica
plenitude.
Parece ser justamente a, no entanto, no campo dos referentes privados, que o
sujeito se confronta mais fortemente com a sensao de que toda construo represen-
93
tativa, enquanto processo de determinao da referncia, tributria da mis-en-oeuvre
de um sistema de estabilizao lgica no interior do qual a enunciao do que emer-
ge sob a recusa fantasmtica de inmeros outros possveis (Pcheux, 1983, pp. 29-34).
nesse sentido que, no D.E.S., os enunciados que do contorno aos referentes priva-
dos mal se enunciam, sofrem a pontuao de outras enunciaes que, incidindo sobre
os primeiros, suspendem, retificam, recolocam em causa a referncia que acabara de
se delinear.
Esse enquadramento discursivo que no D.E.S. caracteriza a enunciao dos refe-
rentes privados parece mostrar, de maneira mais escancarada, aquela espcie de 'mal-
estar' do discurso que, segundo Pcheux (ibid.; p. 33), decorre do fato de que, no
limite, todo discurso "... suscetvel de colocar em jogo uma bipolarizao lgica das
proposies enunciveis - com, de vez em quando, o sentimento insidioso de uma
simplificao unvoca, mortal, para si mesmo e/ou para os outros".
Esse mecanismo explicita tambm um outro aspecto, especialmente relevante no
que diz respeito ao fenmeno da heterogeneidade constitutiva, na medida em que aponta
para a no-coincidncia do eu com suas prprias auto-representaes. Tal mecanismo
mostra como a aderncia do eu s suas construes auto-representativas, embora visa-
da, no consegue nunca se realizar plenamente.
Esse aspecto est em ressonncia com aquela caracterstica que Lacan (1955-
1956; p. 23) aponta como tpica do 'sujeito normal', em contraposio ao sujeito
psictico:
... no sujeito normal, falar-se com o seu eu no nunca ple-
namente explicitvel, sua relao com o eu fundamentalmente
ambgua, toda assuno do eu revogvel. No sujeito psictico,
ao contrrio, certos fenmenos elementares, e especialmente a
alucinao que a sua forma mais caracterstica, mostram-nos o
sujeito completamente identificado ao seu eu com o qual ele fa-
la, ou o eu totalmente assumido atravs do modo instrumental.
4. A estrutura enunciativa do D.E.S.:
lugares no coincidentes do eu na enunciao
A estrutura enunciativa do D.E.S. parece se organizar a partir de uma escanso
bsica, constituda de dois planos fundamentais de enunciao. De um lado, os enun-
ciados que expressam sua tpica, isto , os enunciados que expressam as experincias
vividas pelo sujeito - correspondentes a enunciados narrativos - e aqueles que expres-
sam sentimentos, pensamentos, desejos presentemente experimentados pelo sujeito -
a que chamamos de enunciados declarativos e que, diferentemente dos primeiros, ins-
crevem-se na dimenso de temporalidade da enunciao em curso
5
.
94
Tais enunciados encontram-se, no D.E.S., ligados a outros enunciados que fun-
cionam, em relao aos primeiros, como comentrios, de forma que toda a sequncia
discursiva aparece como uma rede na qual os enunciados declarativos e narrativos so
constantemente atravessados, no fio do discurso, pelos enunciados que os comentam.
A incidncia dos enunciados de comentrio, indiferentemente, sobre os enunciados
declarativos e narrativos, permite considerar esta oposio (comentrio * declarao/
narrao) como a mais saliente na configurao discursiva do D.E.S., ficando o con-
traste declarativo/narrativo, desse ponto de vista, em segundo plano.
Os enunciados declarativos e narrativos, alm de serem os responsveis pela
sustentao da tpica do discurso, caracterizam-se tambm por funcionarem como o
espao de sustentao das auto-representaes do eu. J os enunciados de comentrio
caracterizam-se, na sua ampla maioria, por se constiturem como uma marca de ava-
liao cognitiva: verdade, certeza, falsidade, ausncia de certeza, desconhecimento,
estranhamento, pontuao do carter tentativo da formulao:
"pois , ento a coisa j est clara para mim"
"e isso verdade"
"no, nada disso"
"e, de fato, isso mesmo"
"no sei explic-lo a mim mesmo"
"tambm no sei por qu"
"isso, afinal, eu s vi claramente"
" estranho"
" uma loucura"
" s que eu curiosamente"
"antes de mais nada"
"ou, pelo menos, eu acho"
"de certo modo"
"mas, no fundo"
"eu, na verdade"
Assim, pode-se dizer que tais enunciados se inscrevem naquela categoria que,
do ponto de vista da anlise semntica, se descrevem como enunciaes de estados
proposicionais (Vendler, 1970; pp. 85-90).
O que digno de nota, a meu ver, a presena determinante desse tipo de enun-
ciado no D.E.S., no sentido de que a organizao sinttica das sequncias discursivas
por ele comandada, de forma que os enunciados declarativos e narrativos aparecem
como sinttica e semanticamente dependentes dos enunciados de comentrio.
Os enunciados de comentrio, no D.E.S., apresentam algumas das caractersti-
cas que determinam, segundo Danon Boileau & Buscaren (1984), os enunciados
comentativos: a presena de uma modalizao epistmica; a anteposio (ao enuncia-
do comentado); o aspecto no-aorstico.
95
A anteposio, instituindo uma relao de tematizao, caracteriza o processo de
comentrio como o que "... mantm uma relao de dependncia em relao a um
outro processo do contexto em que ocorre (este ltimo [...] denominado 'antece-
dente')"(ibid.; p. 62). De fato, no material analisado, os processos de anteposio dos
enunciados de comentrio so predominantes
6
.
Quanto ao aspecto no-aorstico, "... suspende a compatibilidade com uma de-
notao temporal do tipo instante pontual (mesmo que o referencial de origem esteja
ligado a uma referncia temporal do tipo instante pontual"(ibid.; p. 62). desse ponto
de vista, me parece, que os enunciados de comentrio no poderiam ser identificados
como pertinentes ao mesmo plano de enunciao dos enunciados declarativos, na
medida em que estes so passveis de uma determinao temporal pontual:
"e agora eu me encontro nesta situao to besta"
"j no suporto mais a minha amiga"
"eu gostaria de descartar-me logo"
enquanto a avaliao cognitiva que o comentrio expressa (" uma loucura'7" curi-
oso"/'^verdade que"/ etc.) inscreve-se numa dimenso de temporalidade que trans-
cende a da referncia comentada.
Por outro lado, segundo Danon Boileau & Buscaren, a presena da modalidade
epistmica nos processos comentativos produz "... a suspenso da validade da relao
predicativa. E, ao mesmo tempo, produzem tambm a suspenso da referncia tempo-
ral antes instituda pelo processo"(ibid.; p. 62).
De fato, a presena de tais enunciados no D.E.S. produz, como efeito de sentido,
um constante processo de distanciamento do discurso em relao a seus prprios refe-
rentes, justamente a onde, tendo em vista o carter privado dos referentes, pareceria
estar dada a possibilidade da coincidncia do sujeito com suas representaes. Tal
efeito de sentido, produz, consequentemente, a prpria rarefao da referncia, fen-
meno esse que se verifica presente tambm em outra configurao tpica do D.E.S.,
relativa ao processo de desenvolvimento dos tpicos, que abordamos em outro tra-
balho.
A configurao enunciativa bsica que comanda o D.E.S. pode ser representada
pelo seguinte esquema:
C->P
em que 'P' corresponde aos enunciados declarativos e narrativos que expressam as
representaes do sujeito relativas a suas vivncias e estados psquicos, ou seja, suas
auto-representaes, e ' C corresponde aos enunciados de comentrio em que o sujei-
to aparece, ento, comentando, julgando, avaliando o dito de P, emergindo, portanto,
deum outro lugar de enunciao, a partir do qual o dito de P aparece em sua natureza
essencial derepresentao, escancarando-se, dessa forma, a descontinuidade entre
representao e referncia.
96
Esse movimento aponta para a funo dupla, complexa, e mesmo ambigua dos
enunciados de comentrio: ao mesmo tempo em que permitem ao sujeito situar-se
enunciativamente como instncia das representaes expressas em P, permitem-lhe
colocar-se, diante dessas mesmas representaes, em outro lugar, a partir do qual
possvel a dvida, a estranheza, o distanciamento. Assim, sob a aparente homogeneidade
do eu enunciador, implicado tanto C como P, emerge, nessa escanso, que a estruturao
tpica do D.E.S. pe em jogo, a heterogeneidade impressa na mesma voz.
O enunciado de comentrio menciona o dito comentado, assim como os fenme-
nos de heterogeneidade representada constituem uma meno ao dizer. Nesse sentido,
o comentrio funciona como um sintoma da no-coincidncia do eu om suas repre-
sentaes (as do dito comentado). Mas, ao contrrio dos fenmenos da heterogeneidade
representada, onde o sujeito percebe e territorializa o heterogneo para afirmar o Um,
o comentrio faz aparecer uma polifona interna ao prprio eu, mas que o sujeito no
chega a perceber como uma alteridade intrnseca, j queego est imerso em ambas as
dimenses (dos planos C e P).
Nesse sentido, os enunciados de comentrio, ali mesmo onde produzem a rarefa-
o da referncia e onde sinalizam a no-coincidnci do eu com suas auto-represen-
taes, produzem, para o sujeito, a iluso de que controla o seu discurso, de que co-
manda o seu dizer, sobre o qual retorna, reflexivamente.
Proponho considerar que os enunciados de tipo P correspondem quelas zonas
do discurso nas quais o eu aparece investido de suas prprias representaes auto-
identificadoras. que o sujeito da enunciao que ai se manifesta, na maioria das
vezes sintaticamente realizado, em outras semanticamente implicado, corresponde, na
distino proposta por Ducrot (1984; p. 200), ao sujeito de linguagem enquanto ser do
mundo, enquanto A; portanto, enquanto representao de um indivduo. J nos enunci-
ados de tipo C, quase interjeitivos, em que a primeira pessoa raramente aparece marcada,
o que est em causa o sujeito enquanto L , enquanto ser de linguagem.
Penso que o D.E.S. manifesta uma peculiar relao de contraponto entre L e A,
na medida em que as emergncias de L atuam no sentido de pr em suspenso as
emergncias de A. No se trata, evidentemente, de um jogo comandado pelo enunciador-
locutor: trata-se de um efeito das formas. Nesse sentido, ocorre uma espcie de dupli-
cao interna do discurso, revelia da aparente univocidade externa da superfcie
discursiva, nica na qual eu pode se reconhecer instalado.
importante ressaltar que esse efeito do sentido dos enunciados de tipo C, pon-
do em causa a univocidade representativa dos enunciados de tipo Pea prpria unicidade
da enunciao enquanto produtora das representaes no discurso um fenmeno que
no pode ser aproximado, analogicamente, dos fenmenos da heterogeneidade repre-
sentada ou das formas de metadiscurso (Maingueneau, 1987; pp. 93-94). Nestes, o
heterogneo, o no-unvoco, comandado pelo eu enunciador, que lhes administra os
respectivos territrios.
97
No D.E.S., no entanto, na medida em que os enunciados de tipo C fazem bascular
as representaes de P - configuraes imaginrias do sujeito, pelas quais eu aparece
como homogneo e coincidente a si mesmo -, revelam fissuras nessas configuraes
imaginrias. Tais fissuras, no entanto, se manifestam, paradoxalmente, como produzi-
das por eu-mesmo.
Note-se que C no pe em jogo outras representaes que poderiam ser contras-
tadas com as de P, mas somente pontua, pela suspenso, o seu carter de construes
representativas. Nesse sentido, o sujeito L de C no um sujeito identificado nem com
as representaes de A, nem com outras: um sujeito que emerge na sua natureza de
suporte de qualquer representao, lugar do qual no h escape enquanto houver a
busca do sentido.
Notas
1. Nas formas de heterogeneidade representada, marcadas ou no, o sujeito enunciador quem
mostra o heterogneo.
2. "A linguagem s possvel porque cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a ele
mesmo como eu no seu discurso." Benveniste, E., 1958; p. 286.
3. A esse respeito, cf. 'Dire et montrer', Rcanat (1979; pp. 131 a 152).
4. "No existe um 'discurso do inconsciente', (um discurso) que seria prprio do inconsciente.
O inconsciente est em ao no 'discurso normal'" (Authier 1982; p. 127).
5. A distino entre enunciados narrativos e enunciados declarativos corresponde clssica
distino entre plano do relato e plano do discurso, em Benveniste (1959).
6. No material analisado seis proposies contra 25 anteposies.
Referncias bibliogrficas
AUTMER-REVUZ, Jacqueline (1982). Htrognit montre et htrognit constitutive: l-
ments pour une approche de l'autre dans le discours. DRLAV26, Paris.
(1984). Htrognit(s) nonciative(s). Languages 73 (Les plans d'nonciation). Paris,
Larousse. [Trad. bras. : Heterogeneidade(s) enunciativa(s). Cadernos de Estudos Lingsticos
19. Campinas, 1990.
BENVENISTE, Emile (1958). Da subjetividade na linguagem. In . Problemas de lingstica
geral. So Paulo, Cia. Ed. Nacional/EDUSP, 1976.
(1959). As relaes de tempo no verbo francs. In . Op. cit.
DANON BOILEAU, L. &BUSCAREN, J. (1984). Pour en finir avec Procuste. Languages 73.
Paris.
98
DUCROT, Oswald (1984). Esquisse d'une thorie polyphonique de renonciation. In . Le dire
et le dit. Paris, Minuit. [Trad. bras.: O dizer e o dito, Campinas, Pontes.]
LACAN, Jacques (1954-1955). O Seminrio, Livro 11(0 eu na teoria de Freud e na tcnica da
psicanlise). 2. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1987.
(1955-1956). O Seminrio, Livro III (As psicoses). 2. ed. Rio de Janeiro, Zahar, 1988.
MAJNGUENEAU, Dominique ( 1987). Novas tendncias em anlise do discurso. Campinas, Pon-
tes-Editora da Unicamp, 1989.
ORLANDI, Eni (1983). A linguagem e seu funcionamento - as formas do discurso. So Paulo,
Brasiliense.
PCHEUX, Michel (1975). Semntica e discurso. Campinas, Editora da Unicamp, 1988.
(1983). O Discurso - estrutura ou acontecimento. Campinas, Pontes, 1990.
RCANATI, F. (1979). La transparence et renonciation. Paris, Seuil.
VENDLER, Z. (1970). Les performatifs en perspective. Langages 17, Paris.
99
CONHECIMENTO E MESTIAGEM: O 'EFEITO-MACABA'
Julio R. Groppa Aquino*
Da condio migratria do aprendiz
Macaba, personagem central de A hora da estrela, de Clarice Lispector, uma
retirante nordestina que vai tentar vida nova na cidade grande.
Filha do serto, nasceu e permaneceu raqutica. Annima, desajeitada, desgarra-
da no mundo, tudo nela inspira descompasso e compaixo.
Seus dias se dividem entre o trabalho como datilgrafa e o pretendente - tam-
bm nordestino - Olmpico de Jesus.
As madrugadas, para ela, so embaladas pelos sons regulares da Rdio Relgio:
hora certa, anncios, pouca ou nenhuma msica. "Era rdio perfeita pois tambm en-
tre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos dos quais talvez algum dia viesse
precisar saber. (...) Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informao. Mas
nunca se sabe, quem espera sempre alcana" (Lispector, 1993; p. 53).
por intermdio desta escuta, entretanto, que Macaba vai lentamente cons-
truindo um certo reconhecimento sobre si e sobre o mundo.
- Voc sabia que na Rdio Relgio disseram que um homem
escreveu um livro chamado Alice no Pas das Maravilhas e que
era tambm um matemtico? Falaram tambm em "lgebra". O
que que quer dizer "lgebra"?
- Saber disso coisa de fresco, de homem que vira mulher.
Desculpe a palavra de eu ter dito fresco por que isso palavro
para moa direita.
- Nessa rdio eles dizem essa coisa de "cultura" e palavras dif-
ceis, por exemplo: o que quer dizer "eletrnico"?
Silncio.
- Eu sei mas no quero dizer.
- Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minuto do tempo assim:
tic-tac-tic-tac-tic-tac. A Rdio Relgio diz que d hora certa,
cultura e anncios. Que quer dizer cultura?
* Departamento de Educao, Instituto de Biocincias, UNESP, Rio Claro.
101
- Cultura cultura - continuou ele emburrado. - Voc tambm
vive me encostando na parede. (...)
- Sabe o que mais eu aprendi? Eles disseram que se devia ter
alegria de viver. Ento eu tenho (ibid.; p. 66-67).
Do trecho do dilogo entre os personagens, nos deparamos, de um lado, com
Macaba vida de respostas, enamorada pelas indagaes, emaranhada numa espcie
de dvida; do outro lado, com Olmpico, forjando respostas que no explicam, se es-
quivando a qualquer preo da dvida. Transversal a ambos, a Rdio Relgio que os
ultrapassa, (in)formando, veiculando saberes e poderes.
Diferentes efeitos surtem da interveno da Rdio no cotidiano dos personagens:
o que nela evoca inquietao, nele imprime ameaa. Ambos porm se tornam objetos
de uma ruptura provocada pela Rdio - o corte do conhecimento.
Espcie de Alice precria no pas de supostas maravilhas, Macaba protagoniza
o sujeito do conhecimento - um sujeito crivado pelo rompimento dos significados
'naturais' do cotidiano.
Mas de onde brotava aquela vontade incessante de desvendar os significados de
coisas que ela nem sequer suspeitava (mas que por alguma razo ela legitimava) a
existncia?
Suposto est que como o conhecimento almejado por ela, a vontade de conhecer
no teve origem nela prpria. Ao contrrio, ela uma inveno, uma fabricao a
partir da interveno da Rdio. , portanto, a relao instituda com o veculo que
institui a vontade de conhecer em Macaba.
Fora exgena e estrangeira em sua vida, a vontade de conhecer - derivada da
relao instituda/instituinte com a Rdio - insuflava a sensao de falta, de dvida e
'desposse'.
Em vez de apaziguar suas inquietaes, seus pensamentos vo lhe abrindo feri-
das. Seduzida, Macaba se rende ao fascnio da Rdio e, consequentemente, ao ideal
de completude que ela veiculava - pois aquela que expulsava era tambm a que aco-
lhia. Ora ruptura, ora sutura.
Presa voluntria, Macaba protagoniza a dupla condio do aprendiz: se por um
lado a vontade de conhecer lhe obriga a transpor os limites, lanando-a rumo ao desco-
nhecido, por outro lhe estampa a fragilidade e o vazio de sua existncia. Ao mesmo
tempo que expanso de mundo, desnudamento aflitivo de si.
- Mas puxa vida! Voc no abre o bico e nem tem assunto!
Ento aflita ela disse:
- Olhe, o imperador Carlos Magno era chamado na terra dele de
Carolus! E voc sabia que a mosca voa to depressa que se vo-
asse em linha reta ela ia passar pelo mundo todo em28 dias?
- Isso mentira!
- No no, juro pela minha alma pura que aprendi isso na
102
Rdio Relgio!
- Pois no acredito.
- Quero cair morta neste instante se estou mentindo. Quero que
meu pai e minha me fiquem no inferno, se estou lhe enganando.
- Vai ver que cai mesmo morta. Escuta aqui: voc est fingindo
que idiota ou idiota mesmo?
- No sei bem o que sou, me acho um pouco... de qu? ...Quer
dizer no sei bem o que eu sou.
- Mas voc sabe que se chama Macaba, pelo menos isso?
- E verdade. Mas no sei o que est dentro do meu nome. S sei
que nunca fui importante (ibid.; p. 73).
Marcada por um cerco contagioso, sua captura no conhecimento generalizada.
Desde os segredos do mundo exterior s inflexes internas, a dvida se instala.
Nenhuma certeza lhe resta, alm das 'verdades' que a Rdio veicula. A terra
parece ir se lhe abrindo sob os ps.
De sujeito a objeto do conhecimento, seu trabalho ser o de procurar no emara-
nhado das ideias um fio de sentido para sua existncia, um pouco de sua importncia,
o desconhecido que se enreda sob seu nome.
Sem saber(-se), no h como conter a vontade de saber - um saber autofgico,
que ultrapassa os mistrios do mundo e se torna um saber sobre si mesma. Este parece
ser o deslize fundamental entre o conhecimento e o sujeito que conhece - uma espcie
de suporte, de ancoragem, sem a qual o conhecimento certamente no se sustentaria.
Antes fora de intimidao, agora a vontade de conhecer passa a ser vetor de
intimizao. Desalojada pelo conhecimento, Macaba vai buscar abrigo e vazo no
prprio conhecimento - o que implica um corte ainda mais fundo.
Portadora das lminas, a Rdio ser o dispositivo por meio do qual Macaba
tentar resgatar seu eixo de existncia. Conseguir?
A partir da interveno da Rdio no cotidiano de Macaba, o que se produz um
jogo violento de foras onde o interventor/agente aquele que carreia a palavra e a
verdade consigo, aquele que se postula como guardio deste objeto hermtico que a
todos transcende. Apresenta-se, assim, enquanto o mensageiro desse algo que para o
outro ausente, total ou parcialmente.
Detentor dos traos da 'coisa' valiosa, o interventor/agente tambm aquele que
delimita as regras do jogo de apropriao da 'coisa', onde o papel do aprendiz/cliente
o da escuta recodificada em reverncia (a escuta muda). A ttica a seduo do
discurso (a escuta surda). O objetivo a imputao do ideal de completude e, em
ltima instncia, o acesso terra sagrada do saber (a escuta prdiga).
O desfecho invariavelmente o mesmo: inocula-se o germe da Rdio que se
torna, num s golpe, nutriz e nutriente do saber.
Alimenta-se da promessa da Rdio que d hora certa, cultura, anncios e, sobre-
103
tudo, esperana. De que mais Macaba necessita?
Ao abrir-se a ferida do conhecimento, irrompe-se uma viagem sem retorno ao
ponto de partida, instala-se a fome - uma fome que no se farta.
Contudo, se por um lado Macaba a imagem da expropriao, por outro o
indcio de uma exuberncia, de uma florao.
Tornada sujeito do mundo e de si prpria, Macaba uma transeunte sequiosa.
Este parece ser o paradoxo fundante do sujeito (tambm sempre objeto) do co-
nhecimento: a devastao causada pela interveno do conhecimento igualmente a
pedra fundamental de uma nova linguagem existencial, uma superao de si - o saber.
Assim, Macaba se encerra no destino de migrante: est condenada a transcen-
der a si mesma, transvagando para sempre nos territrios ocupados do conhecimento.
Dbio e multiforme, seu trajeto nos transporta para uma dimenso de passagem,
de miscigenao e de mestiagem na existncia: a condio migratria do aprendiz.
O aprendiz mestio
Inslito mundo novo aquele que se descortina aos olhos do aprendiz. Perplexo
e maravilhado com a delicadeza dos contornos do horizonte, indaga a estranheza das
formas: sero sempre outras, ou apenas o arrebatamento as diferencia?; por que to
diversas, ou antes, por que se desdobram tanto?
De onde partiu, traz uma fina nvoa sobre o olhar. Ter que se exceder, germinar
o ventre rido, vencer a timidez de seus rgos. E isto no se far sem o outro.
De onde veio, apenas as reminiscncias lhe serviro de companhia. Est banido
da aldeia e annimo diante de um mundo to luminoso quanto obscuro.
No frio do desterro, acalentam-no as linhas do mestre distante:
Sim, parte, divide-te em partes. Teus semelhantes talvez te con-
denem como um irmo desgarrado. Eras nico e referenciado.
Tornar-te- vrios, s vezes incoerente como o universo que, no
incio, explodiu, diz-se, com um enorme estrondo. Parte, e en-
to tudo comea, pelo menos a tua exploso em mundos parte
(Serres, 1993; p. 15).
O aprendizado inaugura a errncia e o desconcerto, como no velho mito do heri
que para ver melhor fura os prprios olhos. Antes rei tirano; agora sbio andarilho, em
paz com o destino.
certo, contudo, que no h aprendizado sem coragem - o destemor da conquis-
ta de novas paragens, mas tambm no h aprendizado sem desassossego - a inevit-
vel exposio ao outro. No h, portanto, conhecimento sem alteridade, e sem alteridade
no h potncia de vida.
O bvio e a novidade residem nesta passagem, neste interstcio: todo saber pos-
104
svel se perfilar por este 'entre', este domnio intervalar e invisvel do sujeito e seu
outro.
Trata-se, pois, de um estreito fundante: o acontecimento do encontro que faz
brotar o trfego entre o sujeito sempre peninsular e o continente da alteridade.
Migrante, mestio, mesclado, diludo, fragmentado, recortado e tatuado com e
pelo outro, o aprendiz pode ento se precipitar sobre o mundo. Nem pleno nem vazio,
agora um iniciado.
Transcontinental e sem identidade, sua trilha conduz sempre ao mesmo marco
primeiro: a extraordinria proliferao de formas do encontro germinal.
Canal de incessante passagem, a miscigenao condio para a experincia
livre e criadora. S a partir dela, realidades ruidosas se apressam em ser no eclipse
deste encontro.
Num mundo despossudo de deuses, o mestio migrante se condena a orbitar
pelo mundo dos homens e suas ideias, espreita de um trao (mesmo evanescente) de
verdade.
Duelando incessantemente com o acaso, est de partida outra vez. Nada mais
poder deter seu vo camicase sobre o porvir.
Nem posto, nem oposto, incessantemente exposto. Pouco em
equilbrio, e tambm raramente em desequilbrio, sempre desvia-
do de lugar, errante, sem morada fixa. Caracteriza-o o no-lu-
gar, sim, o alargamento, portanto a liberdade ou, melhor ainda,
o desaprumo, esta condio constrangedora e soberana de con-
duo verdade.
Eis j quase descrito o mestio instrudo, cuja instruo jamais
termina: naturalmente, e tambm atravs de suas experincias,
ele acaba de entrar no tempo; deixou seu lugar, seu ser e seu ali,
sua aldeia natal, excludo do paraso atravessou vrios rios, cons-
ciente de perigos e riscos; eis que agora decola da prpria terra:
habitar ele o tempo?
No, ningum habita o tempo, porque ele exclui os mestios e
desaloja todo mundo imediatamente. por isso que todos vive-
mos, a partir de ento, desalojados (ibid.; p. 20).
Excludo do tempo, estilhaado em incontveis pedaos, o aprendiz est s mais
uma vez.
Uma vez perdida a condio do 'um' da unanimidade, est encarcerado no ml-
tiplo da singularidade - eco imemorial do istmo da mestiagem.
Avesso ao apego ao territrio, seu passado nmade. Seu abrigo o deserto. Seu
legado para os sditos que no h, a eterna transmutao.
Sua tarefa , sobretudo, civilizatria. A cada parada: novas confluencias, peque-
nas alianas - uma fresta oscilante de vertigem e xtase. o intangvel outro que se
105
insinua e depois se apaga: a hora da exata chegada o momento mesmo de partida.
Mixado mais uma vez (e sempre), contempla a vida renascendo sublime a cada
encontro com esse impondervel outro. Reside, pois, numa alteridade tambm mestia
todo o norte de seu itinerrio.
No mundo do aprendiz mestio, tudo apenas principia.
Referncias bibliogrficas
AQUINO, Julio R. G. (1990). Os discursos da formao do psiclogo; um estudo de represen-
taes institucionais. So Paulo, Instituto de Psicologia - USP. (Dissertao de Mestrado.)
GUIRADO, Marlene (1987). Psicologia institucional. So Paulo, EPU.
(1986). Instituio e relaes afetivas; o vinculo com o abandono. So Paulo, Summus.
LISPECTOR, Clarice (1993). A hora da estrela. 21 ed. Rio de Janeiro, Francisco Alves.
SERRES, M. (1993). Filosofia mestia; le tiers-instruit. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
106
ESTADO MELANCLICO E ACONTECIMENTO
Regina Cl ia de Andrade Charl ier*
Electra e o estado melanclico
E possvel articular uma situao traumtica, que implica a momentnea frag-
mentao de si, viabilizando a emergncia de uma nova forma (o enigma), enquanto
acontecimento? vivel interpretar luto e melancolia, afastando-se de um enquadre
psicopatolgico? A resposta a essas duas questes me parece afirmativa, se traarmos
uma linha de fuga, apontando esse par como 'acontecimento', mais precisamente, no
que se refere a querer encarnar o acontecimento. O texto de Freud (1915 [ 1917]) Luto
e melancolia, o caminho primeiro, bem como alguns de seus intrpretes (Laplanche
(1992), Green (1988), Costa (1988)), como abertura para a esquizo-anlise, em espe-
cial Deleuze (1989). Tais noes clnicas parecem se adequar obra Electra, de Sfocles,
na perspectiva mais especfica a que me proponho, sem o intuito de trazer o sentido da
tragdia grega antiga. Nessa tragdia, delineia-se o movimento luto-melancolia, que
se constri e se desenrola maneira de um cristal, a partir de traos disformes, ponti-
agudos, imprecisos, indefinveis, no sedimentados numa totalidade fechada e cir-
cunscrita, na qual a melancolia acaba por entrar no rol das psicoses cclicas. Sabe-se
que Freud (op. cit.) salienta a diferena entre luto e melancolia: o luto experincia
que permeia a histria da humanidade e leva o autor a aproxim-la da normalidade. No
enlutado, o objeto libidinal, quer se trate de pessoa, quer se trate de um ideal (como a
ptria, por exemplo), ou mesmo de um aspecto de uma pessoa ou coisa, v-se prejudi-
cada ou desaparece. A sugesto freudiana de que o objeto perdido no , necessari-
amente, uma totalidade, o que nos leva a concluir que o objeto do luto tambm pode
ser um objeto parcial. O objeto desaparecido ou sucumbiu morte, ou constituiu-se
como algo da esfera do prejuzo (provavelmente um ferimento narcsico).
Ora, o luto uma afeco que, em si, no se configura como patologia, sendo
detectvel pelos sintomas. Nele, h um estado doloroso, em virtude da perda, levando
o enlutado a uma diminuio do interesse pelo mundo, que no lembra mais a pessoa
* Doutoranda no Ncleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade, Programa de Estudos Ps-Graduados
em Psicologia Clnica da PUC-SP.
107
falecida. Sofrendo uma espcie de amortecimento e perdendo a capacidade para vin-
cular-se a um novo objeto amoroso ou substitu-lo pelo perdido, o enlutado anima-se
pelo evento que possa relig-lo ao objeto perdido. exatamente nessa colocao de
Freud que se torna possvel refletir sobre a figura de Electra. Quando esta se dirige ao
coro de mulheres (Sfocles, 1992), para chorar a ausncia do pai assassinado, diz:
Vieste minorar as minhas dores,
nobres amigas; ouo e compreendo
vossas palavras, mas no tenho nimo
Amigas, cujo amor
igual ao meu,
abandonai-me ao
desespero! Peo-vos (verso 132)
um processo de enlutamento bem exposto nesta fala. Se Freud analisasse Electra,
poderia ressaltar que seu ego sofre uma inibio e uma restrio, inviabilizando novos
projetos de vida.
O luto dor moral: dor como afluxo de energia que ameaa romper um limite
quer seja do organismo, quer seja egico. Frente eminncia deste perigo, ocorre um
contra-investimento, ou seja, a mobilizao de uma energia que substitui a barreira
esttica por uma dinmica. Se na melancolia h a caracterizao de um estado psqui-
co no qual incorre um nimo profundamente doloroso, sua presena em vrias formas
clnicas no pode ser reduzida a uma unidade, lembrando antes as afeces somticas
que as psicognicas. Como no luto, na melancolia h o desaparecimento do interesse
pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, inibio das funes psquicas e,
especialmente, a diminuio do amor prprio ou o 'delrio de pequenez'. Electra pro-
cessa, ento, o luto ou a melancolia?
preciso entender melhor a relao entre esses dois movimentos. Freud tende a
situar a melancolia dentro das psicoses, mas, posteriormente, indica que existe, em sua
base, um conflito entre o ego e o superego, aproximando-a das neuroses narcsicas
(1924; p. 408), chamando a ateno para o fato de que o melanclico percebe com
maior acuidade do que as demais pessoas aquilo que se passa consigo. H, ento, uma
singularidade na vivncia melanclica? Acredito que sim. Ao fazer uma autocrtica
exacerbada a seu respeito, o melanclico talvez se aproxime de um maior conheci-
mento de si, e isto leva Freud a perguntar se preciso adoecer para se ter acesso a uma
"verdade ntima". Se assim for, a proximidade de si, quando puder trazer um maior
autoconhecimento, no implicaria a ativao de um dispositivo, capaz de desencadear
outro processo de subjetivao, no qual haveria uma apropriao de foras, e desta
aquisio no se obteria um maior domnio de si? Delineemos mais um pouco o perfil
de Electra. Electra dirigindo-se ao coro de mulheres, diz:
Divina claridade e ar divino,
roupagem lcida de nossa terra
108
Quantas lamentaes minhas ouvistes
e quantos golpes desferidos
em meu sofrido peito lacerado
sempre que a noite terminava
E meu leito odiado testemunha
das lacrimosas e longas viglias
sofridas no palcio repugnante (verso 85)
Mas meu pranto
no cessar, nem meus sentidos ais,
enquanto eu contemplar os raios trmulos
dos astros para sempre cintilantes
e a claridade de todos os dias! (verso 105)
Esta fala de Electra lembra-nos certas colocaes de Nietzsche, quanto doena
e sobretudo seu conhecido 'perspectivismo'. interessante lembrar que o filsofo
tece consideraes, ampliando a importncia das prticas advindas do adoecimento:
ele exorta a viver tanto a sade como a doena, de tal maneira que a sade seja um
ponto de vista para a doena e vice-versa. Trata-se de poder observar na doena con-
ceitos mais sadios, mergulhando o olhar no instinto de decadncia, fazendo disso uma
prtica de adestramento.
Numa de 'suas escrituras' destaca que a doena pode permitir benefcios intelec-
tuais, mas que estes devem brotar de uma profunda experincia de solido. Tal o
caso de Electra, a herona solitria por excelncia. Note-se que h homens que, ao
adoecerem, so martirizados e diante disto no se turvam; ou aqueles que, apesar de
graves sofrimentos, conseguem olhar o mundo exterior com certo distanciamento e
frieza; ou os que se colocam diante de si, sem plumagem e sem colorido; e aqueles,
ainda, que levados ao mais extremo martrio, extraem, dessa experincia, uma terrvel
clarividncia, clamando a si mesmos, como diz Nietzsche (1983; 114): "S uma vez
teu prprio acusador e verdugo, toma uma vez teu sofrimento como a pena que te foi
decretada por ti mesmo! Goza de tua superioridade de juiz; mais ainda! Goza de teu
bel-prazer, de teu tirnico arbtrio!"
Observa-se esse mesmo movimento em Electra, na sua infinita espera do irmo
Crestes, escolhido como vingador da dupla assassina do pai Agammenon, Clitemnestra
e Egisto. No entanto, em seu estado melanclico, Electra impe para si mesma sua
pena, isto , decreta sofrimentos intensos, que lhe do o enrijecimento das foras ne-
cessrias para prosseguir em sua trajetria, e a me (Clitemnestra), de modo indireto,
auxilia a melancolia da filha, ao confin-la numa condio subalterna.
Espero-o indefinidamente
sem filhos, sem esposo, desditosa,
sem perspectiva e desfeita em lgrimas,
vencida por desgraas sucessivas;
109
As novidades a respeito dele
nos chegam e so logo desmentidas...
Eu sei, mas j se passou amargamente
a melhor parte de minha existncia.
Aguardo a morte sem ter tido filhos
e sem amigos para proteger-me...
vestida nesta roupa degradante,
de p, em frente mesa sem convivas! (verso 165)
Contrastando com a situao de 'normalidade' de sua irm Cristemis, Electra diz:
... eu, entretanto, no me curvarei a eles
embora me prometam todos os presentes
que agora ostentas com tamanha vaidade;
mostre-se tua mesa cada vez mais farta
e seja os teus dias superabundantes, (verso 350)
O estado melanclico tem outras consideraes em Green (1988). Ele enfatiza
na melancolia, a partir da anlise de Freud, algo de grande importncia: ela vista
como cultura das pulses de morte (p. 295).
o que se pode ver, claramente, na passagem elucidativa abaixo, quando h o
dilogo entre Electra e o coro de mulheres.
Coro:
Jamais, porm, fars teu pai voltar
do silncio do Hades, fim de todos,
nem com soluos, nem com desespero.
Sem resistncias e sem moderao
entregas-te a um pranto interminvel
que no te livra de teu sofrimento
Por que te enamorastes da desgraa? (verso 139)
Pode-se considerar que Electra se impe auto-acusaes, o que para Green no
passaria de um disfarce. Segundo a teoria de Green, o melanclico ao recriminar-se e
ficar espera de punio tem subjacente uma fantasia de imortalidade do ego. Sabe-se
que Green enfatiza o gnero neutro, ou seja, aquele do domnio absoluto do narcisismo,
no qual abolem-se o masculino e o feminino. Anseia-se pelo nada equivalente a uma
ausncia de excitao, de desejo, em prol de um fascnio pela morte, num ego que se
sabe mortal.
A processualidade da melancolia
Como o estado melanclico pode engendrar o acontecimento?
Maldiney abre algumas questes acerca disso, quando procura questionar se tal
110
processo constituir-se-ia como acontecimento. Se de um lado avalia que o aconteci-
mento o jorrar do mundo, a vivncia melanclica teria suas foras retidas num tempo
passado e tal reteno pode converter-se nas suas prprias ernias. Quando o melanc-
lico transforma-se no seu prprio vingador, no isto o acontecimento? A melancolia
no guardaria o enigma do enlutamento, tal como proposto por Laplnche (1992)? O
estado melanclico de Electra, de longa durao, assemelha-se quele descrito por
este autor (p. 14) com relao a Penlope. Ambas tm dificuldade em cortar os fios
com o passado, valendo-se das noites interminveis, cheias de lgrimas, dor, dio,
como no caso de Electra, ou da tcnica astuciosa da trama dos fios, em Penlope, para
que, longe da luz, possam desmanchar e reconstruir novos territrios afetivos?
No lamento insultante e sem fim de Electra, porta do Palcio dos tridas, e no
tecer-destecer de Penlope, h um tempo de espera e, conjuntamente, ocorre uma apro-
priao, e no um esvaziamento de foras. Electra, diferentemente de sua irm, que se
mantm prudente frente as ameaas do novo reino da me, rompe com a linhagem
recm-construda, propiciando a emergncia de um novo pathos, um novo tipo de
sensibilidade: o estado melanclico toma o caminho oblquo, nmade. Quando
Cristemis anuncia que Electra morrer caso no desista de lanar insultos s portas
do Palcio, ela aceita um funesto desejo, isto , a morte herica, que lhe permite atingir
a esfera da imortalidade, reservada s raas dos heris, como refere Hesodo (Vernant,
1990; p. 40). No isto a transformao do esvaziamento em apropriao de foras?
A morte em vida, a ser experimentada na mais profunda solido, no causa
espanto a Electra, e motivo para regozijo: a unio com Hades, reino dos mortos,
conflgura-se como o encontro das foras sinistras das Ernias, ou seja, com suas pr-
prias foras.
Mas h no melanclico, como h em Electra, um vnculo com o narcisismo,
conforme notou Green: trata-se de uma perda da esfera do prejuzo, de uma ferida
narcsica. Green, diferentemente de Freud, no v o narcisismo inteiramente do lado
das pulses de vida, contrapondo um narcisismo negativo. Este encontra-se sob o do-
mnio do principio do nirvana, onde as pulses de morte tendem a reduzir a libido ao
nvel zero, equivalente da morte psquica. " a busca do no-desejo do Outro, da
inexistncia do no-ser, outra forma de acesso imortalidade. Q Eu nunca mais
imortal do que quando diz no ter mais rgos, no ter mais corpo" (Green, 1988; p.
308).
A imortalidade um estado de idealizao do Eu, e a completude narcisista no
mais resultado da fuso com o objeto, mas nasce da relao com seu duplo. Numa
fantasia de imortalidade, o eu fazendo amor a si mesmo no se sente inquietado nem
pela angstia, castrao, nem pela morte. Nessa esteira, Costa (1988) assinala a ocor-
rncia, no narcisismo, da migrao dos investimentos libidinosos ao ego, no qual a
energia, sem teor sexual, ficaria disposio dos ideais. Para ele, o ego ideal, como
111
outro especular do ego narcsico, seria a nica forma no conflitiva de o ego lidar com
a alteridade, pois o ideal aponta para o futuro.
Tambm Deleuze, ao referir-se ao narcisismo, considera que a libido, ao refluir
para o ego, faz uma abstrao de todo contedo memorial, quebrando o ciclo com
Eros. H, ento, um tempo vazio, fora dos eixos, constitudo por uma ordem formal e
esttica rigorosa, o instinto de morte. Ora, interessante lembrar que, para Deleuze
(1988; p. 193), Tanatos repete o excessivo, o desigual, numa atemporalidade que des-
faz a identidade em nome de um alongamento circular e labirntico. Como tais coloca-
es se adequariam figura de Electra?
A morte, na perspectiva de Deleuze, no equivale a um modelo material, inani-
mado, no qual tudo o que vivo retornaria, como quis Freud. Diferentemente, ela no
responde a um estado da matria, constituindo pura forma. Tal morte tem duplo aspec-
to: um relativo ao eu, seu lado pessoal, outro impessoal, desvinculado do presente, do
passado, porque est por vir. Reportando-se Electra, esta estaria carregando esse
ciclo labirntico nas suas falas: ao mesmo tempo personificando-se pelo no esqueci-
mento, e tambm perdendo-se na impessoalidade da morte, que a torna uma herona
com hybris.
Se Deleuze acredita que Tanatos no se constitui como energia neutra, deslocvel,
tal como concebida por Freud, ela expressaria uma sntese designativa do sem fundo.
Nela se atualizam todas as dimenses do tempo. O instinto de morte no entra no ciclo
de Eros, exprimindo o. prazer dessexualizado que inibe a aplicao do princpio do
prazer, para proceder ressexualizao em que este s investe um pensamento puro,
frio, aptico, gelado, como diz Deleuze (aqui, ocorreria uma complementao entre
libido narcsica e instinto de morte). Como h uma ligao entre estado melanclico e
instinto de morte, concebidos a partir desse perspectivismo, veja-se o seu aparecimen-
to em Electra.
Durante o enlutamento, Electra desenvolve uma nova sensibilidade de que ultra-
passa os limites do 'demasiadamente humano'. Tem um espelhamento em Nobe, a
fonte que, petrificada, jorra incessantemente como um choro: neste sentido, Electra se
alinha s foras da natureza, das rochas. Por outro lado, mistura-se aos seres vivos: ela
se reconhece no rouxinol, pssaro predileto de Zeus, que melancolicamente chora a
morte dos filhos. H uma passagem bastante elucidativa de tais aspectos. Dirigindo-se
ao coro, ela diz:
No! meu sofrido corao prefere
o aflito pssaro, to caro a Zeus,
chorando os filhos, incessantemente.
Ah! Nobe, infeliz eternamente
s para mim igual s divindades,
tu que, petrificada, choras sempre (verso 148)
Esta vivncia melanclica de Electra permite-lhe atingir zonas de indeterminao:
112
mistura o divino, o humano, o orgnico, o inorgnico. H um agenciamento coletivo
com outras formas, uma contaminao propiciando o desencadeamento de metamor-
foses e com elas mutaes na sensibilidade.
Portanto, o estado melanclico, assim descrito, no se fecha, unicamente, no
quadro da neurose narcsica ou da psicose melanclica, mas viabiliza outro pathos.
Nele, ocorre o refluxo da libido ao ego, e pela ressexualizao contempla-se no ego
ideal uma outra imagem: lquido mortfero, imagem da morte. Tal espelhamento leva
ao desenvolvimento de uma frieza e uma apatia e, em decorrncia disso, apropriao
de foras ativas, as quais permitem um maior domnio de si, armando a resistncia
para lutar no territrio dos desejos. Electra deixa surgir, nessa perspectiva, uma afir-
mao s custas de uma expiao, como se fosse primeiro preciso passar pelas infeli-
cidades da ciso e do dilaceramento, para chegar a dizer sim.
Quando ela rompe com Clitemnestra e alia-se a seu irmo Orestes, evita que ele
perea nas mos de Egisto. Graas proteo da irm, Orestes escondido no exlio.
Esta proteo movimenta uma nova relao entre ambos, e Electra, tentando escond-
lo, atua semelhana de uma me;
Posteriormente, quando Orestes retorna ao Palcio dos tridas e espalha a falsa
notcia de sua morte, reacende em Electra o aspecto materno: h nela o desejo de
enterr-lo com suas prprias mos, ritual que aparece em algumas tragdias gregas.
Pelo agenciamento Electra-Orestes, opera-se uma nova partognese construda
pelo armazenamento de foras advindas do enlutamento de ambos.
Dentro dos processos de subjetivao da Grcia antiga que, como to bem assi-
nalou Foucault, marginalizam a mulher, o escravo, o jovem, isto , o "ho-cidado",
Electra apropria-se de foras semelhana do homem, visto que parece ser a forma
que encontrou para penetrar no universo totalmente dominado pela figura masculina,
detentora da cidadania. Seu "esprito viril", como nota Vernant (1990; p. 168), no
mpar na tragdia. Por intermdio deste modelo masculino, os cdigos vigentes, as leis
rigidamente estabelecidas so atravessados mediante a extrao de foras do
enlutamento, oriundos do duro exerccio do sofrer que se constitui, pela prtica, no
adestramento, no que Foucault (apud Deleuze, 1988; p. 107) recolheu como:
... aenkrateia, a relao consigo como domnio, " um poder
que se exerce sobre si mesmo dentro do poder que se exerce
sobre os outros" (quem poderia pretender governar os outros se
no governa a si prprio?) (...) a verso grega do rasgo e do
forro: descolamento operando uma dobra, uma reflexo (apud
Deleuze, 1988; p. 107).
Parece-me, portanto, que pela conjugao Deleuze - Nietzsche possvel am-
pliar as dicusses iniciadas por Freud e seguidores sobre a melancolia, aspecto que
tentei explicitar na melanclica figura trgica de Electra. Nessa perspectiva, a melan-
colia constitui-se como acontecimento, como 'um estranho' jorrar no mundo, abrindo
113
campo para as singularidades, para os devires mltiplos e polifnicos, questo ampla
que no o caso de abordar, neste contexto, mas que rica em apontar direes refle-
xivas.
Tal caminho incita, inclusive, a problematizar as manifestaes mrbidas que
recobrem a clnica psicolgica, desviando-se, unicamente, do enquadre da psico-
patologia mais ortodoxa.
Qui, desloca os estudiosos ou analistas clnicos para novos horizontes, apuran-
do e aguando as escutas sobre a multiplicidade que abarca a clnica psicolgica.
Referncias bibliogrficas
COSTA, Jurandir Freire (1988). Revista Percurso na histria da psicanlise. In: . Narcisismo
em tempos sombrios. Rio de Janeiro, Taurus. (Coleo Annk)
DELEUZE, Gilles (1988). As dobras ou o lado de dentro do pensamento. In: . Foucault. So
Paulo, Brasiliense.
(1989). A repetio para si mesma. In: . Diferena e repetio. Rio de Janeiro, Graal.
FREUD, Sigmund (1915 [1917]). Luto e melancolia. In: Obras completas de Sigmund Freud.
Madrid, Biblioteca Nueva, 1948.
(1924). Neurose e psicose. In: Op. cit.
GREEN, Andr (1988). Narcisismo de vida. Narcisismo de morte. So Paulo, Escuta.
LAPLANCHE, Jean (1992). O tempo e o outro. In: . La rvolution copernicienne
inacheve. (Trad. livre: Pedro Luiz Ribeiro de Santi.) Paris, Aubier.
NIETZSCHE, Friedrich (1983). Obra incompleta. So Paulo, Abril Cultural (Col. Os Pensadores).
MALDINEY, H. (1991). Acontecimento e psicose. In: . Penser 1'honne et la folie. (Trad.
livre: Martha C. Gambini) Grnoble, Millon.
SFOCLES (1992). Electra. In: . A tragdia grega. 3. ed. Trad. Mrio da Gama Kury. Rio
de Janeiro, Zahar.
VERNANT, J-P. (1990). Mito e pensamento entre os gregos. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
114
C O M U N I C A E S
PRINCPIOS PARA UMA PSICOTERAPIA GENEALGICA:
A VIDA COMO VALOR MAIOR*
Alfredo Naffah Neto**
Ao pensar no tema desta aula, minha primeira escolha encaminhou-se para um trabalho
reflexivo em torno de pesquisar, ensinar, aprender, vistos da perspectiva nietzschiana, que o
lugar conceituai onde me situo atualmente. Entretanto, ao reler a aula de Suely Rolnik, dada por
ocasio do seu concurso e publicada nos Cadernos de Subjetividade', intitulada: 'Pensamento,
corpo e devir. Uma perspectiva tico/esttico/pol tica no trabalho acad mico', cheguei con-
cl uso de que eu iria to- somente repetir coisas j ditas. Provavelmente optaria por um ou outro
conceito diferente, alteraria a nfase posta num ou noutro ponto ou descreveria experincias
prprias como professor, que no constariam no texto de Suely. Mas seriam diferenas superfi-
ciais, nada al m disso. O fundamental do que eu entendo por pesquisar, ensinar e aprender esto
l descritos; fao, pois, minhas as suas palavras.
A partir da, resolvi caminhar para outro tema importante neste concurso, j que ele est
assentado na minha carreira como professor no Programa de Estudos Ps- Graduados em Psico-
logia Cl nica: trata-se da prpria cl nica ou, mais, precisamente, da psicoterapia, tal como eu a
entendo e pratico nos dias de hoje. No pretendo aqui fazer uma descrio exaustiva do tema, j
que isso seria absolutamente imposs vel em funo do tempo e do espao dispon veis. Trao,
apenas, alguns princ pios maiores que governam o trabalho psicoteraputico e o seu processo:
mais precisamente as concepes de homem e de mundo a implicadas, as noes de sade e
doena vigentes e as idias-mestras do acontecer teraputico.
Antes de comear, gostaria, entretanto, de expressar gratido a todos os meus alunos e
orientandos e dizer que, no fosse a sua participao atenciosa e generosa em todo o meu traba-
lho acad mico, o dil ogo livre e construtivo que, muitas vezes, me obriga a rever posies, a
transformar conceitos e metodologias, eu no seria o professor que sou, nem estaria prestando
este concurso. Devo isso, em grande parte, a eles. Dou, pois, in cio minha exposio.
I
a
Princpio: Da Relao Teraputica
Tanto o terapeuta quanto o paciente - ou os pacientes, se estivermos numa psicoterapia de
grupo - s existem como individualidades ou identidades estveis no n vel das representaes
que cada um faz de si prprio. Isso aparece tanto no n vel dos vrios discursos - pontuados pelo
Aula proferida no Concurso para Professor-Titular na PUC-SP, em 27/4/1994.
Psicoterapeuta, coordenador do Ncleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade, Programa de Estudos
Ps-Graduados em Psicologia Clnica da PUC-SP. Autor do livro A psicoterapia em busca de Dioniso
(So Paulo, Escuta-Educ, 1994), entre outros.
115
uso do pronome eu, geralmente denotando identidade - quanto nas assunes e responsabilida-
des assumidas no contrato teraputico, como presena, pagamento, etc. Ou seja, assume-se a
individualidade naquela dimenso do visvel, representada e regulada socialmente pelo mundo
de fora, naquilo em que ela rege, com suas regras contratuais, o espao teraputico.
A relao teraputica, propriamente dita, acontece na conjuno entre o visvel e o invi-
svel. No invisvel, cada existncia se tece e se constitui numa alternncia entre diferentes perso-
nagens, que se criam e se desmancham como expresses formais de lutas entre mltiplos cam-
pos de foras. Caleidoscpios, afetando-se atravs das diferentes figuras que formam e da
ressonncia que cada uma produz nas outras: esta , talvez, a melhor descrio da relao
teraputica.
A dinmica que rege o devir dessas foras e desses personagens fundamentalmente
inconsciente; neste sentido, o trabalho teraputico est sempre procurando interpretar as for-
mas como somos constituidos e regidos por essas foras e como podemos (ou no) acolh-las e
participar do seu devir, como escolha. A terapia estar sendo bem-sucedida quanto mais cada
um conseguir conquistar uma envergadura interior capaz desse acolhimento eparticipao, como
possibilidade assumida.
A prpria terapia, como instituio, deve ser vista e interpretada a partir desses referenciais.
2
a
Principio: Da Subjetividade e do Mundo
Cada subjetividade uma extenso modular do mundo, uma dobra atravs da qual o
mundo se faz interioridade, deixa as suas marcas sob a forma de memria e cria sentidos, for-
mando cdigos singulares. O mundo, por sua vez, sempre uma articulao de perfis e de
perspectivas originrios de mltiplas interpretaes subjetivas. Subjetividade e mundo existem,
pois, sempre imbricados um no outro: se a subjetividade uma dobra do mundo, o mundo se
constitui dos desdobramentos das subjetividades. Dentro desses horizontes, os sentidos que se
constituem no espao teraputico so sempre interpretaes de interpretaes; por outro lado,
sempre o mundo que est em questo, na medida em que no existe nenhum outro mundo alm
daquele implicado nos vrios discursos. Existem, isto sim, inmeros outros vrtices, perspecti-
vas e interpretaes possveis; o mundo sempre o mesmo, o que no significa que ele no
esteja continuamente se desdobrando em inmeros outros. Este , talvez, o paradoxo implicado
na noo nietzschiana de eterno retorno e, geralmente, mal compreendido. O que retoma, em
cada instante, na experincia humana, o mesmo mundo, a mesma vida com todas as suas
qualidades e defeitos, suas clarezas e escurides, suas pujanas e fraquezas, suas virtudes e
vicios, o mesmo mundo e a mesma vida na medida em que no existe outro mundo nem outra
vida: nem o mundo das ideias de Plato, nem a vida eterna dos cristos, nem quaisquer outros,
mas sempre o mesmo mundo e a mesma vida terrenos. Entretanto, o que caracteriza esse mundo
e essa vida s existir atravs das suas formas, das suas interpretaes. Neste sentido, o mesmo
mundo e a mesma vida sempre retornam como alteridade, como diferena, dado que o que os
constitui o puro devir, as mltiplas formas que assumem, as inmeras mscaras pelas quais
adquirem existncia material.
A personalidade uma multiplicidade de personas, ou seja, de mscaras, personagens ou
116
formas que se alternam, em continua luta pela hegemonia dapsych. Essas mscaras sao formas
engendradas pela dinmica das foras que, por sua vez, formam circuitos, organizaes funcio-
nais. Num momento, uma personalidade est sempre comandada por um circuito de foras que,
por sua vez, regido por cdigo(s) singularices) e compreende uma produo de mscaras mais
ou menos tpica. Por exemplo, uma personalidade comandada por um circuito histrico rege-se
por um cdigo totalitrio, aprisionante e, como tal, produz mscaras que oscilam entre o doente-
deficiente, o ator histrinico, a vtima-do-destino, etc., todas variaes do ser-escravo.
. A psicoterapia genealgica est sempre buscando libertar circuitos de foras aprisiona-
dos e dominados por cdigos' totalitrios ou procurando criar espao para circuitos margi-
nais, sem territrio. genealgica, na medida em que pesquisa a gnese das patologias e sua
constituio a partir dos jogos, dos acasos da histria.
3
a
Princpio: Da Sade e da Doena
A personalidade saudvel aquela comandada por circuitos nobres, que quer dizer, cir-
cuitos-de-fora onde as foras ativas dominam as foras reatvas.
Numa personalidade, as foras reatvas so to necessrias e fundamentais quanto as
foras ativas, pois elas compreendem o sistema mnemnico e o sistema de comunicao, ou
seja, a memria armazenada, potencialmente catalisvel nas reaes adaptativas, bem como o
sistema gregrio, que compreende a linguagem, a comunicao e a conscincia - que se forma
delas. Nesse sentido, as foras reatvas so em parte inconscientes - uma parte do sistema
mnemnico, por exemplo - e em parte conscientes. J as foras ativas so completamente
inconscientes e compreendem toda a dimenso plstica, criadora, da personalidade. Enquanto
foras criadoras, as foras ativas esto em plena posse da sua potncia; enquanto foras
adaptativas, as foras reatvas esto separadas da sua potncia plstica, do seu devir criador, na
medida em que esto condensadas e armazenadas em mecanismos necessrios sobrevivncia.
Por isso, no circuito-de-foras saudvel, as foras ativas devem comandar as foras reativas, o
que quer dizer: os processos de expanso e intensificao da vida devem usar as Junes
adaptativas em seu proveito. Em outros termos, as marcas do passado devem ser usadas, filtra-
das, acionadas, em funo das metas da vida em seu devir: o que denomino circuito nobre.
Quando, pelo contrrio, as foras reativas dominam as foras ativas o passado que
invade, controla e interpreta o presente, em funo de experincias no digeridas, elaboradas e
metabolizadas pela psych. Nesse caso, o passado no esquecido e discriminado do presente,
nem usado em seu proveito; as marcas mnmicas invadem tudo e tomam-se o cdigo dominan-
te. Pois as foras reativas - separadas do seu devir criador - no so capazes de criar nem novas
marcas, nem novos cdigos; como condensao do passado s podem perpetuar as marcas anti-
gas. Ao dominar as foras ativas, acabam, pois, por impor-lhes, tambm, essas marcas e impe-
dir-lhes o devir criador. O circuito-de-foras fica, ento, aprisionado por um cdigo tornado
absoluto, tornando-se assim um circuito escravo. A neurose descreve, justamente, uma perso-
nalidade dominada por um circuito-escravo. Suas caractersticas: a perpetuao de interpreta-
es calcadas no passado, a impotncia, a atividade Jomada inoperante, a reduo da personali-
dade funo passiva do sentir e que , to-somente, um sentir-do-passado, o que quer dizer,
117
um re-sentir, um ressentimento. O ressentimento, como expresso da dor, originria da impo-
tncia, s consegue li vrar-se dessa dor espalhando dio, buscando culpados pelo seu infortnio
e alimentando desejos de vingana. Ou sucumbindo na formao de sintomas: a somatizao
histrica en-carnando a impotncia, a angstia fbica projetando-a em objetos dos quais procu-
ra fugir, as ideias e rituais obsessivos vivendo concretamente essa escravido a um Outro.
Ainda h pouco dizia que as foras reativas so to fundamentais personalidade quanto
as foras ativas. Vou desenvolver um pouco mais essa ideiaQuando um campo de foras ativas
no consegue encontrar apoio de foras reativas, capaz de garantir-lhe uma traduo no circuito
gregrio e um territrio possvel na conscincia e na rede das relaes sociais, ele permanece
desterrtoralizado, produzindo e criando de forma totalmente dissociada dos cdigos vigentes.
o que denomino circuito louco; ao dominar a personalidade, ele pode deflagrar uma psicose.
O que impede essa articulao das foras ativas com foras reativas? s vezes, a vida - em seus
processos de expanso e intensificao - sofre uma dor ou uma angstia to intensas que tem
que desconectar, tornar inoperantes as marcas mnmicas capazes de dar sentido experincia
traumatizante. Para fugir do sofrimento, nega o acontecimento; nesse caso, a experincia pode
permanecer totalmente desterritorializada, sem traduo possvel, fadada ao delrio e alucina-
o. Outras vezes, a experincia no pode ser acolhida pela conscincia por impedimentos mo-
rais ou pela falta de signos disponveis para signific-las nos cdigos vigentes. O efeito o
mesmo.
No tratamento das neuroses a psicoterapia genealgica pesquisar a gnese do cdigo
totalitrio que aprisiona o circuito-de-foras, ajudando o paciente a re-digerir as experincias
passadas que invadem e dominam o presente. No tratamento das psicoses, procurar pesquisar
o que impede a traduo do campo-de-foras ativo numa experincia que possa ter lugar na
conscincia e no mundo gregrio. E ajudar o psictico na construo de um territrio de vida
capaz de acolher a(s) experincia(s) marginalizada(s).
4
a
Princpio: Do Processo Psicoteraputico
A psicoterapia genealgica no neutra, como postulam certas psicanlises asspticas.
Ela toma deliberadamente o partido da vida, assumindo-a como valor maior, como o valor dos
valores. Entretanto preciso distinguir vida de sobrevivncia.
Grosso modo, poderamos dizer que sobrevivncia significa, fundamentalmente, capa-
cidade de adaptao, enquanto que vida implica algo maior e mais nobre: a criao de formas
e de cdigos (posteriormente armazenados para fins adaptativos), na contnua apropriao e
transformao do mundo em proveito da expanso e intensificao do impulso vital. Vida sig-
nifica, nos termos de Nietzsche, vontade de potncia, o que quer dizer, movimento propulsor e
criador, constitudo de potncia e aspirando a uma potncia sempre maior. Mas - contra qual-
quer interpretao fascista - Deleuze nos lembra que essa potncia essencialmente criadora,
onde o poder , fundamentalmente, poder de criar.
Assumindo a vida como valor maior, a psicoterapia genealgica estar sempre trabalhan-
do para o seu enriquecimento, a restaurao da sua potncia criadora, o que quer que isso possa
significar em cada situao singular.
118
Seu principio tico bsico - no sentido originrio de ethos = assento, morada - o aco-
lhimento supra-moral, ou seja, a capacidade de criar assento, morada, para as mltiplas expe-
rincias humanas. Sua ferramenta de trabalho a interpretao. Entretanto, interpretao no
significa, necessariamente, uma formulao verbal, embora ela possa muitas vezes assumir essa
forma. Interpretante qualquer movimento - verbal ou no verbal - capaz de des-construir a
forma vital em foco e desdobr-la tanto em direo ao passado - sua gnese - quanto em
direo ao futuro - seu devir. Ou, noutros termos, interpretante todo movimento capaz de
romper o carter totalitrio do cdigo que aprisiona a forma vital ou de abrir espao para um
sentido marginal que busca territrio. Nesse sentido, a psicoterapia genealgica pode usar de
diferentes tcnicas: uma dramatizao, uma massagem, ou mesmo um silncio, um sorriso, um
piscar de olhos podem, circunstancialmente, ser to interpretantes quanto uma formulao ver-
bal. Tudo depende do domnio que cada terapeuta possua das diferentes tcnicas e da sua capa-
cidade para transform-las em funo dos propsitos que aqui se perseguem.
Por ltimo, a temporalidade em que se move o processo teraputico a deAin
2
, o tempo
do eterno retorno. Anel de mltiplos centros, roda que move o mundo e as subjetividades e os
recria, recozendo-os nos seus caldeires mgicos, o eterno retorno o tempo das profuses
singulares. Cada instante rene, no seu crculo, passado, presente e futuro, funde-os no seu fogo
perptuo e lana-os como dadbs sobre as linhas do destino. E a vida retorna com tudo o que :
retornam o grande e o pequeno, o brilhante e o sombrio, o bom e o ruim. Mas possvel que, ao
se banhar nas guas do eterno retorno, se possa escolher o prprio destino, ou seja, acolh-lo e
participar, voluntariamente, do seu devir. Isso significa aceitar a vida tal qual ela , com todas
as maravilhas e as imperfeies, os prazeres e as dores, as alegrias e os sofrimentos; aceit-la,
acolh-la e aprender a danar nos seus anis.
esse o acontecimento maior que se busca, de diferentes maneiras, em psicoterapia
genealgica. No fundo de tudo, espreitam, com o seu sorriso enigmtico, as mltiplas mscaras
de Dioniso, o deus da alteridade e do devir, smbolo desse processo. Ensinando que ser si-
mesmo ou ser si-prprio significa desdobrar-se em inmeros outros, acolh-los e aprender a
am-los, pois vida significa devir e ser significa vir-a-ser. E alertando os que teimam em no
reconhecer esse princpio; com eles, o deus cruel, no perdoa: so escravizados na roda do
tempo ou marginalizados do seu devir criador, restando-lhes, ento, to-somente, a neurose ou
a loucura.
Notas e referncias bibliogrficas
1. CADERNOS DE SUBJETIVIDADE, 1 (2): 241-251, So Paulo.
2.0 termo Ain significa, em grego, tempo sem idade, eternidade, mas tambm suor, esperma,
substncia vital, medula espinal. Como entidade mitolgica, filho de Crnos e Filira.
119
i
A TICA COMO ESPELHO PARA A PSICOLOGIA
Renato Mezan*
Livre-docente do Instituto de Psicologia da USP e por varios anos coordenador do Pro-
grama de Estudos Pos-Graduados em Psicologia Clinica da PUC-SP, Luis Cludio Figueiredo
tem nos ltimos tempos participado ativamente do debate intelectual brasileiro, aps um pero-
do de relativo silncio na dcada de 1980. Na verdade, durante essa poca, estavam em elabora-
o as idias que vm norteando suas intervenes mais recentes, como testemunha o rpido
ritmo de suas publicaes de 1991 para c: Psicologia, uma introduo e Matrizes do pensa-
mento psicolgico (1991), A inveno do psicolgico. Quatro sculos de subjetivao -1500-
1900 (1992), Escutar, recordar, dizer (1994), e agora este pequeno volume de ensaios,
Revisitando as psicologias cujo subttulo 'Da epistemologia tica das prticas e discursos
psicolgicos' (Petrpolis/So Paulo, Vozes/Educ, 1994, 97 p.). Trata-se de cinco textos que se
situam no espao intermedirio entre duas das principais linhas de investigao a que se dedica
o pesquisador: a constituio das subjetividades modernas e contemporneas, e o estudo crtico
das prticas e teorias psicolgicas em vigor na atualidade, como esclarece na 'Introduo' do
livro. Com efeito, se na primeira direo o interesse procurar reconstituir os processos sociais
e psicolgicos que moldam a experincia subjetiva em diferentes momentos histricos, na se-
gunda o objetivo discernir de que forma as diversas correntes da psicologia se distribuem no
"espao do psicolgico" aberto por aqueles processos de constituio da subjetividade. O cam-
po intermedirio entre dois territrios, um de ndole mais histrico-antropolgica, o outro de
cunho mais epistemolgico, precisamente este "espao do psicolgico", produzido em ltima
anlise por fatores sociais e ocupados pelas doutrinas da psicologia
Nessa caracterizao das preocupaes do autor, fica claro o desejo de evitar qualquer
reducionismo, especialmente o reducionismo historcista, que ronda toda tentativa para enraizar
escolas de pensamento no solo movedio dos processos sociais. E, como em toda tentativa deste
gnero, o problema como manter a espessura prpria do campo conceituai, sem perder de vista
aquele enraizamento - impedindo que as teorias se desgarrem do contexto em que so produzi-
da, e apaream apenas como sistemas de representao flutuando no cu das idias - , mas
tambm sem conferir a este contexto um peso tal que fizesse esquecer que a teoria uma 'teoria
de', que ela visa explicar uma certa ordem de fenmenos e eventualmente propor modos de
interveno sobre este campo da realidade. Ora, a soluo sugerida por Figueiredo ao mesmo
'Psicanalista, professor do Programa de Estudos Pos-Graduados em Psicologia Clinica da PUC-SP. Membro
do Departamento de Psicanlise do Instituto "Sedes Sapientiae". Coordenador da revista Percurso.
121
tempo elegante e fecunda: mostrar que o prprio objeto da psicologia atravessado pela hist-
ria, que o "espao do psicolgico" no um dado da natureza, mas fruto de uma complexa srie
de recortes, possibilitados pelos processos sociais na medida em que engendram formas diver-
sas de subjetivao. Ou seja, a experincia de si e dos outros que forma o solo das doutrinas e
das prticas psicolgicas sendo funo dos "modos de subjetivao" historicamente determina-
dos, tais doutrinas e prticas sero essencialmente maneiras diversas de apreender e de conceituar
os elementos relevantes desta experincia. Isto as coloca na dependncia de processos que as
condicionam sem que elas necessariamente se dem conta disso, de onde o interesse epistemo-
lgico em discernir quais so e como operam tais processos.
Ora, a tese do autor que o psicolgico se constitui sob a gide de um projeto epis-
temolgico no qual no tem cabida o projeto de matematizao do sujeito iniciado com Descar-
tes. Neste projeto, o objetivo constituir um sujeito livre de toda escria de singularidade,
entendida como fonte de erro e de parcialidade na compreenso cientifica do mundo. Mas
precisamente esta singularidade que constitui o prprio da psicologia, enquanto saber sobre a
experincia que o sujeito tem de si: de onde um "desencontro radical" entre projeto epistemolgico
moderno e os saberes psicolgicos e sociolgicos que se constituem nas suas margens ou nas
suas entrelinhas (p. 21). De onde tambm um intil e pernicioso esforo desses saberes para se
adequarem aos cnones da cientificidade definidos por aquele projeto: a essa espcie de maso-
quismo que se compraz na condenao de si pelos tribunais da epistemologia, no exato momen-
to em que vacilam as certezas sobre as quais se erigia o projeto epistemolgico de construir um
sujeito assptico e expurgado dos vcios da carne, Figueiredo reserva o epteto sarcstico de
"martirizante lavaps", sugerindo que cabe psicologia (no caso representada pela psicanlise)
"... contrapor sua compreenso da subjetividade s vises ingnuas e idealizadas da subjetivida-
de que impregnam em maior ou menor medida os pensamentos epistemolgicos" (p. 22). Esta
mesma postura o conduz a deslocar o foco de suas indagaes daquilo que costuma ser uma
discusso to estril quanto incua: a da maior ou menor 'cientificidade' dos discursos psicol-
gicos, cientificidade sempre medida por um critrio que ignora o cerne mesmo do objeto que
pretende avaliar - a saber, que o campo psicolgico constitudo pelas dimenses da subjetivi-
dade excluidas a priori pela inteno de purificar o sujeito e torn-lo compatvel com o projeto
epistemolgico dominante. A esta questo so dedicadas pginas muito esclarecedoras no pri-
meiro artigo do livro, 'Os lugares da psicologia', que retomam e ampliam a ideia de um "terri-
trio da ignorncia" que precisamente o espao do psicolgico.
Contudo, este territrio no inteiramente opaco: nele se discernem trs eixos ou plos
axiolgicos que balizam os processos de constituio das subjetividades: o liberal, o romntico
e o disciplinar (p. 27 et seqs.). Segundo o autor, dos compromissos e alianas entre esses eixos
formam-se os lugares de onde emergem os processos contemporneos de subjetivao: cada um
desses lugares engendra uma identidade e um inconsciente especficos. Isto significa que se
originam "campos de representao possveis" e "conjuntos de aspectos que se mantm fora do
campo da representao e do experimentvel" (p. 29). A esses lugares, Figueiredo denomina o
"metafenomenaP'que determina os sentidos ocultos e as condies daquilo que se d na expe-
rincia do sujeito.
Ora, precisamente a este metafenomenal que se dirigem as teorias e as prticas psicol-
gicas, sendo exigvel delas que possam estabelecer uma "ponte" entre o fenmeno e o "seu"
122
metafenomenal: o psicolgico deve valorizar a experincia imediata, mas no pode se deixar
fascinar por ela.
Todo trabalho de esclarecimento conceituai do autor visa manter juntos, como se v, os
diversos fios de uma trama constantemente em risco de esgarar. As metforas da "ponte" e do
"trnsito" servem, em sua estratgia, para aproximar sem confundir planos que correm o perigo
de se autonomizar, num movimento centrfugo, ou de se dissolverem uns nos outros, no movi-
mento oposto. E o caso das teorias e de seus lugares de emergncia, como tambm, no quinto
ensaio, o da relao entre a teoria e a prtica da clinica, ou, no quarto, da temtica da inter e da
transdisciplinaridade. A imagem da ponte apta a sugerir o espao necessrio entre margens
que precisam ser ligadas sem por isto perder sua posio em lados opostos do rio; ela
contrabalanada por uma outra metfora, a da tenso, que aparece igualmente em pontos deci-
sivos do argumento. Um exemplo, entre outros, a discusso das relaes entre teoria e prtica
no quinto ensaio, 'Teorias e prticas na psicologia clnica'. Aqui o velho tema da aplicao da
teoria na prtica versus a transformao da prtica em teoria se v deslocado em favor de uma
descrio que enfatiza a irredutibilidade dos dois territrios - nem a prtica inteiramente
teorizvel, nem a teoria inteiramente conversvel em prtica; irredutibilidade que ressalta ainda
mais a necessidade do trnsito, da ponte entre elas. O que confere interesse especial discusso
deste quinto ensaio a tese de que a teoria, alm de poder funcionar como instrumento de
configurao dos fenmenos (um pouco como os esquemas da imaginao transcendental de
Kant, que servem para vincular o diverso intudo pela sensibilidade aos conceitos do entendi-
mento puro), deve e pode ter o papel de criticar a prtica, nela introduzindo um tempo de
questionamento e uma possibilidade de encontro com o novo. Deslocar esta funo do seu locus
habitual - a intuio, a empatia, a sensibilidade, etc. do terapeuta - no um dos mritos meno-
res deste texto, que revela tambm as preocupaes do professor com a carncia, no currculo
das escolas de psicologia, de disciplinas que favoream a aquisio da capacidade de escrever
uma histria clnica - exatamente o tipo de dispositivo representacional mais adequado para
manter um "nvel timo de tenso" entre no-coincidncia da teoria e da prtica e a necessria
pertinncia de uma outra (p. 93 e 94 em especial).
O interesse por aquilo que efetivmente se faz no mbito da psicologia, em vez de ponti-
ficar sobre o que se deveria fazer a partir de consideraes dogmticas acerca da atitude cient-
fica ou do que for, transparece igualmente no segundo e no quarto ensaios, dedicados figura
do psiclogo clnico e interdisciplinaridade no conhecimento psicolgico. Aqui transparece o
reconhecimento de que, apesar das divises departamentais, o que torna realmente atraente a
psicologia a sua faceta clnica, aquela pela qual a experincia subjetiva pode ser interrogada
pelo mtodo sui generis que impregna a prtica clinica- embora o autor advirta, com razo,"que
nem tudo na prtica clnica se reduz ao "mtodo clnico".
No o caso de valorizar nem de desvalorizar esta ou aquela rea da investigao psico-
lgica, seja ela educacional, social, do desenvolvimento, etc. Tais querelas no atraem o interes-
se nem do autor nem, de resto, do seu leitor. O importante a derivao lgica do campo clnico
como aquele no qual as psicologias tm algo realmente a dizer, derivao lgica se se aceitarem
os pressupostos mais radicais da concepo de Figueiredo. Estes pressupostos - que delineei
brevemente no incio desta resenha - apontam para a clnica como territrio no qual o "espao
psicolgico" se manifesta e pode ser apreendido pelo fato simples e bruto de que os processos
123
de subjetivao contemporneos esto expostos a crises, fracassos e impasses, em virtude de
fatores que no so, eles mesmos, apenas psicolgicos, mas revelam do socius tomado em seu
conjunto.
Por esta razo, o interesse atual do autor nas doutrinas e prticas da psicologia no tanto
de ordem epistemolgica, mas de ordem tica; por esta razo se justifica o subtitulo de seu livro,
"Da epistemologia tica', e por esta razo o mais importante dos ensaios nele coligidos o
terceiro, intitulado - um tanto alusivamente - 'tica, sade e prticas alternativas'. A chave para
compreender o alcance deste texto est no final do primeiro, quando o autor define o que chama
de ethos de uma teoria psicolgica: "a morada que oferece ao homem neste final de sculo". Em
sua concepo, alm dos compromissos entre liberalismo, romantismo e disciplinas que carac-
terizam cada teoria psicolgica (cuja investigao e elucidao ainda podem ser concebidas
como uma tarefa da epistemologia, mesmo sendo uma "epistemologia fraca"), cada uma delas
concebe de modo diferente tanto o campo das representaes e das experincias em que algum
pode se reconhecer (a esfera da identidade), quanto o campo do vedado, resistente e obscuro
representao e experincia (a esfera do inconsciente), quanto ainda o trnsito (mais uma vez
esta imagem) entre ambos os campos. o tipo de soluo a este problema oferecido por cada
teoria que permite no mais a sentena epistemolgica, mas a avaliao tica apropriada a ela.
Tornou-se moda, a partir de Lacan, dizer que a psicanlise - e por extenso toda prtica
clnica - no tem um estatuto cientifico, mas , ou deseja ser, uma 'tica'. A quantidade de
tolices que se podem ler a este respeito faz ressaltar ainda mais a importncia do que escreve
Luis Cludio Figueiredo sobre o assunto, a partir da ideia do ethos de cada doutrina como
morada e habitat para o homem. Isto porque no se furta a definir um critrio de avaliao e de
escolha, em termos inclusive de melhor e de pior, dessas diferentes moradas: tarefa de uma
teoria psicolgica "reconhecer e acolher a experincia do sujeito", mas tambm tarefa sua
"desconstruir o reino das identidades e das representaes deste sujeito", a partir do seu prprio
(da teoria) ngulo de apreenso do metafenomenal (p. 31). E ainda mais explicitamente: "...
melhor uma teoria que teorize a ciso - do que uma que nos mantenha na iluso de uma unidade
do sujeito e de uma soberania e transparncia da conscincia - e melhor uma teoria que teorize
e propicie o trnsito - ao invs de uma que se estabelea rigidamente num dos lugares dispon-
veis, impedindo-se o contato com todos os impensveis que deste lugar so constitudos" (p. 33,
grifos do autor). O critrio de avaliao ento a forma pela qual a teoria e a prtica para a qual
ela pertinente contribuem para a preservao ou para a desmontagem das iluses narcsicas
fomentadas pelos diversos plos organizadores da subjetivao - seja a autonomia supramundana
advogada pelo liberalismo, seja pela espontaneidade expressiva idealizada pelo romantismo,
seja ainda a legitimao das formas de poder incidentes sobre os sujeitos favorecida pela pers-
pectiva disciplinar.
Retraando por um lado uma interessantssima histria das ticas, e por outro situando na
esfera tica (e no na esfera da impossvel legitimao cientfica) a oposio entre "psicologias
oficiais" e "prticas alternativas", o autor acaba por instituir um critrio para a avaliao tica
das teorias e das prticas correntes na clnica psicolgica: este critrio a capacidade de acolher,
tematizar e interpretar as tenses e os conflitos, sem ceder tentao de silenci-los por meio de
uma resposta di reta "demanda de familiarizao". O problema de fato central em toda prtica
clnica, alternativa ou no: a "morada do homem" tornou-se inspita, aps a evoluo (e a
124
falncia) de diversos sistemas e cdigos de tica ao longo da histria. O "sobrevivente" - rela-
cionado ao que Christopher Lasch denominou o "mnimo eu" - busca a reconstituio de um
espao onde possa "habitar serenamente", onde possa repousar sua angstia e reconstruir a
calma do abrigo sem a qual no possvel pensar nem existir. Esta demanda legtima, como
mostra Figueiredo a partir de uma bela leitura de Heidegger; mas no so legtimas todas as
formas de lidar com ela, especialmente as que tentam acalm-la pela resposta direta e pelo
aconchego imaginrio. Aplicado s prticas alternativas, este critrio as julga com severidade
(embora o autor fale, eufemisticamente, em "problematiz-las"). Mas o importante que ele
serve tambm para avaliar as psicologias "oficiais", e neste ponto Lus Cludio se compromete
implicitamente com a psicanlise, tida como a prtica que mais longe foi no sentido de "reco-
nhecer a demanda de familiarizao para nome-la, interpret-la, elabor-la. Nesta forma de
lidar com a demanda de familiaridade tentar-se-ia, simultaneamente, oferecer o familiar e pro-
piciar a admisso do e o encontro com o estranho: o estranho dos outros e principalmente o
estranho de/em cada um" (p. 72). certo que a psicanlise no nomeada por extenso nesta
pgina, mas seria difcil no vislumbr-la por meio dos difanos vus da 'nomeao', da 'inter-
pretao' e da 'elaborao'. No qualquer psicanlise, porm; as afinidades eletivas de Figueiredo
o conduzem para o ethos, associado, entre outros, com o trabalho de Pierre Fedida, no por
acaso um leitor de Heidegger e autor de um importante texto sobre a linguagem, cujo eixo o
livro deste filsofo A caminho da linguagem (Unterwegs zur Sprache).
A natureza do critrio pelo qual prticas e teorias so julgadas melhores ou piores - sua
aptido para identificar e dissolver as iluses do narcisismo - um outro ponto pelo qual se
vislumbra o lugar "de onde fala" (para usar um termo caro tradio foucaltiana) o autor. Este
lugar certamente prximo da psicanlise - pelos motivos que acabei de aduzir, e tambm
porque o narcisismo, cujas iluses devem ser alvo do bom discurso psicolgico, sobre ser um
conceito proveniente da psicanlise, considerado por Lus Cludio como um elemento da
realidade e no apenas como um 'construto' terico. Dito de outro modo, o construtivismo
epistemolgico encontra aqui um dos seus limites: sem que seja preciso fazer concesses a
"teoria da verdade por correspondncia" criticada no primeiro ensaio, o recurso ao narcisismo
mostra como entre o conceito e aquilo de que ele conceito o lao mais ntimo do que uma
mera conveno. Pois seria demasiado arriscado fazer repousar o critrio de avaliao tica, e
portanto todo o edifcio cuidadosamente montado ao longo do livro, sobre um fundamento
puramente arbitrrio.
Esta questo abre para outras, de tipo mais filosfico; aqui posso somente indic-las,
reservando para outra oportunidade uma discusso mais aprofundada. Duas delas merecem aten-
o: a do convencionalismo e a da polmica antiiluminista.
O pensamento de Figueiredo visivelmente tributrio da tradio marxista na qual se
formou; ainda que este marxismo seja refinado e elegante - no se esperem da sua pena grosse-
rias sobre o reflexo da infra-estrutura na superestrutura - dele que provm o princpio de
intelegibilidade de toda a sua construo: a psicologia tem matrizes e estas matrizes so sociais,
num sentido amplo e ao mesmo tempo preciso. A determinao orientada do social para o
representacional e no inversamente, mesmo qu, como disse no incio, a percia dialtica e o
senso crtico do autor estejam constantemente em ao para evitar os reducionismos que, de to
frequentes na sua famlia intelectual de origem, acabaram quase por desmoraliz-la. Pois bem:
125
esta raiz no marxismo combina-se com a atrao pelo pragmatismo de autores como Rorty,
Goodman e Dewey, e pelas concepes de Wittgenstein e de Heidegger. O autor, sabiamente,
nos previne de que no possvel nenhuma sntese fcil entre os componentes deste grupo
aparentemente heterclito - mas os rene sob a gide de um "... movimento multifacetado (...)
de superao da hegemonia do pensamento representacional e da noo de verdade por ade-
quao ou correspondncia (p. 23, grifos no original). O prprio desse movimento antimoderno,
para cujas nuances internas est sem dvida atento (p. 25-26), a tese de que as linguagens so
o "... meio universal da experincia, na qual objetos e sujeitos se constituem - vindo a ser - e se
encontram uns com os outros" (p. 26).
A ideiade que as linguagens so o meio universal da experincia conduz diretamente
ideiade uma eficcia constitutiva da fala, a qual confere a esta a sua dimenso tica; estamos
portanto em pleno centro do argumento, e, com efeito, nas linhas seguintes da pgina 26
Figueiredo falar nas teorias psicolgicas como "instalaes do humano", no s como modos
de representar o psicolgico, mas igualmente como dispositivos aptos a "... configurar e consti-
tuir tanto os homens quanto seus mundos - suas moradas, tanto os sujeitos como seus objetos,
tanto as experincias sociais como as experincias privadas e 'subjetivas 'de cada indivduo"
(grifo meu). Coloca-se assim um curioso problema: numa vertente mais tradicional, o consti-
tuinte o processo social - a via tomada, por exemplo, em A inveno do psicolgico e
resumida no inicio da p. 27; numa outra vertente, o constituinte so os jogos de linguagem, que
inclusive configuram e conformam "as experincias sociais". Tudo se passa como se Lus Clu-
dio oscilasse entre uma concepo marxista e uma concepo construtivista - para dizer as
coisas esquemtica e simplificadamente - e procurasse temperar os riscos de reducionismo pre-
sentes em cada uma delas com o que considera verdadeiro e valioso na outra. No creio que isto
seja um defeito, nem lhe cobro uma deciso prematura e desnecessria; descrevo uma questo
que, me parece, tem origem no que gostaria de denominar "o problema da representao".
Ao identificar "pensamento representacional" e "teoria da verdade como adequao",
talvez o autor esteja descartando de modo excessivamente rpido outras possibilidades de en-
tendimento do que seja a representao. Esta no precisa necessariamente estar subordinada
metafsica cartesiana nem ao "projeto epistemolgico" que nela se origina; na prpria filosofia
marxista, como em seu antecedente hegeliano, a representao no obra do sujeito epistmico
diante do objeto isolado, mas sedimentao de experincias coletivas e eventualmente conflitivas
(pense-se no segundo volume da Fenomenologia do espirito ou na teoria da ideologia tanto do
jovem como do velho Marx). Da mesma forma, a noo" psicanaltica de representao no
pertence esfera cognitiva de corte cartesiano, mas introduz a ideiade um objeto que atua sobre
o sujeito no plano afetivo e tem impacto sobre a regulao do seu nvel de angstia: as represen-
taes inconscientes do pnis castrvel ou do seio perseguidor no dependem nem da abstrao
de atributos do objeto, maneira de Aristteles, nem da evidncia garantida pelo Deus veraz,
maneira de Descartes. Tudo indica que, a partir de uma crtica bem fundamentada teoria da
correspondncia, Lus Cludio acaba por abandonar um conceito que, reposto num contexto
mais rico, poderia lhe prestar bons servios, bastando para isso desvincular a representao do
"projeto epistemolgico moderno" de cujas insuficincias suas anlises nos convence sem difi-
culdades. Desta forma, uma ideiaa meu ver demasiado estreita da representao o leva a procu-
rar, do lado dos autores que efetuam a crtica do projeto moderno, algo que talvez esteja mais
126
mo na vertente dialtica deste mesmo projeto.
Isto nos conduz ao segundo problema a que me referi: o do antiiluminismo programtico.
Sob a rubrica da modernidade, Figueiredo se refere constantemente ao que ela exclui - em
especial a sua prpria gnese e o avesso dela mesma, a singularidade carnal do sujeito. De fato,
a modernidade no foi capaz de elaborar uma psicologia, na medida mesma em que o campo do
psicolgico permanece como o seu impensado e impensvel. Mas h um aspecto da modernidade
que permanece exterior s consideraes do autor, embora impregne do comeo ao fim toda a
sua perspectiva: a inteno libertria e emancipadora. Que o sculo XVIII a tenha acoplado a
um ideal de racionalidade intelectual e poltica, que o sculo XIX a tenha vinculado a uma ideia
de cincia hoje considerada ingnua e estreita so fatos indiscutveis, e a leitura minuciosa que
Lus Cludio faz desses perodos e dessas concepes no deixa margem a dvidas. Porm
uma conquista da modernidade, em especial do Iluminismo, a tese de que a liberdade para
todos, e que a superstio deve ser combatida porque um mal em si, limitadora das
potencialidades do humano. Ora, o que exigncia tica de Luis Cludio, o que a critica
implacvel s iluses da prpria psicologia, o que o critrio do melhor e do pior segundo a
"tarefa desilusionadora" do conhecimento, seno um tributo a uma modernidade menos naive
em seus preconceitos, porm mais segura em seus ideais?
Talvez o prprio uso da tica como instrumento avaliador e genealgico seja uma herana
iluminista, temperada pelo ethos marxista que vinculava liberdade e conhecimento das leis da
histria, conhecimento cuja finalidade era transformar a condio humana Certamente, Figueiredo
tem a sobriedade dos contemporneos; nada menos ingnuo do que seus refinados instrumentos
de anlise, nada menos esquemtico do que a ponderao dos diversos fatores que tornam com-
plexa a srie de questes sobre as quais se debrua. Mas, no trajeto "da epistemologia tica"
balizado pelos artigos de seu novo livro, est implcita uma dvida com o pensamento iluminista
e com os sentidos mais dramticos da divisa kantiana: Sapere Aude, ousa conhecer - conhecer
aquilo que, em ns e no mundo, atemoriza e angustia: o. avesso das nossas ideias e das nossas
experincias. uma leitura da psicanlise guiada pela reflexo heideggeriana que - como ter-
ceira linha de pesquisa - Lus Cludio Figueiredo vem buscando elementos para desenvolver
seu projeto. Que desta incurso pelo 'outro lado do espelho' resultem textos to instigantes
quanto os que compem o pequeno volume aqui resenhado.
127
A ESQUIVA NOO DE REALIDADE: DILOGO COM NELSON COELHO JR.
Elisa Mana Ulhoa Cintra*
J no fim de sua vida, Freud dedicou dois captulos do Esboo de psicanlise ao estudo
da relao entre o mundo interior e exterior. Essas ltimas preocupaes "condensam admira-
velmente o conjunto de uma obra e de uma vida" (Le Guen'), e por si s falam da importncia
que a concepo de realidade desempenhou na teorizao freudiana A oposio entre 'realida-
de interior' e 'realidade exterior', que atravessa toda a obra freudiana, uma maneira sinttica
de falar do processo defensivo, dos mecanismos de defesa e da noo fundamental de conflito
- o que j o suficiente para apontar o lugar central dessas questes em sua obra.
Em sua tese de doutorado, intitulada A fora da realidade na clnica freudiana, Nelson
Coelho Jr. estava tambm submetido a esta exigncia incessante de determinar os limites, as
inter-relaes e as coexistencias possveis entre a realidade psquica e a realidade exterior.
Nelson Coelho parecia, de inicio, motivado por uma questo fundamentalmente clnica,
a partir da qual foi sendo reenviado a questes tericas bsicas, do interesse de qualquer psica-
nalista. Pensando em sua prtica clnica, era s vezes levado a cogitar se no estaria se afastando
da escuta propriamente analtica. Isto acontecia quando se sentia chamado a prestar ateno s
irrupes do mundo exterior real no setting, ao mesmo tempo em que uma voz interiorizada a
partir de leituras e supervises recomendava-lhe privilegiar o conflito psquico do paciente,
interditando o interesse por aquilo que vinha do mundo exterior. Estas situaes suscitaram
dvidas acerca do ato de psicanalisar e sobre a maneira pela qual o prprio Freud teria resolvi-
do esses impasses, atraindo-o para aquilo que considero o "complexo nuclear da psicanlise"
(Le Guen): o conflito entre ego e realidade, seja a realidade psquica ou a 'realidade exterior',
social, histrica - por mais imprecisos que soem tais termos.
Embora a citao de Freud usada como epgrafe da tese
2
introduza o termo realidade
como equivalente a 'mundo exterior', o autor deixa claro no desconhecer as ambiguidades da
noo de realidade, suas mltiplas interpretaes e significaes possveis dentro da obra de
Freud e, naturalmente, fora dela, na filosofia inteira. Inicia a discusso no mesmo ponto onde
Freud iniciou, isto , a partir de uma noo de realidade extrada do senso comum e expondo a
exigncia prtica desta noo, imposta pelo cotidiano de sua clnica:
Fui ensinado a pensar a realidade sempre como sendo pano de fundo
de uma experincia clnica que tem seu foco no conflito psquico do
paciente, nas suas diversas formas de expresso. Mas em muitas situa-
Psicanalista, mestre e doutoranda no Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicologia Clnica da
PUC-SP.
129
es, em funo das mais diversas circunstncias, tenho me deparado
com uma realidade que toma corpo e que saindo do fundo, torna-se
figura, para usar a expresso dos gestaltistas (p. 11-12).
Se o seu ponto de partida uma noo de realidade extrada do senso comum, seu
objetivo foi o de pesquisar os desdobramentos da questo dentro da psicanlise, pensando a
realidade como codificao ideolgica e histrica e no submetendo-a a um estudo critico e
filosfico. Define assim os objetivos de seu trabalho:
Tenho como perspectiva um objetivo amplo, que estabelecer o sen-
tido que a noo e a presena da realidade possuem no trabalho clini-
co, mais particularmente em uma clinica que tem suas origens nas pro-
postas de Freud. Este estudo se inicia com um levantamento detalhado
das diferentes utilizaes da noo de realidade na obra de Freud. Em
um segundo capitulo, procuro caracterizar a tematiza&o e o uso da
realidade em dois casos clnicos de Freud, o caso Dora e o caso do
Homem dos Ratos. Um ltimo captulo dedicado ao estudo de situa-
es de meu trabalho clnico, buscando assim a articulao necessria
entre a teoria e a prtica (p. 14).
As questes levantadas, tais como "a clnica nos ensina (ao analista e ao paciente) algu-
ma coisa sobre a realidade?", ou "a que realidade dirigimos nossa escuta?", ou ainda, "a partir de
que concepo de realidade construmos nossas falas, interpretaes ou pontuaes?" deixam
entrever interrogaes sobre a prtica analtica e o desejo de esclarecer o mago deste fazer.
Nelson Coelho Jr. especifica ainda mais a sua direo: "O que me proponho contri-
buir para que a multiplicidade (de noes de realidade) no se limite a um carter de diversidade
incomunicvel; pretendo estabelecer eixos que permitam uma descrio rigorosa do que vem a
ser a realidade na prtica clnica" (p. 16).
Se h psicanalistas que abordam elementos de realidade reduzindo-os a atuaes ou
interpretando-os transferencialmente como desvios, parece-me que Nelson Coelho Jr. contra-
pe-se a esta tendncia reducionista e simplificadora. Supondo, ento, que alguns de seus
interlocutores imaginrios sejam os que aconselham escutar apenas o conflito psquico do pa-
ciente, creio que as questes de Nelson Coelho Jr. tm como objetivo retomar as premissas da
discusso, e antes de chegar a uma resposta, recolocar os termos do problema exclusivamente
a partir da obra de Freud - ponto de origem dessas controvrsias.
O primeiro captulo, dedicado a rastrear o conceito de realidade na obra freudiana,
apresenta os quatro eixos de anlise em que esta questo pode ser trabalhada. No primeiro eixo,
'Signo de realidade ou possibilidade de uma representao verdadeira da realidade', a velha
questo filosfica da possibilidade de conhecimento da realidade retomada pelo autor a partir
de Freud, desde os mais antigos textos do 'Projeto para neurlogos'. No segundo eixo, 'Fuga da
realidade e fuga para a realidade', so estudados fenmenos como a alucinao e o delrio para
exemplificar a dificuldade de lidar com experincias de frustrao em neurticos e psicticos.
So mencionadas a 'fuga, recusa, perda, negao ou abandono da realidade' como mecanismos
de defesa diante da insuportabilidade da realidade e as ideias freudianas que diferenciam a
neurose (em que o ego, por meio de uma aliana da fantasia com o mundo real, confere sentido
simblico a este ltimo), da psicose, na qual a realidade inteiramente substituda pelo mundo
130
da fantasia. No terceiro eixo,' Ativo diante da realidade e passivo diante da realidade', Nelson
Coelho Jr. discorre sobre os textos em que Freud fala da atividade artstica e do humor como
rebeldia as coeres da realidade e como tentativas de conciliar os princpios de prazer e reali-
dade. Comparando diversos mecanismos sublimatrios com o recalque (tido como favorecedor
da adaptao realidade), recorda que Freud alude a uma funo mais elevada do ego, capaz de
abrir um espao de deciso entre o quanto controlar do mundo das paixes e o quanto se subme-
ter ao mundo exterior. Fica implcito que os diversos mecanismos de defesa esto mais prxi-
mos do 'plo passivo diante da realidade', enquanto a sublimao encontra-se mais prxima do
'plo ativo', pois capaz de transform-la. No quarto eixo 'Realidade externa e a realidade
psquica, Nelson Coelho Jr. mostra que, desde o incio de sua obra, Freud prope estabelecer
uma distino entre excitaes internas e externas. O mundo interno, da realidade psquica, da
fantasia e do desejo, seria diferenciado da realidade exterior e objetiva por meio de signos de
qualidade, 'destinados a servir na distino entre os investimentos-percepo real-objetivos e
os investimentos-desejo'. Percorrendo desde os textos iniciais como o 'Projeto para neurlogos',
at os derradeiros como 'Anlise terminvel e interminvel', Coelho Jr. faz uma compilao
bastante ampla dos pontos da obra freudiana em que emergiram questes ligadas realidade
psquica e externa
Nos captulos dedicados aos casos clnicos, o autor faz um levantamento abrangente
das informaes sobre a vida de Dora e do Homem dos Ratos a que Freud tinha acesso; e reflete
sobre a maneira pela qual ele "se serve clinicamente do conhecimento da realidade histrica,
dos eventos da histria de vida dos pacientes"; estuda tambm de que modo esses conhecimen-
tos vo sendo tecidos na trama transferencial. Neste ponto, um dos aspectos mais interessantes
foi o trabalho de desconstruo de algumas interpretaes do analista Freud, expondo as asso-
ciaes e os elementos de histria de vida do paciente que estavam agindo na construo das
interpretaes. Embora j o saibamos, interessante ver isto tornar-se to evidente no trabalho
analtico de Freud: um analista s pode trabalhar a partir do que tem, suas associaes; isto
ajuda tambm a desmistificar uma pretenso neutralidade do analista, correlata negao de
que o analista como pessoa encontra-se implicado no processo de analisar.
No terceiro capitulo, Nelson Coelho expe dois de seus casos em um impecvel estilo
de narrativa clnica, o que torna muito agradvel a leitura. Intercalando aspectos do caso com
suas associaes e referncias a textos de Piera Aulagnier, Monique Schneider, Renato Mezan,
Merleau-Ponty, Winnicott, Maurice Dayan e Pierre Fedida, ele nos d uma excelente demons-
trao do que chama de 'trabalho de escuta reflexiva', aberta ao desconhecido e que se aproxi-
ma muito do trabalho de teorizao flutuante proposto por Aulagnier.
Toda esta reflexo, por intermdio dos escritos e casos freudianos e de sua prpria
clnica, levou o autor necessidade de propor um novo conceito, o de 'realidade clinica', em
busca de ultrapassar a oposio entre realidade psquica e exterior. A ideia de que na realidade
clinica h um entrecruzamento de mltiplas realidades leva-o a considerar as noes de realida-
de psquica e exterior como insuficientes para dar conta da situao teraputica Ele acredita que
"... uma teoria especifica sobre as formas de se lidar com os diferentes planos de presena da
realidade no contexto clinico ainda est para ser desenvolvida". Mais adiante, na concluso do
trabalho, encontramos outras referncias ao conceito de realidade clnica; neste momento pro-
pe nveis ou planos de realidade simultaneamente presentes no setting analtico:
131
A Realidade Clinica uma e muitas ao mesmo tempo. psquica e
externa ao mesmo tempo. a simultaneidade de percepes, afetos e
pensamentos. simultaneidade. Passado, presente e futuro ressituam-
se em um contexto criativo onde as rgidas fronteiras do lugar possi-
bilidade de circulao, possibilidade do movimento (p. 201-202).
O convite a desenvolver uma teoria especfica sobre a 'realidade clnica' pode, talvez,
ser tomada como uma 'advertncia reguladora' e, na verdade, esta foi a nica maneira pela qual
se tomou compreensvel para mim. Como toda teoria psicanaltica tem seu solo de origem na
'realidade clnica', ela no deve ser isolada de suas condies de surgimento, pois corre o risco
de perder toda validade; ela no pode pretender descrever de modo realista ou naturalista o que
se passa no psiquismo. Neste sentido, concordo que preciso sempre lembrar que a realidade
clinica foi e continuar sendo o ambiente por excelncia de surgimento e renovao de toda
teoria psicanaltica vlida e, por isso mesmo, o seu tema privilegiado. Para alm da colocao
desses limites, no vejo necessidade de insistir na criao de um conceito como este (de realida-
de clnica), a no ser que esta insistncia esteja apontando para alguma outra necessidade, como
a de ultrapassar a simples oposio 'realidade psquica-realidade exterior'. Porm, o prprio
percurso da tese, sintetizando o pensamento de Freud, faz transparecer a presena de uma dialtica
fecunda entre os plos realidade exterior/psquica; se o que Nelson Coelho Jr. procura alguma
forma de superao dessa dicotomia, ela j est presente na obra de Freud, mais ou menos
aparente, e pedindo para continuar a ser trabalhada.
Lendo este trabalho, creio ouvir a todo momento que em toda fantasia h sempre um
ndulo irredutvel de realidade exterior e de realidade pulsional. Tambm no que se refere
realidade exterior, transparece a compreenso de que sempre construda, e que nesta constru-
o h participao inevitvel da fantasia As linhas de fora do desejo, atravessando uma hist-
ria de vida, vo exercendo limitaes s infinitas possibilidades de construo do mundo exte-
rior. Tambm a fantasia, sem as linhas de constrangimento que a realidade exterior lhe impe,
seria arbitrria, sem relevo, irrelevante, impossibilitada de encontrar um sentido. Trata-se por-
tanto de um duplo sistema de constrangimento, de determinao, de negao, presente em todos
esses textos de Freud.
Creio ser esta a contribuio maior da psicanlise antiqussima discusso da filosofia
com relao realidade: a de pensar a realidade como principio de negao, tirando dela seu
carter positivo, de coisa Como princpio de negao possibilidade do prazer, Freud criou o
princpio de realidade. Mas o mais decisivo para compreender a noo de realidade em psican-
lise tom-la como condio de possibilidade de todo 'dizer no', como um principio genrico
de negatividade, de toda futura atividade simblica, de toda futura constituio do desejo e de
toda futura possibilidade de transformao psquica.
Creio que Nelson Coelho Jr. realiza o que promete no inicio de sua tese: estudar as
noes de realidade presentes na obra de Freud, limitando-se a seus escritos. Fica, para mim, o
desejo de ver essas questes inseridas em um debate histrico em que tenham sido proble-
matizadas; como, por exemplo, a briga de Freud e Jung, que permite retomar a questo da
participao dos eventos reais na constituio da fantasia. No acho possvel abordar toda a
histria da psicanlise em uma nica tese, mas o prprio Nelson Coelho Jr. reconhece que os
debates anteriores em tomo de uma questo esto invisivelmente modelando a discusso atual.
132
Desejaria tambm que um dos captulos fosse dedicado a mostrar alguns caminhos pelos
quais, filosoficamente, o problema da realidade e o problema epistemolgico podem ser
desconstrudos. O objetivo no seria o de fazer uma segunda tese, mas o de apenas indicar um
dos possveis meios de desconstruo do problema como, por exemplo, o traje to empreendido
por Heiddegger no pargrafo 43 de Ser e tempo. Ao mostrar, ainda que brevemente, a possibi-
lidade de desconstruo da noo de realidade, possvel argumentar a favor das vantagens que
a psicanlise obteve ao no ter dissolvido este problema. E possvel demonstrar que o sofrimen-
to psquico cotidiano, este com o qual nos defrontamos na prpria vida e na dos pacientes,
sempre um trauma que teve origem na realidade social, no mundo de relaes com os outros;
preciso, pois, entender como uma 'realidade' o tecido social no qual foram engendrados os
traumas de perda de amor e entend-la no como uma coisa ou um ambiente, mas como um
princpio frustrador e traumatizante, que assinala a presena de um conflito em constante muta-
o. At mesmo para ultrapassar certos impasses traumticos, para oferecer ao conflito um
caminho de passagem, de circulao ou renovao preciso superar certas estratgias defensi-
vas que pocuram anular este conflito (como a recusa, a dissociao e os mecanismos psicticos
mais macios de rejeio da realidade).
Penso que esta foi a maior contribuio da psicanlise e de Freud questo da realidade:
o trabalho paciente, de uma vida inteira que se dedicou a observar como as pessoas aceitam ou
recusam, distorcem ou desconhecem a realidade, por meio de quais mecanismos elas o fazem,
como adoecem em consequncia de seu modo singular de fugir ao conflito e como podem ser
reconduzidas a viver e elaborar o conflito e a dor. Estudar, pois, os diversos mecanismos de
defesa comparando-os entre si, tentando extrair o que eles significam em termos de possveis
modos de constituir 'realidades' e tentando compreender as implicaes disto para a qualidade
de vida, a melhor maneira de fazer trabalhar a preciosa contribuio da psicanlise.
A fora da realidade na clnica freudiana testemunha que a psicanlise nunca se props
a mergulhar nos meandros do psiquismo como uma "coisa em si", mas que se debruou sobre
o significado da relao entre o 'mundo interno' e o 'outro'; assim, convida a trabalhar mais
profundamente a inter-relao entre dentro e fora, e abre tambm a uma meditao sobre as
relaes entre passado, presente e futuro. A tese poderia ter enfatizado mais a contribuio da
psicanlise para 'desrealizar' a prpria noo de realidade, convertendo-a em um princpio de
negatividade e aprofundando o caminho aberto por Andr Green, com o "trabalho do negativo".
Seu maior mrito levar diretamente ao centro da problemtica suscitada pela obra freudiana e
ao desejo de prosseguir investigando esta esquiva e flutuante ideia de 'realidade'.
Notas e referncias bibliogrficas
1. L E GUEN, Le refoulement (Les defenses), Revue Franoise de Psychanalyse, 50: 23-370,
1986.
2. "Aguarda-nos agora a tarefa de investigar o desenvolvimento da relao dos neurticos e dos
seres humanos em geral com a realidade e assim trazer para a estrutura, de nossas teorias o
significado psicolgico do mundo exterior real."
133
R E S E N H A S
A PSICOTERAPIA EM BUSCA DE DIONISO
NIETZSCHE VISITA FREUD
Paulo Csar Lopes
A psicoterapia em busca de Dioniso. Nietzsche visita Freud.
So Paulo, Escuta-Educ, 1994, p.147. (Linhas de Fuga.)
Vemos emergir, do encontro Naffah-Freud-
Nietzsche, a audaciosa proposta da construo
de uma psicoterapia genealgica; tal audcia,
por si s, j constitui uma atitude mpar no
campo das prticas clnicas. Naffah, atravs de
seu percurso nmade como psicoterapeuta
(psicodrama, psicanlise, filosofia) teorizando
neste livro, nos convoca a refletir o clinicar
como uma ao num campo intensivo. Para isso
o autor problematiza muitos dos conceitos cls-
sicos de diversas correntes 'psi', utilizando-se
de operadores conceituais extrados da filoso-
fia de Nietzsche.
A interlocuo com Nietzsche, mas tambm
com Espinosa, Deleuze, Guattari e outros, d
a Naffah, a meu ver, a possibilidade de se im-
plicar com o que seria um plano intensivo na
clnica. Esses autores foram, com efeito, con-
tundentes crticos das totalizaes, da moral,
da reduo do pensamento representao e
de toda e qualquer conceitualizao na qual a
vida e o ser sejam negligenciados de seu devir.
Especialmente, entre eles, Guattari e Deleuze
que, alm do trabalho filosfico nesta direo,
"... Dioniso deve ensinar os homens a
ver o que preciso ver: o mais evidente sob o
disfarce do mais invisvel. Mas o que mais
evidente e, ao mesmo tempo, mais invisvel?
O devir incessante do mundo, que subverte
todas as categorias lgicas ligadas
identidade, essncia " (p. 84).
desenvolveram tambm um amplo trabalho
acerca da clnica (conceituai e pragmtico), am-
pliando e problematizando as proposies psi-
canalticas.
Entre os momentos mais instigantes do li-
vro esto aqueles em que Naffah nos mostra a
importncia e o valor das foras subversivas,
do devir, da personalidade multifacetada - toda
uma visada que contribui para a emancipao
da existncia. A partir da, nossa compreenso
do psiquismo e tambm da clnica pode abrir-
se para os movimentos de singularizao, co-
mear a ganhar corpo em sua dimenso de
inventividade, de criao, de emergncia.
Gostaria de destacar aqui apenas trs movi-
mentos que me parecem especialmente impor-
tantes na construo deste livro.
No primeiro movimento, vemos a ideia de
personalidade sendo conceitualizada como: "O
conjunto de qualidades ou caractersticas sin-
gulares que definem a esfera das mscaras, se
entendermos por mscaras as mltiplas facetas
que compe uma subjetividade; (...) um cam-
po de lutas e conflitos onde diferentes circui-
135
tos de foras buscam o domnio e o controle
da psykh" (p. 73 e 75).
Esta personalidade-subjetividade, segundo
o autor constituir-se-ia de duas dimenses:
uma dimenso extensiva, que implicaria expe-
rincias circunstanciais, histricas, representa-
tivas e identificatrias, as quais estariam rela-
cionadas sobrevivncia e seriam comuns a
todos os indivduos; e uma dimenso de sin-
gularizao, remetida s intensidades: foras
plsticas e polivalentes, que fazem de cada
vida, cada ato, cada palavra, uma experincia
nica, um devir incomparvel.
No entanto, o que acontece na clnica que
nos vemos confrontados com uma dificuldade
ou at uma impossibilidade - e isso tem uma
longa trajetria histrica - dos indivduos em
conceberem-se como multiplicidade, devir,
experimentao, construo, dada a angstia e
o carter terrorstico que tal concepo da exis-
tncia pode produzir.
O segundo movimento acolher, justamen-
te, essa dimenso de captura da subjetividade
que muitas vezes engendrada por essa im-
possibilidade de suportar tal angstia e, disso,
decorreria grande parte das quedas em estado
de clnica. Da o entendimento de Naffah, da
psicopatologia como fruto das afeces pro-
duzidas nos seres vivos, em seus encontros,
acontecimentos nos quais se afetaram mutua-
mente. O carter doentio de tais afeces pro-
moveria uma despotencializao da capacida-
de de ao dos corpos/espritos em questo.
Alm disso, a proliferao da moral e da culpa
seriam grandes promotores da doena disse-
minada e posta como norma. Deste modo, te-
ramos caracterizado os estados de clnica.
Entender a psicopatologia dessa perspectiva
leva o autor a afirmar que: "E preciso assumir
que, na formao das neuroses, se no fosse o
carter moral das foras dominantes, impondo
cdigos s foras dominadas e as tornando
impotentes para alterar essa interpretao apri-
sionante - num processo de controle e disci-
plina do devir catico - dificilmente o confli-
to se cronificaria na forma de uma doena"
(p. 127).
Para finalizar, o terceiro movimento que
gostaria de destacar aquele no qual o autor
nos mostra como se realizaria o tratamento, de
que maneira se poderia intervir nessa subjeti-
vidade capturada, propondo sua concepo de
psicoterapia genealgica e/ou em busca de
Dioniso.
Neste sentido, a psicoterapia visaria o de-
senvolvimento ou o des-enredamento da vida
no desabrochar das suas formas, ou seja, sua
tarefa fundamental a de promover a trans-
mutao dos valores. O terapeuta seria um
instrumentador da mudana, ele serviria como
guia nessa viagem pelo devir. O trabalho te-
raputico consistiria, ento, em detectar, na
existncia do paciente, pontos onde atuam for-
as potencializadoras e tentar encontrar meios
para instrument-las em seu movimento sub-
versivo, fomentando, desse modo, a eterna
desconstruo-reconstruo da vida e a produ-
o de um devir possvel.
O psicoterapeuta-genealogista, segundo o
autor, ser um aliado incondicional das foras
subversivas, pois ele dever saber que so elas
que podem restabelecer a riqueza multifacetada
da subjetividade. A psicoterapia visaria ainda:
"... acolher os circuitos e mapear os fluxos que
os compem, discriminando as foras ativas e
as foras reativas, seus lugares, seu tipo de ao,
seu sentido genealgica (...) - no nos esque-
cendo, claro, que: todo mapeamento provi-
srio e parcial, na medida em que tenta carto-
grafar foras em devir"(p. 97 e 98).
Desta perspectiva, se podemos falar ainda
de interpretao, esta se efetuaria promoven-
do quebras nas crenas em representaes -
totalizadoras e constritivas das foras vivas -
que estariam impedindo a expanso da vida. A
interpretao, enquanto operador analtico na
136
clnica, visaria, ainda, a produo-construo
do sentido, e isto o que lhe daria sua dimen-
so genealgica.
A psicoterapia, assim concebida, dever
fundamentalmente funcionar como suporte
para as foras ativas, investindo-as sempre que
elas se anunciem. E a subjetividade ganha cam-
pos e respiradouros vitais, compostos de flexi-
bilidade, inveno e surpresa.
Paulo Csar Lopes psicanalista, mesurando no
Ncleo de Estudos e Pesquisas da Subjetividade,
Programa de Estudos Ps-Graduados em Psicolo-
gia Clnica da PUC-SP
PIERRE LEVY E O COLETIVO PENSANTE HOMEM-COISAS
Maurcio Mangueira
As tecnologias da inteligncia; o futuro do pensamento na era da informtica,
Pierre Levy. Trad. Carlos Irineu da Costa. Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993. p. 203.
No h dvidas que o homem hoje j se
encontra envolvido com a informtica. bem
verdade que ns brasileiros convivemos cm
esta nova tecnologia ainda de maneira quase
perifrica. A entrada dos microcomputadores,
computador pessoal, no mercado de massas,
no final da dcada de 1970, foi o grande co-
meo desse novo tempo bem como a mun-
dializao de um novo, o tempo real. Com a
mundializao desse novo dispositivo tecno-
lgico, talvez a humanidade tenha dado incio
a uma grande revoluo em sua histria, to
profunda como foi a revoluo neoltica, pois
essa nova tecnologia intelectual multi-miditica
ir reorganizar a viso de mundo de seus usu-
rios, bem como modificar seus reflexos men-
tais. Pelo menos isso o que pensa Pierre Levy
no livro As tecnologias da inteligncia; o fu-
turo do pensamento na era da informtica.
Neste primeiro livro traduzido para o por-
tugus, composto de uma introduo, trs ca-
ptulos e uma concluso, Levy percorre uma
problemtica interessante, atual, abrangente,
passando por vias as mais diversas, mas todas
conectadas, que dizem respeito produo do
pensamento humano, ou melhor, a produo
da humanidade e inumanidade do homem.
Pensar o homem, todos sabem, tarefa r-
dua. Mas o autor o faz de maneira simples, o
que no quer dizer fcil, e instigante. Para isto
ele percorre um amplo espectro dos conheci-
mentos atuais: os estudos da psicologia da cog-
nio, notadamente os trabalhos de Marvin
Minsky e sua tese do psiquismo como uma
sociedade cosmopolita; os de Howard Gardner
e sua teoria das vrias inteligncias; os de Jerry
Fodor, seguidor de Noam Chomsky, e suas
modularidades da mente; passa pelos estudos
antropolgicos de Walter Ong, Leroi-Gourhan,
Jack Goody, Robert Lafond, Mary Douglas e
tantos outros; estudos sociolgicos e histri-
cos, notadamente sociologia e histria das tc-
nicas e formas de representar; estudos se-
miticos e sistmicos, com Gregory Bateson;
137
e vai ao encontro de teses filosficas e politi-
cas desenvolvidas pelos pensadores Michel
Serres, Gilles Deleuze e Flix Guattari, auto-
res estes j bem conhecidos do pblico brasi-
leiro, principalmente dos leitores dos campos
psi e filosfico.
Se h um tema principal que percorre todo
o livro de Levy, podemos dizer que o do pa-
pel que tem as tecnologias da informao na
constituio das culturas e inteligncias dos
grupos. Talvez seja demais reput-lo tema prin-
cipal. Mais correto seria consider-lo um dos
ns da rede em questo, pois o prprio livro -
o leitor se dar conta - se compe de forma
rizomtica, apesar da tecnologia linear da es-
crita. Ora, com este n-tema todo um univer-
so de questes que se abre. Primeiro: como
conceber as produes tecnolgicas? Como se
do as relaes entre tcnica, politica e cultu-
ra? Ou, mais radicalmente ainda: o que cul-
tura ? O que a tcnica? Como viabilizar uma
tecnodemocracia? Em segundo lugar: existe
uma inteligncia para alm dos corpos indivi-
duais das pessoas? H uma inteligncia de gru-
po? Em terceiro lugar: e o pensamento, o que
? o mesmo que inteligncia? E o conheci-
mento nisso tudo, como fica? H conhecimen-
to objetivo? Ou melhor, h objetos e sujeitos
enquanto entes independentes, substncias iso-
ladas, como classicamente se pensava? Ainda
possvel sermos kantiano e acreditarmos que
o sujeito com suas formas a priori que d
inteligibilidade ao mundo? Ou sermos heideg-
geriano e acreditarmos que a cincia infal-
vel e a tcnica sempre eficaz ? E como pensar
a subjetividade e os processos de subjetivao
nesse encontro com a informtica? Ou antes,
j no seria a prpria informtica um efeito de
uma nova ecologia cognitiva, efeito de um
novo hipertexto j integrado com novas for-
mas de subjetividade? E como se do as cons-
trues dos universos de sentido? Tudo isso e
muito mais, Pierre Levy no se furta em se
colocar e responder. Melhor, ele pretende tra-
zer luz noite de todas essas aparentes velhas
questes, iluminando-as de dentro e por den-
tro desse corpo de silcio, dessa nova emer-
gncia scio-poltico- econmico-cultural que
a informtica.
Desde a Introduo vemos aparecer uma
srie de novos conceitos e de teses inusitadas
que o autor ir defender e desenvolver ao lon-
go da obra. No o caso retom-las todas aqui,
mas sublinharemos apenas oito que conside-
ramos mais importantes - se que h mais im-
portante (?) - , esperando que nosso interlocu-
tor se sinta concernido para a aventura de
retextualiz-las.
1. A tcnica uma das dimenses funda-
mentais da transformao do homem por ele
mesmo. Deste modo, ela nos obriga a pens-la
como um dos temas filosficos e polticos do
nosso tempo.
2. No h informtica em geral, nem es-
sncia congelada do computador; mas sim um
campo de novas tecnologias intelectuais, aber-
to, conflituoso e parcialmente indeterminado.
3. A filosofia poltica no pode ignorar a
cincia e a tcnica. A tcnica uma micropo-
ltica em atos.
4. O mito, a cincia, a teoria, a interpreta-
o ou a objetividade dependem intimamente
do uso histrico, datado e localizado de certas
tecnologias intelectuais.
5. Na histria do homem h uma sucesso
da oralidade, da escrita e da informtica como
modos fundamentais de gesto social do co-
nhecimento. Essa sucesso se d por comple-
xificao e deslocamentos de centros de gra-
vidade.
6. H uma ecologia cognitiva, isto , h um
coletivo pensante homem-coisas, povoado por
singularidades atuantes e subjetividades mu-
lantes longe tanto dos sujeitos exangues da
epistemologia quanto das estruturas.
7. H um inconsciente intelectual que en-
138
volve homem, coisas, equipamentos coletivos
de percepo, memria, comunicao, mode-
los, atos e matrias as mais variadas.
8. As tecnologias intelectuais esto fora dos
sujeitos como objetos tcnicos, entre os sujei-
tos como cdigos partilhados - textos que
circulam - , e nos sujeitos, na imaginao e
aprendizagen.
Deste modo, fica claro que o leitor tem
muito a aprender, refletir e pensar com as no-
vas terminologias, conceitos, ideias, informa-
es, em sntese, com todas as questes que
suscitam As tecnologias da inteligncia. Visto
seu abrangente leque de pesquisas - inform-
tica, psicologia, psicanlise, comunicao, po-
ltica, histria, antropologia, sociologia, em
suma, saberes e poderes que atravessam nos-
sa atualidade - , no temos dvidas que ele ir
interessar e ser til a todos aqueles que se preo-
cupam com o conhecimento e o devir da hu-
manidade, mesmo que muitos de ns, brasi-
leiros, estejamos distantes do silcio e prxi-
mos do barro.
Maurcio Mangueira psicoterapeuta, professor-
assistente da Universidade Federal de Sergipe, dou-
torando no Ncleo de Estudos e Pesquisa da Subje-
tividade do Programa de Estudos Ps-Graduados
em Psicologia Clnica da PUC-SP.
O 'ESTRANHO' LIVRO DE ELIANE FONSECA:
A GEOGRAFIA DA (IN)SENSATEZ DA PALAVRA
Fernando Teixeira Silva
A palavra insensata, Eliane Fonseca. So Paulo, Escuta, 1994. p. 132.
A palavra insensata, de Eliane Fonseca,
une a estranha convivncia de mltiplas expe-
rincias de devires: escritora, psicanalista e pes-
quisadora. Eliane produz no leitor um es-
tranhamento. Tal estranhamento, por vezes
desconfortante, comea j por seu ttulo: que
lgica h em dizer que numa s palavra possa
coexistir insensatez e sensatez? Mas o estra-
nhamento neste livro est presente tambm no
fio-mestre que direciona sua tessitura, qual seja,
a sensao de que h algo em comum no fazer
artstico e no fazer psicanaltico especificamen-
te em seus devires poeta e psicanalista.
Esse estranhamento, segundo a autora,
provocado por algo que ela chama de 'proce-
dimento esttico'. Procedimento que se sus-
tenta numa palavra de ordem: a suspenso do
sentido habitual das coisas, Isso significa di-
zer que tanto na arte como na sesso analtica
h transmutao da linguagem, ou seja, a pala-
vra devem outra coisa alm de seu significado
cotidiano, o discurso racionalmente estruturado
d lugar desrazo do discurso.
O devir-pesquisador em Eliane arrolando
as semelhanas e diferenas existentes entre os
territrios da psicanlise e da arte busca refu-
gio, a principio, na exposio dos estudos psi-
canalticos (Sigmund Freud, Das Umheim-
lisch) e estticos (Victor Chklovski, A arte co-
mo procedimento esttico) acerca do es-
tranhamento. Mas chega um momento no li-
vro que, dos estudos citados, guardamos ape-
139
nas uma lembrana alegre da memria triste.
que nesse momento a palavra da autora se
torna mais viva, mais alta, mais sensata, quase
um gaguejar que dispara um canto. quando
ela decide revelar seu mais intimo enigma: acre-
ditando que o devir-poeta e o devir-psicana-
lista esto submetidos mesma ordem de trans-
mutao das palavras que os obriga a construir
formas de sustentar, respectivamente, a sensa-
o potica e a vivncia puramente expressiva
do paciente, o devir-pesquisadora tentar, at
o fim do livro, construir uma forma sensao
de que possvel escutar uma sesso analtica
da mesma maneira que se l um poema
At aqui o leitor sabe que a matria-prima
comum ao devir-poeta e ao devir-psicanalista
a palavra. De um lado, o devir-poeta tem a
palavra escrita, e de outro lado, o devir-psica-
nalista tem a palavra falada. Eliane dir ento:
se ao poeta reservada a necessidade de saber
manejar as sensaes, ao psicanalista impos-
ta a necessidade de saber manejar a transfern-
cia. Logo, por meio das diversas maneiras de
realizar este manejo, resultam as novas possi-
bilidades de criao de formas belas e mto-
dos de trabalho. Mas o que ser que impede
que os terrenos da poesia e da psicanlise,
mesmo tendo a mesma matria-prima como
natureza, se confundam indistintamente? Este
, a meu ver, o momento no qual o devir-Eliane
se entrega ao caos, deixa-se ser invadida para
que retire do caos a forma possvel que susten-
te essa sua sensao de semelhanas e diferen-
as entre psicanlise e poesia
Assim como as crianas que, quando apa-
voradas lanam mo de ritornelos (cane-
zinhas) que as ajudem a sair de situaes de
muito medo, ou como os pssaros que cantam
para comunicar aos outros o seu territrio,
Eliane introduz tambm o seu ritornelo: o ideo-
grama chins. O ideograma chins o canto
de Eliane que serve para tirar o leitor do
impasse (poesia e psicanlise?), que esculpe a
forma criada por ela a sua sensao de estra-
nhamento e que, por fim, avisa ao leitor os li-
mites dos territrios da clinica de Eliane Fon-
seca: uma clinica que se localiza entre a poesia
e a psicanlise, uma clinica do estranho. O
ideograma chins seu ritornelo, seu endere-
o, e a escuta (in)sensata de Eliane sua mora-
da, o que define sua clinica e o que a coloca
entre a poesia e a psicanlise. Aqui, a arte j
no nos parece assunto dos deuses e nem
tampouco a psicanlise se assemelha a passa-
tempo para loucos.
Indubitavelmente, este um livro para o
gosto daqueles mais in-sensatos. Um livro que,
no que h de irnico, embala o leitor inocente
numa canozinha em direo ao caos provo-
cado pela suspenso dos sentidos habituais das
palavras, pela transmutao dessas palavras em
um devir-ideograma chins, um devir-poeta,
um devir-pesquisador; e, por fim, um livro que
desperta o leitor para a viso de um territrio
cartografado s"custas de sensibilidade de poe-
ta, de experincia de psicanalista, de coragem
e medo, de susto e pavor, de fragilidade e com-
petncia Ou seja, este livro ele prprio uma
cartografia micropolitica da in-sensatez de
Eliane Fonseca para com as palavras que, em
associao livre, se encadeiam no vento, na
ventania, e que do forma s sesses analticas
onde tudo pode vir a ser sonho. E ser que no
so mesmo sonho? Est posto, pois, o estra-
nho livro de Eliane Fonseca
Fernando Teixeira Silva psiclogo clnico, mes-
tre em em psicologia clnica pela PUC-SP e psic-
logo na Clinica de Urologia do Hospital das Cl-
nicas de SP.
140
E R R A T A S
Cadernos de Subjetividade
Nmero especial
pg. 1-160. 1994.
Pags. 5,9, l i e 40
Manoel Tosta Berlinck
Pag. 9
Psicanalista, socilogo, professor do Ncleo de
Estudos e Pesquisas em Psicanlise
Pg. 39
numa prova de histria a professora pergunta ao
meu tio: "O que fez Duarte da Costa pelo Brasil?"
Resposta: "O que pode." (risadas).
Pg. 101
...poderia ter sido." A existncia de Louis Al -
thusser...
Pg. 102
nessa h^ris herica ...
Pg. 113
ANN: ... Em todas as tragdias h sempre a hyris
do heri: uma desmesura, uma onipotncia. Entre-
tanto se a onipotncia s fosse capaz de produzir
onipotncia o tempo inteiro, de se perpetuar...
Pg. 114
ANN: ... da vida como mistrio. Como mistrio
quer dizer: como virtualidade prenhe de realiza-
es possveis.
Pg. 119
ANN: estou lembrando, Guto, dos tempos de fa-
culdade quando a gente...
Pg. 120
ANN: ...que o Nietzche dizia, que o seguinte: o
mundo que existe esse. No h outro. A vida pos-
svel essa. No h nenhuma outra. Ela pode ser
melhorada. Ela pode ser aprimorada. Ela pode ser
transmudada. Mas a existncia essa: a existn-
cia dilacerada entre lutas. No h nenhuma outra.
E R R A T A S
Cadernos de Subjetividade
Nmero especial
pg. 1-160. 1994.
Pgs. 5, 9, l l e 40
Manoel Tosta Berlinck
Pg. 9
Psicanalista, socil ogo, professor do Ncl eo de
Estudos e Pesquisas em Psicanlise
Pg. 39
numa prova de histria a professora pergunta ao
meu tio: "O que fez Duarte da Costa pelo Brasil?"
Resposta: "O que pode." (risadas).
Pg. 101
...poderia ter sido." A existncia de Louis Al -
thusser...
Pg. 102
nessa hyris herica ...
Pg. 113
ANN: ... Em todas as tragdias h sempre a hyris
do heri: uma desmesura, uma onipotncia. Entre-
tanto se a onipotncia s fosse capaz de produzir
onipotncia o tempo inteiro, de se perpetuar...
Pg. 114
ANN: ... da vida como mistrio. Como mistrio
quer dizer: como virtualidade prenhe de realiza-
es possveis.
Pg. 119
ANN: estou lembrando, Guto, dos tempos de fa-
culdade quando a gente...
Pg. 120
ANN: ...que o Nietzche dizia, que o seguinte: o
mundo que existe esse. No h outro. A vida pos-
svel essa. No h nenhuma outra. Ela pode ser
melhorada. Ela pode ser aprimorada. Ela pode ser
transmudada. Mas a existncia essa: a existn-
cia dilacerada entre lutas. No h nenhuma outra.
Você também pode gostar
- Por Que A Pulsão de Destruição Ou de Morte - Final 2 PDFDocumento95 páginasPor Que A Pulsão de Destruição Ou de Morte - Final 2 PDFCecília De Nichile100% (1)
- O Método Fácil para Largar A Pornografia (Hackauthor )Documento175 páginasO Método Fácil para Largar A Pornografia (Hackauthor )Felício Sobral100% (13)
- Principios Da Psicologia Fisiologica - Wilhelm Wundt PDFDocumento474 páginasPrincipios Da Psicologia Fisiologica - Wilhelm Wundt PDFEmerson Polo100% (2)
- Jaan Valsiner Cultura Na Mente e Na SociedadeDocumento478 páginasJaan Valsiner Cultura Na Mente e Na Sociedademilton.ba100% (1)
- Seve - 1969 1979 - MRX Teo Prs - V 1Documento235 páginasSeve - 1969 1979 - MRX Teo Prs - V 1Janaina Damasco Umbelino100% (1)
- Introdução Fenomenologia - Angela Ales Bello PDFDocumento96 páginasIntrodução Fenomenologia - Angela Ales Bello PDFsamuel1rodrigues-6100% (1)
- Currículo Na Educação Infantil e Anos IniciaisDocumento89 páginasCurrículo Na Educação Infantil e Anos IniciaisQueli RitterAinda não há avaliações
- Metodologia CientificaDocumento3 páginasMetodologia CientificaPatriciaAinda não há avaliações
- Cadernos de Subjetividade 1 (Dossiê Guattari)Documento136 páginasCadernos de Subjetividade 1 (Dossiê Guattari)Chana Carolina Patto Manfredini100% (1)
- BOTELHO, Danilo José Scalla. Espírito Livre em Nietzsche Um Logos Sofista Nova Diagnose e Destino À VerdadeDocumento122 páginasBOTELHO, Danilo José Scalla. Espírito Livre em Nietzsche Um Logos Sofista Nova Diagnose e Destino À VerdadeCleyton StefanelloAinda não há avaliações
- Por Que Uma Psicologia Clínica Histórico-CulturalDocumento22 páginasPor Que Uma Psicologia Clínica Histórico-CulturalRayza Couto LelisAinda não há avaliações
- Cadernos de Subjetividade PUC SP - 1993 Felix Guattari PDFDocumento136 páginasCadernos de Subjetividade PUC SP - 1993 Felix Guattari PDFGuilherme Augusto Souza Prado100% (1)
- Cartas para Vigotski 1Documento23 páginasCartas para Vigotski 1Érica Gonçalves SantosAinda não há avaliações
- Spinoza e A Passagem Ao PoliticoDocumento7 páginasSpinoza e A Passagem Ao PoliticoA9010Ainda não há avaliações
- Cadernos Subjetividade - Guattari (1996)Documento136 páginasCadernos Subjetividade - Guattari (1996)Mari CenedeziAinda não há avaliações
- Ana Ignez - Cartas para Vigotski - Livro - InddDocumento36 páginasAna Ignez - Cartas para Vigotski - Livro - InddLucas CoutinhoAinda não há avaliações
- Eduardo Ribeiro Da Fonseca Freud e NiezstcheDocumento329 páginasEduardo Ribeiro Da Fonseca Freud e NiezstcheEduardo MartinsAinda não há avaliações
- Spinoza e Práticas Clínicas em PsicologiaDocumento9 páginasSpinoza e Práticas Clínicas em PsicologiaClara CatarinaAinda não há avaliações
- Psicanalise VincularDocumento3 páginasPsicanalise VincularMarcella AlmeidaAinda não há avaliações
- TESE - Túlio Madson Galvão - Reconhecimento e Cultura - A Figura Do Reconhecente (Erkennende) em NietzscheDocumento113 páginasTESE - Túlio Madson Galvão - Reconhecimento e Cultura - A Figura Do Reconhecente (Erkennende) em NietzscheGalvao NetoAinda não há avaliações
- A Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em SchopenhauerNo EverandA Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em SchopenhauerAinda não há avaliações
- Conceito de mundo e de pessoa em Gestalt-terapia: Revisitando o caminhoNo EverandConceito de mundo e de pessoa em Gestalt-terapia: Revisitando o caminhoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Subjetividade em ZizekDocumento12 páginasA Subjetividade em ZizekFredericoAinda não há avaliações
- Curso de Psicanálise - Apostila 14Documento95 páginasCurso de Psicanálise - Apostila 14Priscilla Ribeiro S. FontesAinda não há avaliações
- Angela Ales Bello - Introducao A Fenomenologia (Digitalizado)Documento96 páginasAngela Ales Bello - Introducao A Fenomenologia (Digitalizado)Júlia Scalon ManzanAinda não há avaliações
- A Noção de Ego em Winnicot PDFDocumento96 páginasA Noção de Ego em Winnicot PDFAugusto CrisóstomoAinda não há avaliações
- A Filosofia Mundana de Nietzsche: Entrelaçamentos Fisiológico-Estéticos Na Crítica À MetafísicaDocumento380 páginasA Filosofia Mundana de Nietzsche: Entrelaçamentos Fisiológico-Estéticos Na Crítica À MetafísicaHamid HajaouiAinda não há avaliações
- Epistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaDocumento9 páginasEpistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaPe AmeixaAinda não há avaliações
- Scarlett MartonDocumento8 páginasScarlett Martonlucia riveraAinda não há avaliações
- Entrevista Com Filósofo Newton Da CostaDocumento9 páginasEntrevista Com Filósofo Newton Da CostaEmmanuel AsensiAinda não há avaliações
- Pesquisa Psicanalise PDFDocumento22 páginasPesquisa Psicanalise PDFGerson Leal MieresAinda não há avaliações
- Emocoes e Vivencias em Vigotski InvestigDocumento348 páginasEmocoes e Vivencias em Vigotski InvestigJmgh_90Ainda não há avaliações
- 2016 Mes Tiago PantuzziDocumento103 páginas2016 Mes Tiago Pantuzzileticia pereira pimentaAinda não há avaliações
- Cadernos2011 - Animismo MaquinicoDocumento292 páginasCadernos2011 - Animismo MaquinicoIdjahure KadiwelAinda não há avaliações
- Introdução à Psicologia Fenomenológica: A nova psicologia de Edmund HusserlNo EverandIntrodução à Psicologia Fenomenológica: A nova psicologia de Edmund HusserlNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- O CRISTIANISMO E NIETZSCHE Possibilidade Filosofica de DialogoDocumento118 páginasO CRISTIANISMO E NIETZSCHE Possibilidade Filosofica de DialogomichaeljacksonlfAinda não há avaliações
- BOVE, L. Espinosa e A Psicologia Social - Ensaios de Ontologia Política e Antropogênese (2010)Documento172 páginasBOVE, L. Espinosa e A Psicologia Social - Ensaios de Ontologia Política e Antropogênese (2010)Jean TozziAinda não há avaliações
- TESE - Emoções e Vivências em Vigotski - Investigação para Uma Perspectiva Histórico-CulturalDocumento348 páginasTESE - Emoções e Vivências em Vigotski - Investigação para Uma Perspectiva Histórico-CulturalRenato NogueiraAinda não há avaliações
- História da psicologia Ibero-americana em autobiografiasNo EverandHistória da psicologia Ibero-americana em autobiografiasAinda não há avaliações
- Psicologia Geral - ManualDocumento66 páginasPsicologia Geral - ManualassuntosblogAinda não há avaliações
- Garcia-Rosa - Pesquisa Do Tipo TeóricoDocumento24 páginasGarcia-Rosa - Pesquisa Do Tipo TeóricoMarcos KlipanAinda não há avaliações
- Sobre a Psicologia dos Grupos: uma Proposta FenomenológicaNo EverandSobre a Psicologia dos Grupos: uma Proposta FenomenológicaAinda não há avaliações
- RESENHA LIVRO - Gonzalez ReyDocumento3 páginasRESENHA LIVRO - Gonzalez ReyKlayton SalesAinda não há avaliações
- Antropologia Pós-Social, Perspectivas e Dilemas Contemporâneos, Entrevista Com Marcio GoldmanDocumento16 páginasAntropologia Pós-Social, Perspectivas e Dilemas Contemporâneos, Entrevista Com Marcio Goldmangord0ooAinda não há avaliações
- BOLOGNINI, S. (2008) - A Família Institucional e A Fantasmática Do AnalistaDocumento19 páginasBOLOGNINI, S. (2008) - A Família Institucional e A Fantasmática Do AnalistaGabriel Cunha100% (1)
- Dossiê L&C - Número CompletoDocumento443 páginasDossiê L&C - Número CompletoThiago Galbiatti VespaAinda não há avaliações
- Existem Espíritos Livres Entre Nós - Olímpio PimentaDocumento16 páginasExistem Espíritos Livres Entre Nós - Olímpio PimentaAlexandre SantannaAinda não há avaliações
- Achilles Delari O Sujeito e A Clínica Na Psicologia Histórico-CulturalDocumento17 páginasAchilles Delari O Sujeito e A Clínica Na Psicologia Histórico-CulturalRejs MoraesAinda não há avaliações
- A Ética Da PsicanaliseDocumento48 páginasA Ética Da PsicanaliseMarco Antonio SantosAinda não há avaliações
- Do Espectro Da Metafísica À Metafísica Do EspectroDocumento17 páginasDo Espectro Da Metafísica À Metafísica Do EspectroClodomir Quadros100% (2)
- A Gestalttheorie e A Fenomenologia de EdDocumento400 páginasA Gestalttheorie e A Fenomenologia de EdNuno RoqueAinda não há avaliações
- Análise Institucional e Práticas de Pesquisa - LourauDocumento61 páginasAnálise Institucional e Práticas de Pesquisa - LourauJéssica Pereira100% (1)
- A Psicologia, o Desenvolvimento Humano e o Ensino-Aprendizagem de ArtesDocumento23 páginasA Psicologia, o Desenvolvimento Humano e o Ensino-Aprendizagem de ArtesAlice SalesAinda não há avaliações
- Artigo - Formação, Pesquisa e Sociedades de Psicanálise, Universidade - Bernado TanisDocumento17 páginasArtigo - Formação, Pesquisa e Sociedades de Psicanálise, Universidade - Bernado TanisAugusto Luiz PsicanalistaAinda não há avaliações
- Spink - Frezza - Práticas DiscursivasDocumento23 páginasSpink - Frezza - Práticas DiscursivasClara RodriguesAinda não há avaliações
- 2 Introducao Aos Fundamentos Epistemologicos Da Psicologia Socioistorica Ligia Marcia Martins-With-Cover-Page-V2Documento26 páginas2 Introducao Aos Fundamentos Epistemologicos Da Psicologia Socioistorica Ligia Marcia Martins-With-Cover-Page-V2Kaline CunhaAinda não há avaliações
- GUIA Didático MAxieleDocumento9 páginasGUIA Didático MAxieletopmaster55555Ainda não há avaliações
- Futuros Melhores, Juntos! - Convite-2Documento9 páginasFuturos Melhores, Juntos! - Convite-2Felício SobralAinda não há avaliações
- A Verdadeira Conexão - Roteiro - Google DocsDocumento3 páginasA Verdadeira Conexão - Roteiro - Google DocsFelício SobralAinda não há avaliações
- Fereczi - Transferencia e IntrojecaoDocumento19 páginasFereczi - Transferencia e IntrojecaoFelício SobralAinda não há avaliações
- Manifesto: Por Um BrasileiroDocumento127 páginasManifesto: Por Um BrasileiroFelício SobralAinda não há avaliações
- Uma Escrita para Um Combate IncertoDocumento12 páginasUma Escrita para Um Combate IncertoFelício SobralAinda não há avaliações
- Contribuicoes de Piaget e VygotskyDocumento19 páginasContribuicoes de Piaget e VygotskyBencley ChaloAinda não há avaliações
- O Melhor de A.W. TozerDocumento117 páginasO Melhor de A.W. TozerBeckerrod100% (1)
- Filosofia 1ano Médio Planejamento AnualDocumento8 páginasFilosofia 1ano Médio Planejamento AnualFernando SilveiraAinda não há avaliações
- Ementa Latim I - Faculdade IDC PDFDocumento4 páginasEmenta Latim I - Faculdade IDC PDFJulio FirminoAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro O Que e Sociologia de Carlos Benedito MartinsDocumento2 páginasResumo Do Livro O Que e Sociologia de Carlos Benedito Martinsevelynneres750Ainda não há avaliações
- Tipos de ConhecimentoDocumento37 páginasTipos de ConhecimentoAntonio NunesAinda não há avaliações
- A TEORIA DA ATIVIDADE DE A. N. LEONTIEV UMA SÍNTESE A PARTIR de Suas Principais ObrasDocumento23 páginasA TEORIA DA ATIVIDADE DE A. N. LEONTIEV UMA SÍNTESE A PARTIR de Suas Principais ObrasDuelci VazAinda não há avaliações
- Artigo. As Inteer-Relações Entre Educação e Comunicação. Elias FariasDocumento13 páginasArtigo. As Inteer-Relações Entre Educação e Comunicação. Elias FariasEdgri Rodrigo Miranda CaldasAinda não há avaliações
- PoéticanaaméricalatinaDocumento17 páginasPoéticanaaméricalatinaIanarah Lívia Braga LopesAinda não há avaliações
- Modelos, Tendencias e AbordagensDocumento15 páginasModelos, Tendencias e AbordagensJulia GiroldiAinda não há avaliações
- Toen, Donna Van - Os Nodos Lunares Na AstrologiaDocumento70 páginasToen, Donna Van - Os Nodos Lunares Na AstrologiaSonival Teixeira100% (8)
- ADORNO Theodor Educação Após AuschwitzDocumento2 páginasADORNO Theodor Educação Após AuschwitzAngelina MorenoAinda não há avaliações
- Resumo John MurrayDocumento5 páginasResumo John MurrayHendrika LopesAinda não há avaliações
- Raciocínio LógicoDocumento5 páginasRaciocínio LógicomurillopeixotoAinda não há avaliações
- Resumo - IntroduçãoDocumento5 páginasResumo - IntroduçãoLuciano456Ainda não há avaliações
- Yatharth Geeta PDFDocumento502 páginasYatharth Geeta PDFIsmael CavadaAinda não há avaliações
- Ronald Apolinario PDFDocumento159 páginasRonald Apolinario PDFIsadora LealAinda não há avaliações
- Melhoria Contínua Um Estudo Sobre A Filosofia Kaizen em Uma IndústriaDocumento16 páginasMelhoria Contínua Um Estudo Sobre A Filosofia Kaizen em Uma Indústriavitoria.ita19Ainda não há avaliações
- Filosofia (3º Teste) - Ética e MoralDocumento5 páginasFilosofia (3º Teste) - Ética e MoralFrancisco Girbal Eiras50% (2)
- Teorias CognitivistasDocumento4 páginasTeorias CognitivistasRosângela Luz100% (1)
- Bruno Tolentino - Correio BrazilienseDocumento4 páginasBruno Tolentino - Correio BraziliensepablophillipeAinda não há avaliações
- Sobre Livros e Leitura (Arthur SchopenhauerDocumento11 páginasSobre Livros e Leitura (Arthur SchopenhauerLuiza GreffAinda não há avaliações
- Princípio e Fundamento - OraçãoDocumento2 páginasPrincípio e Fundamento - OraçãoJennifer GrayAinda não há avaliações
- EMR - FIL.3.1.OE RevDocumento28 páginasEMR - FIL.3.1.OE RevUlisses ColiAinda não há avaliações
- Cronograma Felipe AraujoDocumento36 páginasCronograma Felipe AraujoTarcísio BurkeAinda não há avaliações
- Aula 3 - Ética Cristã Medieval PDFDocumento5 páginasAula 3 - Ética Cristã Medieval PDFJesus NetoAinda não há avaliações
- Liberdade em Bakunin e SkinnerDocumento71 páginasLiberdade em Bakunin e SkinnerAnonymous 8zlMz9ZHAinda não há avaliações
- Síntese Sobre Wittgenstein e PopperDocumento5 páginasSíntese Sobre Wittgenstein e PopperWanderley OliveiraAinda não há avaliações