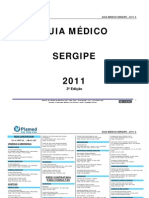Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizaçõesPrincipios Bioclimaticos para Desenho Urbano Estudo de Caso Ipatinga MG Danilo Botelho PDF
Principios Bioclimaticos para Desenho Urbano Estudo de Caso Ipatinga MG Danilo Botelho PDF
Enviado por
Clara Ferreira LemosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você também pode gostar
- Cnu Bloco 8 - Realidade Brasileira 2 A 15Documento170 páginasCnu Bloco 8 - Realidade Brasileira 2 A 15luksfred26850% (2)
- Piauí Colonial - População, Economia e Sociedade (Luiz Mott, 1985)Documento73 páginasPiauí Colonial - População, Economia e Sociedade (Luiz Mott, 1985)R. D.100% (3)
- Plano Diretor GuanhaesDocumento120 páginasPlano Diretor GuanhaesArthur.AAinda não há avaliações
- Apostila Agronegócio Módulo IDocumento98 páginasApostila Agronegócio Módulo IFabio GalvaoAinda não há avaliações
- Monografia Vila Maria Zélia CompletaDocumento25 páginasMonografia Vila Maria Zélia CompletaVanessaArqd100% (1)
- Planos de Urbanismo para As Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica No Cenário Urbanístico Da Bahia Dos Anos 30.Documento18 páginasPlanos de Urbanismo para As Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica No Cenário Urbanístico Da Bahia Dos Anos 30.Edson FernandesAinda não há avaliações
- Italianos em Taubaté PDFDocumento129 páginasItalianos em Taubaté PDFJarbas JuniorAinda não há avaliações
- Como Surgiu IpatingaDocumento12 páginasComo Surgiu IpatingaAna Glaicy Filgueiras100% (1)
- Levantamentos TecnicosDocumento112 páginasLevantamentos TecnicosRafaela PiresAinda não há avaliações
- A Urbanizacao e A Incorporacao Das VarzeDocumento28 páginasA Urbanizacao e A Incorporacao Das VarzeProfessoraDaisyRafaelaAinda não há avaliações
- Planejamento UrbanoDocumento19 páginasPlanejamento Urbanostela mouraAinda não há avaliações
- Trabalho Douglas - ItapinaDocumento13 páginasTrabalho Douglas - ItapinaMarcia Cristina de OLiveira MouraAinda não há avaliações
- PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL URBANO o Caso Do Forte Do Santo Antonio À Luz Do Pensamento de Ulpiano Bezerra de MenesesDocumento23 páginasPATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL URBANO o Caso Do Forte Do Santo Antonio À Luz Do Pensamento de Ulpiano Bezerra de MenesesTafnes AAinda não há avaliações
- 5COLOQUIODAPAISAGEMDocumento2.307 páginas5COLOQUIODAPAISAGEMMarilia Gomes CeolinAinda não há avaliações
- A Cidade e A SecaDocumento12 páginasA Cidade e A Secajeancarlos12Ainda não há avaliações
- PASSOS Elaboração Projeto de DrenagemDocumento22 páginasPASSOS Elaboração Projeto de DrenagemVinícius Honse DidóAinda não há avaliações
- Pmma Presidente Prudente FinalDocumento62 páginasPmma Presidente Prudente FinalCarolaine CordeiroAinda não há avaliações
- Artigo Imobiliario HistoriaDocumento31 páginasArtigo Imobiliario HistoriarogeriobsoaresAinda não há avaliações
- 1habitação Social e Higienismo - Luciana NemerDocumento11 páginas1habitação Social e Higienismo - Luciana NemerPatricia PintoAinda não há avaliações
- Brumadinho Texto CompactoDocumento7 páginasBrumadinho Texto CompactoMarianaRibPereiraAinda não há avaliações
- Artigo+vol +18 2+-+23+ (Diagramado)Documento25 páginasArtigo+vol +18 2+-+23+ (Diagramado)Pedro Alberto Cruz de Souza GomesAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, G. Sintese Historica Predio SEE - TextoDocumento34 páginasOLIVEIRA, G. Sintese Historica Predio SEE - TextodvdgeoAinda não há avaliações
- Relatório Parcial Dia 18 2Documento16 páginasRelatório Parcial Dia 18 2MattAinda não há avaliações
- Guia Didático - Histórico de Educação PatrimonialDocumento55 páginasGuia Didático - Histórico de Educação PatrimonialElvis RodriguesAinda não há avaliações
- RELATORIO PNMAE InstitutoMaoNaJaca R01Documento83 páginasRELATORIO PNMAE InstitutoMaoNaJaca R01João CaldasAinda não há avaliações
- Cadastramento - RestauroDocumento17 páginasCadastramento - RestauroEverllynn CardosoAinda não há avaliações
- Jornal O Espeto 794Documento28 páginasJornal O Espeto 794Luiz RicardoAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento21 páginasIntroduçãoEnzo Galasso Shin-KitsuneAinda não há avaliações
- Anuario Santo AndreDocumento385 páginasAnuario Santo AndreEstefa Souza DamianiAinda não há avaliações
- Plano Regional Ipiranga - Quadro AnaliíticoDocumento23 páginasPlano Regional Ipiranga - Quadro AnaliíticoConsultor BrêtasAinda não há avaliações
- Atividade Extensionista IVDocumento10 páginasAtividade Extensionista IVc4rol.bueno.m4fr4Ainda não há avaliações
- O Primeiro Plano de Urbanização Do Barreiro (1948-1957)Documento111 páginasO Primeiro Plano de Urbanização Do Barreiro (1948-1957)juanelporras2Ainda não há avaliações
- PGDocumento4 páginasPGAndressaAlessandraAinda não há avaliações
- Bairro Vorstadt - Blumenau/ SCDocumento12 páginasBairro Vorstadt - Blumenau/ SCBruno KonsAinda não há avaliações
- Lógicas de Valorização Do Bairro de ItapuãDocumento20 páginasLógicas de Valorização Do Bairro de ItapuãCanal GeografácilAinda não há avaliações
- Projeto AdutoraDocumento17 páginasProjeto AdutoraJuliana CabralAinda não há avaliações
- Ecoturismo em Bonito: IntroduçãoDocumento17 páginasEcoturismo em Bonito: IntroduçãoProf_WolffAinda não há avaliações
- TCC Naiara SerraDocumento29 páginasTCC Naiara SerraNaiara SerraAinda não há avaliações
- A Visualidade Da Cidade Industrial Na Fotografia - o Caso IpatingaDocumento18 páginasA Visualidade Da Cidade Industrial Na Fotografia - o Caso IpatingarodzeferAinda não há avaliações
- Trezentão de Geografia e História de ImperatrizDocumento47 páginasTrezentão de Geografia e História de ImperatrizVitor FilhoAinda não há avaliações
- Artigo Luciana Nemer PDFDocumento12 páginasArtigo Luciana Nemer PDFJefferson TomazAinda não há avaliações
- 8c2ba Ano Cic3aanc Hum Ativ Fort FinalDocumento5 páginas8c2ba Ano Cic3aanc Hum Ativ Fort FinalFilipeAinda não há avaliações
- A Freguesia de São Martinho - Ilha Da MadeiraDocumento194 páginasA Freguesia de São Martinho - Ilha Da MadeiraVinícius Misael LimaAinda não há avaliações
- Mudanças de Funcionalidade Na Cidade de Diamantina/MGDocumento70 páginasMudanças de Funcionalidade Na Cidade de Diamantina/MGAlessandro BorsagliAinda não há avaliações
- Território Brasileiro: Atividades Econômicas (Parte 2) : 7º ANO Aula 2 - 2º BimestreDocumento24 páginasTerritório Brasileiro: Atividades Econômicas (Parte 2) : 7º ANO Aula 2 - 2º BimestreRui JúniorAinda não há avaliações
- Isabelle Fagundes de Araujo 1808503 MonografiaDocumento58 páginasIsabelle Fagundes de Araujo 1808503 MonografiaIsabelle FagundesAinda não há avaliações
- 259-Texto Do Artigo-998-1-10-20181006Documento18 páginas259-Texto Do Artigo-998-1-10-20181006Marcello CoutinhoAinda não há avaliações
- Relatório Geografia Aplicada Ao Meio AmbienteDocumento11 páginasRelatório Geografia Aplicada Ao Meio AmbienteÂngela Ribeiro CarvalhoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Do MéierDocumento28 páginasDesenvolvimento Do MéierHugo ReisAinda não há avaliações
- Nuno Portas Power PointDocumento3 páginasNuno Portas Power PointJoana SousaAinda não há avaliações
- Universidade Anhanguera de São Paulo PDFDocumento23 páginasUniversidade Anhanguera de São Paulo PDFbuavinhaAinda não há avaliações
- GONÇALVES, Manuella Silva Miranda. Requalificação Do Balneário de Ponto Novo.2022.Engenheiro Coelho, São Paulo.-1Documento45 páginasGONÇALVES, Manuella Silva Miranda. Requalificação Do Balneário de Ponto Novo.2022.Engenheiro Coelho, São Paulo.-1Manu MirandaAinda não há avaliações
- Trabalho Extensão INTRODUÇÃODocumento6 páginasTrabalho Extensão INTRODUÇÃOtiago.goncalvesAinda não há avaliações
- Pontos Turísticos de Maringá - Trabalho de Humanas.Documento12 páginasPontos Turísticos de Maringá - Trabalho de Humanas.Heloisa Oliveira da CostaAinda não há avaliações
- Doc. FepasaDocumento8 páginasDoc. FepasapsartorelauraAinda não há avaliações
- Caderno Pedagogico FinalDocumento12 páginasCaderno Pedagogico FinalROGERIO GuimarãesAinda não há avaliações
- Raça Cultura e Disputa Territorial, o Caso Do Príncipe NegroDocumento19 páginasRaça Cultura e Disputa Territorial, o Caso Do Príncipe NegroGleuson PinheiroAinda não há avaliações
- O Plano "Prestes Maia" e A Ideologia Do Planejamento Urbano em CampinasDocumento25 páginasO Plano "Prestes Maia" e A Ideologia Do Planejamento Urbano em CampinasJéssica De Almeida PolitoAinda não há avaliações
- Análise e Vistoria Prediso Tombados JoinvilleDocumento38 páginasAnálise e Vistoria Prediso Tombados JoinvilleAri CostaAinda não há avaliações
- Memoria e Prospectiva 2Documento84 páginasMemoria e Prospectiva 2Jose Fernando CarvalhoAinda não há avaliações
- Cópia de Normas AbntDocumento15 páginasCópia de Normas AbntPedro HenriqueAinda não há avaliações
- CAVALCANTI, Themístocles Brandão - Política e TecnocraciaDocumento18 páginasCAVALCANTI, Themístocles Brandão - Política e TecnocraciaDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- A Metástase - Revista PiauíDocumento23 páginasA Metástase - Revista PiauíDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Guia Do Churrasqueiro - Erros Comuns e DicasDocumento16 páginasGuia Do Churrasqueiro - Erros Comuns e DicasDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- 1899 1900 Bernardo Pinto MonteiroDocumento36 páginas1899 1900 Bernardo Pinto MonteiroDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Vida de Solteiro - Suspiros & Desatinos PDFDocumento2 páginasVida de Solteiro - Suspiros & Desatinos PDFDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Cifra Club - CANÇÃO DA DESPEDIDA - Canções EscoteirasDocumento1 páginaCifra Club - CANÇÃO DA DESPEDIDA - Canções EscoteirasDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Projeto e Execução Da Casa Ecoeficiente - Campina GrandeDocumento12 páginasProjeto e Execução Da Casa Ecoeficiente - Campina GrandeDanilo Botelho100% (1)
- Aula 03 As Atividades Econômicas e A Organização Do EspaçoDocumento55 páginasAula 03 As Atividades Econômicas e A Organização Do EspaçoNielsen10Ainda não há avaliações
- Colégio Naval - 14-15 (Port-Est. Sociais e Ciências)Documento27 páginasColégio Naval - 14-15 (Port-Est. Sociais e Ciências)Adilson SantosAinda não há avaliações
- Guia Medico Sergipe - PlamedDocumento13 páginasGuia Medico Sergipe - PlamedrosigomesaAinda não há avaliações
- Atualização Diamantina Divulgada em 02.04.2015 PDFDocumento35 páginasAtualização Diamantina Divulgada em 02.04.2015 PDFEiAnAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Ruy MoreiraDocumento4 páginasFichamento Do Texto Ruy MoreiraCesar Augusto SilvaAinda não há avaliações
- Prova Da 3a Fase - Pss 2009Documento30 páginasProva Da 3a Fase - Pss 2009Wellington SousaAinda não há avaliações
- Contratos Dez 12v1Documento704 páginasContratos Dez 12v1xp2015toAinda não há avaliações
- Resumo Geografia ESA PDFDocumento4 páginasResumo Geografia ESA PDFPatrick Mendonça100% (1)
- TESTE 1 GeografiaDocumento4 páginasTESTE 1 GeografiaAGLAAinda não há avaliações
- Proximoato Isuu PDFDocumento258 páginasProximoato Isuu PDFMarcio CastroAinda não há avaliações
- Regiões BrasileirasDocumento11 páginasRegiões BrasileirasEdilbertoAinda não há avaliações
- Crise e Dinâmica Das Estruturas Produtivas Regionais No BrasilDocumento19 páginasCrise e Dinâmica Das Estruturas Produtivas Regionais No BrasilClaudio A. G. EglerAinda não há avaliações
- Curso 83410 Simulado VI Espcex v3 PDFDocumento33 páginasCurso 83410 Simulado VI Espcex v3 PDFGabriel dekkssAinda não há avaliações
- 8° Coletânea 8° Ano ScherrerDocumento13 páginas8° Coletânea 8° Ano ScherrerAlex MáximoAinda não há avaliações
- ESA - 12º SimuladoDocumento17 páginasESA - 12º SimuladoMarcelo SilvaAinda não há avaliações
- GeografiaDocumento17 páginasGeografiaMarjoly Mattiolli TanureAinda não há avaliações
- Curso 89665 Aula 00 Af84 CompletoDocumento85 páginasCurso 89665 Aula 00 Af84 CompletoSammuel FabricioAinda não há avaliações
- Regiões Do Brasil RevisaoDocumento3 páginasRegiões Do Brasil RevisaomahmonteiroAinda não há avaliações
- Desafios CPB CbatDocumento2 páginasDesafios CPB Cbatb250131Ainda não há avaliações
- E Book BoletimZdeZSafrasZ Z2oZlevantamento 1Documento93 páginasE Book BoletimZdeZSafrasZ Z2oZlevantamento 1Nacho EtchartAinda não há avaliações
- Complexo Nordestino ExerciciosDocumento9 páginasComplexo Nordestino ExerciciosJessica FontesAinda não há avaliações
- Climas Do BrasilDocumento3 páginasClimas Do BrasilRoberson Cardoso VieiraAinda não há avaliações
- Mulheres Perspectivas 05-07-2017Documento356 páginasMulheres Perspectivas 05-07-2017Sariza Caetano100% (3)
- Exercícios: Comércio Exterior BRASIL - 1984-93Documento5 páginasExercícios: Comércio Exterior BRASIL - 1984-93Wycttor GhusthavoAinda não há avaliações
- Mapa Mental Expansão TerritorialDocumento1 páginaMapa Mental Expansão TerritorialksazzeAinda não há avaliações
- 500 Anos Uso Solo PDFDocumento624 páginas500 Anos Uso Solo PDFpetter_355279Ainda não há avaliações
- Slides Sobre Agentes Do Espaço UrbanoDocumento10 páginasSlides Sobre Agentes Do Espaço UrbanogoiabanecessariamenteamarelaAinda não há avaliações
- Formação Territorial Do Brasil 3º Semestre-1Documento4 páginasFormação Territorial Do Brasil 3º Semestre-1liagost18Ainda não há avaliações
Principios Bioclimaticos para Desenho Urbano Estudo de Caso Ipatinga MG Danilo Botelho PDF
Principios Bioclimaticos para Desenho Urbano Estudo de Caso Ipatinga MG Danilo Botelho PDF
Enviado por
Clara Ferreira Lemos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações39 páginasTítulo original
52778709-Principios-bioclimaticos-para-desenho-urbano-estudo-de-caso-Ipatinga-MG-Danilo-Botelho.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações39 páginasPrincipios Bioclimaticos para Desenho Urbano Estudo de Caso Ipatinga MG Danilo Botelho PDF
Principios Bioclimaticos para Desenho Urbano Estudo de Caso Ipatinga MG Danilo Botelho PDF
Enviado por
Clara Ferreira LemosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 39
1
DANILO DE CARVALHO BOTELHO ALMEIDA
PRINCPIOS BIOCLIMTICOS PARA
DESENHO URBANO
ESTUDO DE CASO O CENTRO DE IPATINGA / MG
Trabalho apresentado ao Curso de
Planejamento Ambiental Urbano,
curso de especializao do Instituto
de Educao Continuada da Pontifcia
Universidade Catlica de Minas
Gerais.
Orientador: Alfio Conti
2
BELO HORIZONTE
ABRIL/2004
SUMRIO
1. INTRODUO ..................................................................................................... 3
2. A CIDADE ............................................................................................................ 4
2.1. Breve histrico ........................................................................................... 4
2.2. Urbanismo ................................................................................................. 7
2.3. Urbanismo e o Meio Ambiente ................................................................. 11
3. CARACTERIZAO DO CLIMA ...................................................................... 14
3.1. O clima no Brasil uma viso macro ...................................................... 14
3.2. O clima na Regio Sudeste ..................................................................... 16
3.3. O clima de Ipatinga ................................................................................. 18
4. CONFORTO AMBIENTAL NAS REGIES TROPICAIS ................................... 19
4.1. O homem e o ambiente ............................................................................ 19
4.2. Elementos do clima a serem controlados ............................................... 21
5. DESENHO URBANO BIOCLIMTICO ............................................................. 22
5.1. Centro de Ipatinga breve histrico ....................................................... 22
5.2. O projeto Interveno no Centro de Ipatinga ....................................... 23
5.3. Tcnicas utilizadas para desenho urbano bioclimtico ........................... 28
5.3.1. Avenida 28 de Abril ............................................................................ 28
5.3.2. Novo Centro ....................................................................................... 33
6. CONCLUSO .................................................................................................... 34
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ....................................................................... 35
ANEXOS ................................................................................................................. 36
3
1. INTRODUO
O planejamento urbano uma das mais complexas tarefas. Aborda diversas
disciplinas, as quais muitas vezes o arquiteto e urbanista, principal sujeito vinculado
a este planejamento, no tem conhecimento profundo. A prtica do desenho urbano
tem se dado sem levar em conta os impactos que provoca no ambiente, o que
repercute no s no desequilbrio do meio, como tambm no conforto e salubridade
das populaes urbanas.
necessrio o conhecimento dos elementos fsico-ambientais, como
temperatura, umidade do ar, etc., para que o desenho dos espaos possa ser
condicionado e adaptado s caractersticas do meio, como a topografica, latitude,
ecologia e em especial o clima.
O enfoque dado ao ambiente trmico deve-se ao estudo de caso. Ipatinga
encontra-se numa regio de clima tropical, como quase todo o territrio brasileiro,
mas com um microclima bastante quente. Este tema abordado do ponto de vista
bioclimtico. A Bioclimatologia humana envolve as reas da biologia, ecologia,
climatologia, e neste caso, o desenho urbano.
A biologia e ecologia contribuem para se entender a fisiologia humana e sua
inter-relao com o ambiente trmico. A climatologia, ou meteorologia, contribui
para o entendimento das variveis do clima que afetam a percepo trmica do
homem. J o desenho urbano visa englobar todas estas informaes e compila-las
de maneira a proporcionar um melhor conforto trmico ao homem.
4
2. A CIDADE
2.1. Breve histri co
A cidade de Ipatinga est localizada na regio Leste do estado de Minas
Gerais, a 217 Km da capital Belo Horizonte, numa regio conhecia como Vale do
Ao (Ver Anexos). As explicaes para o nome variam: pela juno dos termos ipa
da palavra Ipanema e tinga de Caratinga ou pela sua origem tupi, sendo traduzida
como Pouso de gua Limpa.
A ocupao da regio se iniciou com a construo da Estrada de Ferro Vitria
a Minas, em meados da dcada de 1920. Em 1922, a Estao Ferroviria de Pedra
Mole foi inaugurada, no km 475, entre os atuais bairros Cariru e Castelo, na margem
direita do Rio Piracicaba. Foi aberta uma clareira na floresta, no local denominado
crrego Nossa Senhora, a fim de construir o acampamento para abrigar
trabalhadores de uma das empreiteiras da Estrada de Ferro. No entanto, poucos
resolveram se instalar nas proximidades da Estao, devido s condies de
insalubridade.
FIGURA 01: Confluncia dos rios Piraci caba e Doce, onde se iniciou a ocupao da cidade.
Fonte: Prefeitura Muni cipal de Ipatinga
5
Anos mais tarde, esta estao foi transferida para outro local, onde hoje a
Estao Memria, no Centro, j com o nome de Ipatinga, e servia para o embarque
de carvo e passageiros. Ao seu redor foi se formando a futura vila de Ipatinga
1
.
FIGURA 02: Estao Ferrovi ri a de Ipatinga, provavel mente nos anos 40 ou 50. Fonte: Dirio
do Rio Doce.
FIGURA 03: Estao Ferroviria, hoje um centro cultural denominado de Estao Memria.
Fonte: Prefeitura Muni cipal de Ipatinga.
Tal ocupao, diga-se de passagem, denomina-se como sendo a do homem
branco, pois ali viviam os ndios Botocudos, que foram exterminados numa guerra
impiedosa iniciada no ano de 1808 e que se prolongaria at as primeiras dcadas do
sculo XX.
Ipatinga encontra-se na bacia dos rios Doce e Piracicaba. Hoje o municpio
limtrofe ao Parque Estadual do Rio Doce. O parque um dos poucos resqucios de
mata atlntica nativa, pois a madeira servia de carvo vegetal para abastecer os
auto-fornos das siderrgicas, Belgo-Mineira, implantada no ano de 1937 em J oo
Monlevade e posteriormente a Acesita, em Timteo.
1
A primeira estao era a Estao Pedra Mole, prxima s margens do rio Piracicaba, entre os
bairros Castelo e Cariru, sendo depois abandonada. No se tem a data exata da mudana para a
Estao Ipatinga, no Centro da cidade.
6
FIGURA 04: Parque Estadual do Rio Doce.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
O crescimento econmico e demogrfico se iniciou no final da dcada de
1950, com a implantao da Usina Intendente Cmara, Usiminas, iniciada em 1958
e inaugurada em 26 de Outubro de 1962. Nessa poca, Ipatinga no era mais que
um povoado com cerca de 60 casas e 300 habitantes. Desprovida de qualquer infra-
estrutura, as ruas eram de terra, a luz a motor e a gua era fornecida em lombo de
burro ou carros. Vrias eram as doenas endmicas como esquistossomose,
malria e tuberculose pulmonar.
FIGURA 05: Pedra Fundamental para a construo da Usi minas. Fonte: Prefeitura Municipal de
Ipatinga.
FIGURA 06: Construo da Usi minas, final da dcada de 50. Fonte: Prefeitura Municipal de
Ipatinga.
7
Em 1962 foi fundada a Sociedade dos Amigos de Ipatinga, primeira entidade
de defesa do desenvolvimento da regio e da emancipao do distrito, pertencente
ao municpio de Coronel Fabriciano
2
. Ipatinga foi emancipada no dia 29 de abril de
1964 e em dezembro de 1965 ocorreu a posse dos primeiros vereadores e de
Fernando dos Santos Coura, primeiro prefeito eleito do municpio.
FIGURAS 07 e 08: Imagens da poca da construo da cidade. Bairros Bom Reti ro e Cari ru,
respecti vamente. Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
FIGURA 09: Praa 1 de Maio, no centro da cidade, na dcada de 60. Fonte: Prefeitura
Municipal de Ipatinga.
2.2. Urbanismo
Com a implantao da Usiminas, seria necessria toda uma infra-estrutura
capaz de suprir as necessidade da siderrgica, como tambm de seus funcionrios e
empregados da construo civil que ali iriam se instalar. Foi estimado uma
populao de 10 mil pessoas durante o perodo de implantao.
Encarregado de fazer os estudos e o projeto detalhado de urbanizao e
expanso da rea urbana da cidade, o arquiteto Rafael Hardy Filho no teve
problemas na avaliao e aprovao do mesmo, sem restries, pelo engenheiro
Lcio Costa. O conceito urbanstico utilizado por Hardy foi o de cidade aberta, onde
o dinamismo da indstria siderrgica inseria a aldeia no mundo e vice-versa.
2
Antes da emancipao, Ipatinga pertenceu no somente ao municpio de Coronel Fabriciano, mas
tambm ao municpio de Antnio Dias.
8
Desde o incio a cidade deveria ser projetada em termos de comunidade
aberta, na qual, passada a fase de construo e implantao, a livre
iniciativa passasse a atuar cada vez com maior intensidade. (HARDY,
Rafael)
O projeto estabelecia que cada bairro funcionasse como uma unidade de
vizinhana autnoma, cada um com sua prpria rea de comrcio, lazer, sade e
educao. Esses bairros so hoje o Castelo, Cariru, Bom Retiro, Imbabas, Horto,
Vila Ipanema, Bela Vista e das guas. Previa tambm um centro cvico-
administrativo, com prefeitura, cmara de vereadores e um frum, alm de biblioteca
pblica, central de polcia e bombeiro, ou seja, um centro comunal que abrigasse as
diversas atividades como comrcio, hotis, penses, alojamentos destinados aos
funcionrios e operrios solteiros e populao flutuante de vendedores,
compradores e visitantes.
FIGURA 10: Urbani zao do Bairro Cariru, dcada de 60.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
Deste centro comunal, cortado pela Rua do Comrcio, atual Avenida 28 de
Abril, que se formou o atual centro da cidade. Foi a partir deste centro tambm que
a cidade comeou a crescer desordenadamente sem um planejamento claro como o
9
de Hardy. Mas ainda assim, os conceitos de cidade aberta foram mantidos, s que
com uma maior participao da iniciativa privada.
Na dcada de 1980 foi criada a Companhia Urbanizadora do Vale do Ao,
CURVA, para realizar um programa de obras a fim de reorientar a estrutura urbana
da cidade e corrigir problemas que tm origem no processo de sua formao,
conforme anunciava o governo municipal da poca. Grandes problemas de
saneamento bsico, infra-estrutura, educao e sade se agravaram devido ao
grande crescimento demogrfico. As obras desta poca definiram grande parte do
atual traado do sistema virio e paisagstico da cidade. Paisagismo este, feito por
Burle Marx, sendo o principal projeto, a implantao de um parque municipal, o
Parque Ipanema, complexo englobando o estdio municipal, o Ipatingo, alm do
Kartdromo Emerson Fittipaldi.
FIGURA 11: Vista Geral do Parque Ipanema, do Estdio Municipal, Ipatingo direita,
kartdromo no alto direita e do si stema virio. Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
A dcada de 1990 e incio deste sculo se caracterizam por um novo conceito
de administrao pblica, buscando resgatar a dvida social dos governos anteriores,
10
implementando projetos voltados s regies e populaes mais carentes,
principalmente atravs do Oramento Participativo. O Novo Centro, projeto que
relocou 300 famlias para um novo bairro chamado Planalto, completamente servido
de infra-estrutura e criando rea de lazer no centro da cidade. Na rea ambiental
podemos destacar, a criao de novos parques, como o Parque da Unio, no bairro
Planalto, e o Parque das Samambaias e principalmente, a rea de Preservao
Ambiental (APA) do Ipanema.
FIGURA 12: Parque da Unio, no Bai rro Planalto.
Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
FIGURAS 13 e 14: Vista Geral do Projeto Novo Centro, antes e depois. Fonte: Prefeitura
Municipal de Ipatinga.
11
2.3. O Urbanismo e o Meio Ambiente
A relao da cidade com o que diz respeito ao meio ambiente bastante
dspar. Nos primrdios da ocupao, grandes reas de mata atlntica nativa foram
devastadas para produo de carvo vegetal, principalmente para suprir as
fornalhas das siderrgicas.
No correto afirmar que questes relativas ao meio ambiente foram
adotadas na implantao da cidade, mas pode-se observar que as regies de topo
de morros e encostas foram preservadas. Talvez pela maior facilidade de se
aproveitar os terrenos planos e a rapidez necessria de se construir a cidade, estas
reas no foram ocupadas. Hoje sabe-se da importncia da preservao destas na
recarga dos lenis freticos.
A cidade era conhecida at o final da dcada de 1980 como a Cubato
Mineira, devido aos altos ndices de poluio. Crianas nascidas no final da dcada
de 1970 e incio dos anos 80 podem ser denominados como a Gerao Bronquite,
pois grande parte destas nasciam com problemas respiratrios.
Na dcada de 1970, com iniciativa da Usiminas, foi criado um programa de
reflorestamento e plantio de rvores nativas, incluindo tambm rvores frutferas, o
que atraiu para a regio diversas espcies de pssaros e pequenos animais. Mas
em grande parte deste reflorestamento foi utilizado o eucalipto, principalmente com a
implantao da Cenibra, empresa de celulose, mas fora do permetro urbano da
cidade.
12
FIGURA 15: Vista area da Usiminas, ao centro e do Parque Estadual do Rio Doce ao fundo.
Vista dos topos de morro bastante arborizados. Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
O poder pblico passou a ser mais ativo a partir da dcada de 1980. Com a
contratao de Burle Marx, alm de embelezar a cidade, props a criao de alguns
parques municipais, se destacando o Parque Ipanema
3
. Um programa ainda mais
extenso de plantio de rvores tambm foi incorporado. Mas s no incio da dcada
de 1990 que as atividades se iniciaram no parque. A construo de quadras
poliesportivas, equipamentos de suporte para a populao, como banheiros
pblicos, galpes, e o plantio de rvores, alm da implantao do Horto Municipal
4
.
Hoje o parque o corao da cidade e vive em plena atividade.
3
Maior rea verde urbana do Estado de Minas Gerais.
4
Ipatinga hoje a nica cidade com menos de 500 mil habitantes e que no capital de estado com
o prprio viveiro de mudas.
13
Foi a partir desta dcada tambm que a poltica ambiental passou a ser
prioridade junto ao poder pblico municipal. A criao de diversos outros parques,
como o Parque das Samambaias, o Parque da Unio, alm da rea de Proteo
Ambiental (APA) do Ribeiro Ipanema, que engloba uma rea de 74 km ao redor
das suas nascentes. Hoje so 127 m de rea verde por habitante, muito maior do
que os 73 m registrados em 1988
5
. A destinao final do lixo e esgoto tambm
prioridade, sendo o aterro sanitrio da cidade modelo no Brasil, e um dos primeiros
instalados. A construo de Estao de Tratamento de Esgoto (ETE) se encarrega
dos 100% de esgoto coletado
6
, antes de retornar e ser incorporado ao Rio
Piracicaba.
FIGURAS 16 e 17: Imagens do Aterro Sanitrio. Vista area e do interior do mesmo,
respecti vamente. Fonte: Prefeitura Municipal de Ipatinga.
FIGURA 18: Estao de Tratamento de Esgoto (ETE). Fonte: Prefeitura Muni cipal de Ipatinga.
Em 1995, a cidade foi uma das 32 cidades brasileiras a receber o prmio Eco
Urbs, outorgado pela Sociedade Brasileira para a Valorizao do Meio Ambiente
Biosfera. Aliado a isso, a educao ambiental de relevante importncia na cultura
municipal. Iniciado em 15 de outubro de 1984, o Projeto Xerimbabo, que em tupi do
sculo XVIII significa animal domstico, implementou uma nova proposta
pedaggica atravs de exposies, seminrios, cursos e palestras, atingindo todas
as faixas etrias da populao. O projeto, com destaque nacional na comunidade
5
Dados obtidos no site da Prefeitura Municipal de Ipatinga.
6
Idem 5.
14
cientfica, uma ao anual, com parceria da Usiminas e que acontece na
Associao Esportista e Recreativa Usipa. Este o nico clube de lazer e esporte
em todo o pas que mantm um zoolgico que no apenas exibe os animais, mas
mantm um projeto de pesquisa cientfica e educao ambiental, o Centro de
Biodiversidade da Usipa (Cebus), de reconhecimento nacional, tendo como parceira
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Mas a poltica populista municipal tem seus contras. Como forma de agradar
toda uma populao, projetos so feitos sem o devido planejamento, ou pelo menos,
sem haver um planejamento ambientalmente correto. A canalizao de diversos dos
crregos da cidade acaba com a vida aqutica local e no permite a infiltrao da
gua e o ciclo natural da mesma. A drenagem elimina os chamados problemas de
inundaes na cidade, mas na verdade este problema est sendo somente
deslocado para outro ponto. Alm disso, o asfaltamento de toda e qualquer rua cria
a mesma complicao. Ocupaes em reas de declividade acima de 47% por
exemplo, recebem o asfaltamento, com isso, a gua das chuvas levada do ponto
mais alto podendo causar problemas nos pontos mais baixos.
3. CARACTERIZAO DO CLIMA
3.1. O Clima no Brasil Uma Viso Macro
Podemos destacar como climas no Brasil o Equatorial, Tropical e Subtropical.
Numa viso geral, o Brasil est localizado em duas rea climticas, sendo que 92%
do territrio est localizado acima do Trpico de Capricrnio, ou seja, na Zona
15
Tropical, e somente a Regio Sul e no sul do estado de So Paulo se localizam
abaixo do mesmo, na Zona Temperada.
FIGURA 19: Ilusta a faixa tropical no globo. Fonte: http://climabrasileiro.hpg.ig.com.br
FIGURA 20: Ilustra a Zona Tropical nas Amricas. Fonte: http://climabrasilei ro.hpg.ig.com.br
necessria uma avaliao mais profunda para definir com clareza o clima
do Brasil. Deve-se levar em conta fatores como temperatura, regime de chuvas,
umidade, ventilao e radiao solar.
Abaixo vemos duas classificaes, que consideram todos esses fatores, mas
denominam nomenclaturas diferenciadas: a primeira feita por Koppen Geiger e a
segunda por Gourou e Bernardes.
Mapa de Koppen Geiger
FIGURA 21: Diferentes regies cli mticas no Brasil na viso de Koppen e Geiger. Fonte:
http://www.climabrasil eiro.hpg.ig.com.br
16
Mapa de Gourou e Bernardes
FIGURA 22: Diferentes regies climticas no Brasil na viso de Gourou e Bernardes. Fonte:
HERTZ, 1988.
3.2. O Clima na Regio Sudeste
A Regio Sudeste apresenta um clima bastante diversificado, onde podemos
encontrar desde um clima subtropical, tpico da Regio Sul como tambm um clima
semi-rido, caracterstico do Nordeste.
O relevo a principal causa para essa miscelnea na classificao do clima.
O planalto e as serras encontradas na poro leste da regio, abrangendo todos os
estados, So Paulo, Rio de J aneiro, Minas Gerais e Esprito Santo, denominados
como mar de morros, amenizam o clima. Em certos pontos resultam em um clima
frio, como por exemplo, Campo do J ordo, no estado de So Paulo. J no extremo
norte do estado de Minas Gerais encontramos uma regio semi-rida, com
temperaturas bem elevadas.
17
As temperaturas mdias na Regio Sudeste variam entre 17C e 25C,
mnimas e mximas respectivamente, mas podendo a chegar a temperaturas
extremas de 40C no serto mineiro e abaixo de 0C, nas regies sul do estado de
So Paulo, Campos do J ordo e Serra da Mantiqueira
7
.
O regime de chuvas regular sem estao seca, com queda do ndice no
inverno, exceto no norte mineiro onde as chuvas so escassas. A mdia na regio
de 1600mm/ano, enquanto que a mdia nacional de 1520mm/ano
8
.
O grfico abaixo ilustra estes dados de temperatura e precipitao, mostrando
que ambos so diretamente proporcionais.
Precipitao x Temperatura
FIGURA 23: Grfico ilustra a quantidade de chuva na Regi o Sudeste, comparando-a com a
temperatura. Observa-se que a curva de ambos so di retamente proporcionais. Fonte:
http://www.climabrasil eiro.hpg.ig.com.br
No mapa abaixo, observa-se a grande diferena de temperatura na regio.
7
Dados obtidos no site Informaes Climticas.
8
Idem 7.
18
Mapa Temperaturas Mdi as no Brasil Mapa Temperaturas Mdias na Regio Sudeste
FIGURA 24: Ilustra as temperaturas mdias, tanto do territrio brasileiro quanto da Regio
Sudeste, inserindo Ipatinga na rea laranja, com temperaturas mdias em torno de 23C.
Fonte: http://www.climabrasileiro.hpg.ig.com.br
3.3. O clima de Ipatinga
Ipatinga est localizada a 192846 de latitude sul e 4231'18" de longitude
oeste e a 220 m acima do nvel do mar, numa regio de relevo bastante acidentado.
A cidade encontra-se num vale, e seu territrio de 166,5 km consiste em 55% plano,
30% ondulado e 15% montanhoso, podendo chegar a alturas de mais de 1000
metros.
Esta localizao faz com que o microclima da regio seja classificado como
tropical subquente e subseco, com temperatura mdia de 23C, chegando a
extremos de 35C no vero e 7,6C no inverno
9
. A ventilao satisfatria e a
direo do vento predominante Leste, variando entre Sudeste e Nordeste, de
acordo com ocorrncias de chuva ou dias nublados.
Apesar do clima bastante quente, a umidade relativa do ar varia entre 78,2%
no inverno e 84% no vero
10
. A causa da umidade elevada a presena abundante
9
Idem 5.
10
Idem 5.
19
de vegetao em todo seu territrio. A precipitao pluviomtrica chega a 343,6 mm
no regime das chuvas
11
, que ocorrem no vero, principalmente nos meses de janeiro
e fevereiro. O vero uma estao bastante quente e nem as chuvas amenizam o
ndice de conforto. J o inverno bastante ameno, com temperaturas muitas vezes
agradveis.
4. CONFORTO AMBIENTAL NAS REGIES TROPICAIS
4.1. O homem e o ambiente
O homem no um elemento passivo na relao com o clima, pois seu corpo
realiza processos de trocas trmicas com o meio, afim de manter um adequado
equilbrio trmico. A temperatura, a radiao, a umidade e a movimentao do ar,
so elementos do clima que atuam diretamente na percepo trmica do homem.
Como forma de responder a estas exigncias externas, o homem utiliza-se de
dois processos: o fisiolgico (suor, variaes do fluxo sangneo que percorre a pele,
batidas cardacas, contrao dos msculos, arrepio) e o comportamental (sono,
prostrao, reduo da capacidade de trabalho).
Sendo assim, o homem capaz de ganhar ou perder calor para o meio
atravs dos processos de radiao, conduo e conveco. Pode-se ganhar calor
essencialmente atravs do metabolismo e atividades e perder calor essencialmente
por evaporao. Mas existem trs meios de controle da dissipao regular de calor:
o sistema termo-regulador do organismo, o uso adequado de vestimenta e a criao
de um invlucro, o edifcio. Para que isso acontea, a arquitetura e urbanismo, no
11
Idem 5.
20
planejamento das cidades e edificaes, devem visar a utilizao de meios que
controlem o conforto de maneira regular.
FIGURA 25: Ilustra os processos de troca de calor entre o homem e o meio. Fonte: ROMERO,
2000
PROCESSOS DE TROCA VARIVEIS DO MEIO
Conduo Temperatura das superfcies
Conveco
Temperatura do ar
Velocidade do ar
Radiao
Efeito da radiao direta e difusa do sol e de radiao dos objetos e
superfcies aquecidos
Evaporao
Presso de vapor do ar
Velocidade do ar
TABELA 01: Sntese dos processos de troca e das vari veis do meio. (ROMERO, 2000)
Diversos so os estudos relacionados com a influncia do ambiente na
reao humana. Victor Olgyay desenvolveu o diagrama chamado Carta
Bioclimtica, que combina temperatura do ar e umidade definindo zonas de conforto,
enquanto a Carta Bioclimtica de Givoni baseada em um ndice de tenso trmica,
combinando temperatura seca do ar, temperatura mida e ventilao, tambm
definindo zonas de conforto. Ambos os estudos so bastante importantes na
compreenso dos elementos de controle como forma de se obter um adequado
conforto trmico. Porm, no so estudos criados para regies de clima tropical, e
um estudo mais preciso sobre estas condies de clima necessrio para se obter
21
melhores resultados, levando-se em considerao no somente as variveis do
meio, mas tambm as variveis do indivduo adaptado quela regio.
4.2. Elementos do clima a serem control ados
O entendimento do clima um aliado importante no conhecimento sobre
quais aes tomar para a produo de projetos que visam o conforto do homem. O
desenho urbano bioclimtico atua como um mecanismo de controle das variveis do
meio, seja atravs do invlucro (paredes, pisos, coberturas), do seu entorno (gua,
vegetao, sombras, terra) ou ento do aproveitamento dos elementos e fatores
climticos para melhorias de ventilao e insolao. Este passa a ser um filtro dos
elementos climtico adversos s condies de sade e conforto trmico do homem.
Todo os elementos do meio ambiente urbano, ou seja, as edificaes, a
vegetao, as ruas, praas e o mobilirio urbano devem conjugar-se com o objetivo
de atender s exigncias de conforto trmico para as prticas sociais do homem.
Isto porque a concepo do bioclimatismo, no desenho urbano, a interao dos
elementos: climtico, do lugar, de uma cultura, com a finalidade de criar ou recriar
ambientes urbanos.
Os elementos do clima a serem controlados so: a temperatura, os ventos, a
umidade, a radiao e as chuvas, cada um com as devidas caractersticas climticas
locais.
22
Elementos do clima a serem controlados
ELEMENTOS A CONTROLAR CLIMA DE IPATINGA
Temperatura Reduzir a produo de calor (diminuir a temperatura)
Ventos
Incrementar o movimento do ar
Melhorar a ventilao noite
Umidade
Evitar a absoro de umidade e diminuir a presso de vapor
Promover a evaporao
Radiao
Reduzir a absoro de radiao
Filtrar a radiao direta
Chuvas Proteo dos espaos pblicos
TABELA 02: Aes de controle dos elementos cli mticos no caso de Ipatinga.
5. DESENHO URBANO BIOCLIMTICO
5.1. Centro de Ipatinga breve histrico
Historicamente, o centro da cidade o local onde surgiu a vila de Ipatinga.
Ao redor da estao, as pequenas casas foram sendo construdas e os primeiros
estabelecimentos comerciais tambm, para atender s necessidades tanto dos
moradores, quanto dos tropeiros que por ali passavam.
Aos poucos o centro foi se configurando e a principal rua era a Rua do
Comrcio, atual Avenida 28 de Abril, e as principais lojas e estabelecimentos se
encontravam nela.
Com a construo da cidade, grande parte do Centro j estava configurado, e
o projeto no envolvia o planejamento do mesmo, e sim, um projeto complementar, o
centro comunal, com os grandes equipamentos pblicos e alguns estabelecimentos,
como hotis e penses (Ver Anexos)
Foi um crescimento orgnico e desorganizado que s na dcada de 1990 que
as atenes do poder pblico se voltaram para o problema. A principal zona
23
comercial da cidade abrangia a chamada, Zona Bomia da cidade, e uma outra
rea bastante degradada, na regio da Rua do Buraco. Em 1993, uma grande
enchente abalou a cidade, e grande parte destas casas foram inundadas e
derrubadas pela gua, e vrias pessoas ficaram desabrigadas. o incio do projeto
Novo Centro.
Entregue em 1995, o Projeto Novo Centro transfere as famlias que ali
moravam para um novo bairro, o Bairro Planalto, com toda a infra-estrutura
implantada e um parque, o Parque Unio. A rea da Rua do Buraco se torna num
grande espao verde, um grande avenida, a Avenida Zita de Oliveira, com
estacionamento, quadras poliesportivas e uma rea de lotes vagos, bastante
valorizados.
5.2. O projeto Interveno no Centro de Ipatinga
Apesar da iniciativa pblica, o projeto do Novo Centro no engloba todo o
Centro da cidade, e os outros problemas no so resolvidos. A situao irregular
das edificaes e lotes (ruas com nmeros repetidos), a falta de infra-estrutura em
algumas reas so alguns dos diversos problemas encontrados hoje.
Com a construo do Shopping do Vale do Ao
12
, afastado do Centro, o
comrcio local se abalou, mas nada que realmente afastasse os antigos
comerciantes, consumidores e usurios. Continua sendo a principal zona comercial
da cidade, mas com a implantao do shopping, eram necessrias melhorias que
atendessem as necessidades de todos os atores envolvidos com o Centro.
12
Shopping Vale do Ao localizado prximo ao Bairro Horto, inaugurado no ano de 1998.
24
O foco principal de atuao do projeto a Avenida 28 de Abril, principal
avenida da cidade. Chamada antigamente de Rua do Comrcio, ainda hoje a
principal artria comercial da cidade.
O projeto consiste em etapas de fechamento da rua, transformando-a
gradualmente numa rua de pedestres. A idia a no imposio da proposta, e sim
a criao de uma cultura, que passo a passo vai influenciando os usurios e
comerciantes locais e tambm como forma minimizar os impactos na dinmica local.
Como forma de suprir a falta de vagas de estacionamento, edifcios garagem seriam
implantados no interior das quadras adjacentes, devido ao fechamento da rua.
So trs as etapas de pedestrializao da Avenida 28 de Abril (Ver Anexos):
1 ETAPA:
- Manuteno do calamento existente;
- Alinhamento das caladas ao longo de toda a avenida;
- Aumento de 1,25 m da calada sul da avenida, utilizando pavimento
intertravado e criao de canteiros gramados;
- Diminuio do nmero de vagas.
2 ETAPA:
- Aumento de 1,25 m da calada norte da avenida, utilizando pavimento
intertravado e criao de canteiros gramados;
- Aumento de 1,00 m da calada sul da avenida, utilizando pavimento
intertravado;
- Diminuio do nmero de vagas.
25
3 ETAPA:
- Fechamento completo da avenida utilizando pavimento intertravado;
- Implantao de equipamentos, mobilirio urbano e vegetao.
Deve-se entender que as 3 etapas de implantao no se aplicam
simultaneamente em toda a avenida. Esta foi secionada em cinco quadrantes, e
cada etapa implementada passo a passo em cada um destes. A tabela abaixo
mostra de forma simplificada esta questo.
QUADRANTE C1 QUADRANTE B1 QUADRANTE A QUADRANTE B2 QUADRANTE C2
- - 1 ETAPA - -
- 1 ETAPA 2 ETAPA 1 ETAPA -
1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA 1 ETAPA
2 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 2 ETAPA
3 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA
TABELA 03: Quadrantes de interveno da Avenida 28 de Abril (BOTELHO, 2002)
FIGURA 26: Quadrantes de interveno da Avenida 28 de Abril (BOTELHO, 2002)
Desta forma se consegue conciliar o fechamento da rua, com as devidas
desapropriaes do interior das quadras e a construo dos edifcios garagem.
26
medida que se diminui as vagas de estacionamento da avenida, estas vo sendo
supridas pelos edifcios.
Tais equipamentos abrigariam ainda mais vagas do que suporta a avenida e
providenciaria uma maior segurana, como portaria, tickets numerados e
seguranas, alm de banheiros e telefones pblicos.
Os locais de implantao dos mesmos, o interior das quadras adjacentes
Avenida 28 de Abril, hoje so muito mal utilizadas. A maioria das edificaes so
comerciais e seus quintais abrigam somente puxados, e no quintais arborizados e
gramados de uso de uma nica famlia. Algumas destas quadras j abrigam
estacionamentos em seus interiores.
Os telhados serviriam como grandes coletores de gua de chuva. Esta gua
seria encaminhada atravs dos pilares a reservatrios subterrneos, podendo ento
ser utilizada na prpria caixa dgua dos banheiros, na lavagem do cho, dos
banheiros, das caladas. Deve-se aproveitar a poca do regime de chuvas como
parmetro, para obter a capacidade dos reservatrios, juntamente com a rea da
capacitao, o telhado. Na pavimentao seriam utilizados os pavimentos
intertravados.
27
FIGURAS 27 e 28: Vistas do Edifcio Garagem. Fonte: BOTELHO, 2002.
FIGURAS 29, 30 e 31: Exemplo de insero do Edifcio Garagem no centro de uma quadra.
Fonte: BOTELHO, 2002.
O projeto tambm engloba a rea do Novo Centro. Nesta rea encontra-se
um sistema virio bastante generoso, a Avenida Zita de Oliveira, com duas vias de
pista dupla alm de acostamento, que tambm serve de estacionamento. Um
estacionamento, para aproximadamente 200 vagas e 2 quadras poliesportivas.
Tambm um amplo calado, com mirantes para o Ribeiro Ipanema e uma extensa
rea gramada.
A falta de equipamentos urbanos e infra-estrutura faz desta, hoje, uma rea
bastante rida e inutilizada. So poucas as pessoas que se apropriam do espao,
que usualmente utilizado somente para estacionamento de veculos. necessria
uma maior arborizao, implantao de bebedouros, banheiros pblicos,
lanchonetes e mobilirio adequado para um maior aproveitamento do local, e no
uma rea deriva dentro do espao urbano.
28
FIGURAS 32: Mapa do Novo Centro. Fonte: Prefeitura Muni cipal de Ipatinga.
5.3. Tcnicas utilizadas para desenho urbano bioclimtico
As duas reas de interveno, a Avenida 28 de Abril e o Novo Centro
requerem tratamentos distintos, no que diz respeito ao desenho urbano bioclimtico.
Porm, o tratamento de ambos visa o mesmo objetivo: um melhor conforto trmico
para os usurios, principalmente, alm da criao de reas agradveis para o lazer,
compras, esporte.
5.3.1. AVENIDA 28 DE ABRIL
A principal interveno na Avenida 28 de Abril a transformao de uma via
bastante movimentada por veculos em uma via de pedestres. Para tanto, a
substituio do asfalto por pavimentos intertravados de concreto proporciona, no
somente um melhor conforto trmico mas tambm devido ao melhor fator de
luminncia, proporciona maior economia de energia eltrica.
29
A inrcia trmica do concreto maior do que a do asfalto, fazendo com tenha
uma maior capacidade de armazenar calor e ret-lo por um maior perodo de tempo,
ou seja, mais lenta ser a transmisso desse calor. Essa lentido chamada de
atraso ou retardo trmico.
Fator de Luminncia
COR DO BLOCO LUZ DO DIA ARTIFICIAL
Cinza claro 0,15 0,14
Cinza escuro 0,18 0,16
Marrom escuro 0,18 0,16
Marrom claro 0,29 0,27
Vermelho claro 0,18 0,16
Amarelo 0,29 0,27
Natural 0,23 0,23
Terracota 0,24 0,22
Superfcies asflti cas: 0,07
TABELA 04: Demonstra a diferena no fator de luminncia das cores propostas, em negrito,
em relao ao asfalto. (ABCP Curso Pavi mento Intertravado)
FIGURAS 33 e 34: Ilustram a diferena trmica entre o asfalto, concreto e grama, e como estes
dois lti mos so mai s agradveis. Fonte: SIERRA, 2001.
medida que a avenida for sendo pedestrializada, sero inseridos canteiros,
substituindo o asfalto por reas gramadas. Estes canteiros, alm de ser tornarem
reas para infiltrao de guas pluviais, teriam tambm a presena de vegetao,
que funcionam como filtros de radiao solar, proporcionam uma maior umidade do
ar, alm da sombra.
30
FIGURA 35: Efeito refrescante da vegetao. Fonte: ROMERO, 2000.
FIGURA 36: Pantalha vegetal sobre os caminhos de pedestre e presena de gua. Fonte:
ROMERO, 2000.
Como forma de complementar o uso destas tcnicas utilizadas na
pavimentao, equipamentos urbanos com a presena do fator gua seriam
incorporados. Uma fonte, em cada extremidade da avenida, alm de um
equipamento urbano que envolva: cascata, bancos, telefones pblicos e lixeiras, em
madeira, argamassa armada e pedra. Este seria um paredo de pedra, com uma
cascata e pergolado de madeira, que juntamente com uma vegetao adequada,
proporcionaria reas de sombra. Os bancos, lixeira e cabines telefnicas seriam de
argamassa e detalhes em madeira, policarbonato e ao.
O fator gua, utilizado como tcnica de resfriamento por evaporao, funciona
atravs de um processo chamado adiabtico. Isto acontece quando o ar passa por
uma superfcie molhada, aumentando a umidade relativa do ar. O vapor, por sua
31
capacidade de armazenar o calor, recebe, por transferncia, o calor do ar, baixando
a temperatura real. Isso proporciona um maior conforto trmico ao homem, pois o
corpo humano tem a capacidade de perder mais calor por conveco ao ar, do que
pela evaporao do suor.
FIGURAS 37, 38 e 39: Vistas da Cascata , equipada com bancos, lixei ras, telefones pblicos e
pergolado. Fonte: BOTELHO, 2004.
FIGURA 40: Corte sem escala da Cascata . Fonte: BOTELHO, 2004.
FIGURA 41: Vista da fonte proposta. Fonte: BOTELHO, 2002.
FIGURA 42: Corte sem escala da fonte. Fonte: BOTELHO, 2002.
32
Na iluminao pblica, seria expandido o programa de energia solar, j
incorporado num trecho de 400m na Avenida Itlia, no Bairro Cariru e no Parque
Ipanema. No Cariru esto em funcionamento 19 postes, cada um com um sistema
fotovoltico independente. O sistema composto de duas placas, importadas do
J apo, que captam os raios solares. As clulas fotovolticas convertem os raios em
energia eltrica que armazenada numa bateria automotiva com capacidade para
150 ampres por hora. Essa carga alimenta a lmpada especial de 36 watts a vapor
de sdio de baixa presso, importada da Inglaterra, que funciona com 12 volts em
corrente contnua, o equivalente a cerca de 30 ampres so consumidos por noite.
Desse modo o sistema pode funcionar at cinco noites sem receber carga nenhuma.
As placas podem captar raios solares mesmo em dias nublados, e s em presena
de nuvens muito negras e baixas e sob chuva, elas param de funcionar. O uso da
energia solar alm de oferecer energia limpa, econmica e esteticamente agradvel
dispensa fios, transformadores e outros equipamentos comuns no sistema eltrico
tradicional.
FIGURAS 43, 44 e 45: Projeto de Energia Sol ar na Avenida Itl ia, no Bairro Cariru. Fonte:
Prefeitura Municipal de Ipatinga.
33
5.3.2. NOVO CENTRO
O maior problema do Novo Centro a necessidade de vegetao e
equipamentos urbanos adequados ao seu uso pleno. As amplas caladas e as
quadras poliesportivas so mal aproveitadas devido aridez do local.
Nas caladas, rvores com copas generosas, para criar um clima mais
agradvel com sombra. Equipamentos como bancos, lixeiras, bebedouros,
banheiros pblicos e lanchonetes tambm ocupariam este espao, principalmente os
mirantes ao longo da calada.
No s as caladas, mas toda a rea verde ao longo do Ribeiro Ipanema
receberiam tais equipamentos. Uma vegetao abundante tambm, afim de
transformar o local em um espao voltado ao lazer e esporte. Infra-estrutura para
caminhadas, corridas e exerccios fsicos seriam incorporados ao projeto, sempre
utilizando-se dos materiais j mencionados, alm da utilizao da energia solar na
iluminao. O Ribeiro Ipanema se encaixaria como o fator gua neste local,
proporcionando o processo adiabtico.
FIGURAS 46 e 47: Vistas areas do Novo Centro atualmente. Na pri mei ra, v-se a Usi minas ao
fundo esquerda e na segunda di reta. Observa-se a aridez do local, completamente
desprovido de vegetao. Fonte: Prefeitura Munici pal de Ipatinga.
34
6. CONCLUSO
O planejamento urbano, visando principalmente intervenes no tecido
urbano afeta uma gama enorme da populao de um determinado lugar. Neste
caso especfico, a interveno no Centro de Ipatinga estaria afetando de maneira
geral toda a cidade, pois o plo principal do comrcio.
Utilizando-se o princpio bioclimtico como partido para o desenho urbano,
dando enfoque ao conforto trmico, de uma maneira geral possvel agradar grande
parte desta populao. O homem e as trocas trmicas que este faz com o meio
so de extrema importncia neste campo do planejamento, pois somando estas
informaes com as caractersticas do clima obtm-se os parmetros necessrios
para iniciar o processo projetual.
O microclima local caracterizado como sub-quente e sub-seco.
Apresentando temperaturas elevadas em mdia, durante todo o ano, mas contando
com uma umidade relativa do ar razoavelmente alta, as tcnicas de controle do calor
se mesclam entre o clima quente mido e clima quente seco. Assim, uma das
maiores preocupaes o controle de radiao direta e difusa no espao pblico e a
diminuio da temperatura. Para tanto, a utilizao de vegetao e gua nos nestes
espaos, juntamente com materiais mais adequados ao clima, tm-se a capacidade
de obter os resultados satisfatrios de conforto trmico ao homem.
35
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
______. Vale do Ao 2000, um sculo de histria. Ipatinga, Dirio do Ao, 1999.
_______. Curso Bsico de Pavimentos Intertravados. Curso proferido pela ABCP em
Belo Horizonte, Abril 2002.
Associao Brasileira de Cimento Portland - ABCP. http://www.abcp.com.br
BOTELHO, Danilo. Revitalizao do Centro de Ipatinga. Trabalho Final de
Graduao, Dezembro 2002.
Centro de Previso do Tempo e Estudos Climticos - CPTEC.
http://www.cptec.inpe.br
CUNHA, Helenice R. dos S. Padro PUC Minas de normalizao: normas da ABNT
para apresentao de trabalhos cientficos, teses, dissertaes e monografias.
Biblioteca PUC Minas, atualizado em fevereiro de 2004.
HERTZ, J ohn B. Ecotcnicas em arquitetura: como projetar nos trpicos midos do
Brasil. So Paulo, Pioneira, 1988.
Informaes Climticas. http://www.climabrasileiro.hpg.com.br
INFOTempo. http://www.infotempo.com.br
KRAUSE, Cludia B. Bioclimatismo no projeto de arquitetura: dicas de projeto.
Apostila do Curso de Graduo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ ,
2002.
Portal do Cidado Prefeitura Municipal de Ipatinga. http://www.ipatinga.mg.gov.br
ROMERO, M. A. B. Princpios biolcimticos para o desenho urbano. So Paulo,
ProEditores, 2000.
SIERRA, J . F.; RAMIREZ, W. E.; HERNANDEZ, H. Calor en superficie: pisos para el
espacio pblico en clima clido tropical aporte radiante de las superficies de piso en
la sensacin trmica del transente. Estudo realizado na cidade de Medelln,
Colmbia, 2001.
http://www.unalmed.edu.co/~emat/4portaf/pdf/piso/index.htm
36
ANEXOS
37
38
39
Você também pode gostar
- Cnu Bloco 8 - Realidade Brasileira 2 A 15Documento170 páginasCnu Bloco 8 - Realidade Brasileira 2 A 15luksfred26850% (2)
- Piauí Colonial - População, Economia e Sociedade (Luiz Mott, 1985)Documento73 páginasPiauí Colonial - População, Economia e Sociedade (Luiz Mott, 1985)R. D.100% (3)
- Plano Diretor GuanhaesDocumento120 páginasPlano Diretor GuanhaesArthur.AAinda não há avaliações
- Apostila Agronegócio Módulo IDocumento98 páginasApostila Agronegócio Módulo IFabio GalvaoAinda não há avaliações
- Monografia Vila Maria Zélia CompletaDocumento25 páginasMonografia Vila Maria Zélia CompletaVanessaArqd100% (1)
- Planos de Urbanismo para As Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica No Cenário Urbanístico Da Bahia Dos Anos 30.Documento18 páginasPlanos de Urbanismo para As Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica No Cenário Urbanístico Da Bahia Dos Anos 30.Edson FernandesAinda não há avaliações
- Italianos em Taubaté PDFDocumento129 páginasItalianos em Taubaté PDFJarbas JuniorAinda não há avaliações
- Como Surgiu IpatingaDocumento12 páginasComo Surgiu IpatingaAna Glaicy Filgueiras100% (1)
- Levantamentos TecnicosDocumento112 páginasLevantamentos TecnicosRafaela PiresAinda não há avaliações
- A Urbanizacao e A Incorporacao Das VarzeDocumento28 páginasA Urbanizacao e A Incorporacao Das VarzeProfessoraDaisyRafaelaAinda não há avaliações
- Planejamento UrbanoDocumento19 páginasPlanejamento Urbanostela mouraAinda não há avaliações
- Trabalho Douglas - ItapinaDocumento13 páginasTrabalho Douglas - ItapinaMarcia Cristina de OLiveira MouraAinda não há avaliações
- PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL URBANO o Caso Do Forte Do Santo Antonio À Luz Do Pensamento de Ulpiano Bezerra de MenesesDocumento23 páginasPATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL URBANO o Caso Do Forte Do Santo Antonio À Luz Do Pensamento de Ulpiano Bezerra de MenesesTafnes AAinda não há avaliações
- 5COLOQUIODAPAISAGEMDocumento2.307 páginas5COLOQUIODAPAISAGEMMarilia Gomes CeolinAinda não há avaliações
- A Cidade e A SecaDocumento12 páginasA Cidade e A Secajeancarlos12Ainda não há avaliações
- PASSOS Elaboração Projeto de DrenagemDocumento22 páginasPASSOS Elaboração Projeto de DrenagemVinícius Honse DidóAinda não há avaliações
- Pmma Presidente Prudente FinalDocumento62 páginasPmma Presidente Prudente FinalCarolaine CordeiroAinda não há avaliações
- Artigo Imobiliario HistoriaDocumento31 páginasArtigo Imobiliario HistoriarogeriobsoaresAinda não há avaliações
- 1habitação Social e Higienismo - Luciana NemerDocumento11 páginas1habitação Social e Higienismo - Luciana NemerPatricia PintoAinda não há avaliações
- Brumadinho Texto CompactoDocumento7 páginasBrumadinho Texto CompactoMarianaRibPereiraAinda não há avaliações
- Artigo+vol +18 2+-+23+ (Diagramado)Documento25 páginasArtigo+vol +18 2+-+23+ (Diagramado)Pedro Alberto Cruz de Souza GomesAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, G. Sintese Historica Predio SEE - TextoDocumento34 páginasOLIVEIRA, G. Sintese Historica Predio SEE - TextodvdgeoAinda não há avaliações
- Relatório Parcial Dia 18 2Documento16 páginasRelatório Parcial Dia 18 2MattAinda não há avaliações
- Guia Didático - Histórico de Educação PatrimonialDocumento55 páginasGuia Didático - Histórico de Educação PatrimonialElvis RodriguesAinda não há avaliações
- RELATORIO PNMAE InstitutoMaoNaJaca R01Documento83 páginasRELATORIO PNMAE InstitutoMaoNaJaca R01João CaldasAinda não há avaliações
- Cadastramento - RestauroDocumento17 páginasCadastramento - RestauroEverllynn CardosoAinda não há avaliações
- Jornal O Espeto 794Documento28 páginasJornal O Espeto 794Luiz RicardoAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento21 páginasIntroduçãoEnzo Galasso Shin-KitsuneAinda não há avaliações
- Anuario Santo AndreDocumento385 páginasAnuario Santo AndreEstefa Souza DamianiAinda não há avaliações
- Plano Regional Ipiranga - Quadro AnaliíticoDocumento23 páginasPlano Regional Ipiranga - Quadro AnaliíticoConsultor BrêtasAinda não há avaliações
- Atividade Extensionista IVDocumento10 páginasAtividade Extensionista IVc4rol.bueno.m4fr4Ainda não há avaliações
- O Primeiro Plano de Urbanização Do Barreiro (1948-1957)Documento111 páginasO Primeiro Plano de Urbanização Do Barreiro (1948-1957)juanelporras2Ainda não há avaliações
- PGDocumento4 páginasPGAndressaAlessandraAinda não há avaliações
- Bairro Vorstadt - Blumenau/ SCDocumento12 páginasBairro Vorstadt - Blumenau/ SCBruno KonsAinda não há avaliações
- Lógicas de Valorização Do Bairro de ItapuãDocumento20 páginasLógicas de Valorização Do Bairro de ItapuãCanal GeografácilAinda não há avaliações
- Projeto AdutoraDocumento17 páginasProjeto AdutoraJuliana CabralAinda não há avaliações
- Ecoturismo em Bonito: IntroduçãoDocumento17 páginasEcoturismo em Bonito: IntroduçãoProf_WolffAinda não há avaliações
- TCC Naiara SerraDocumento29 páginasTCC Naiara SerraNaiara SerraAinda não há avaliações
- A Visualidade Da Cidade Industrial Na Fotografia - o Caso IpatingaDocumento18 páginasA Visualidade Da Cidade Industrial Na Fotografia - o Caso IpatingarodzeferAinda não há avaliações
- Trezentão de Geografia e História de ImperatrizDocumento47 páginasTrezentão de Geografia e História de ImperatrizVitor FilhoAinda não há avaliações
- Artigo Luciana Nemer PDFDocumento12 páginasArtigo Luciana Nemer PDFJefferson TomazAinda não há avaliações
- 8c2ba Ano Cic3aanc Hum Ativ Fort FinalDocumento5 páginas8c2ba Ano Cic3aanc Hum Ativ Fort FinalFilipeAinda não há avaliações
- A Freguesia de São Martinho - Ilha Da MadeiraDocumento194 páginasA Freguesia de São Martinho - Ilha Da MadeiraVinícius Misael LimaAinda não há avaliações
- Mudanças de Funcionalidade Na Cidade de Diamantina/MGDocumento70 páginasMudanças de Funcionalidade Na Cidade de Diamantina/MGAlessandro BorsagliAinda não há avaliações
- Território Brasileiro: Atividades Econômicas (Parte 2) : 7º ANO Aula 2 - 2º BimestreDocumento24 páginasTerritório Brasileiro: Atividades Econômicas (Parte 2) : 7º ANO Aula 2 - 2º BimestreRui JúniorAinda não há avaliações
- Isabelle Fagundes de Araujo 1808503 MonografiaDocumento58 páginasIsabelle Fagundes de Araujo 1808503 MonografiaIsabelle FagundesAinda não há avaliações
- 259-Texto Do Artigo-998-1-10-20181006Documento18 páginas259-Texto Do Artigo-998-1-10-20181006Marcello CoutinhoAinda não há avaliações
- Relatório Geografia Aplicada Ao Meio AmbienteDocumento11 páginasRelatório Geografia Aplicada Ao Meio AmbienteÂngela Ribeiro CarvalhoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Do MéierDocumento28 páginasDesenvolvimento Do MéierHugo ReisAinda não há avaliações
- Nuno Portas Power PointDocumento3 páginasNuno Portas Power PointJoana SousaAinda não há avaliações
- Universidade Anhanguera de São Paulo PDFDocumento23 páginasUniversidade Anhanguera de São Paulo PDFbuavinhaAinda não há avaliações
- GONÇALVES, Manuella Silva Miranda. Requalificação Do Balneário de Ponto Novo.2022.Engenheiro Coelho, São Paulo.-1Documento45 páginasGONÇALVES, Manuella Silva Miranda. Requalificação Do Balneário de Ponto Novo.2022.Engenheiro Coelho, São Paulo.-1Manu MirandaAinda não há avaliações
- Trabalho Extensão INTRODUÇÃODocumento6 páginasTrabalho Extensão INTRODUÇÃOtiago.goncalvesAinda não há avaliações
- Pontos Turísticos de Maringá - Trabalho de Humanas.Documento12 páginasPontos Turísticos de Maringá - Trabalho de Humanas.Heloisa Oliveira da CostaAinda não há avaliações
- Doc. FepasaDocumento8 páginasDoc. FepasapsartorelauraAinda não há avaliações
- Caderno Pedagogico FinalDocumento12 páginasCaderno Pedagogico FinalROGERIO GuimarãesAinda não há avaliações
- Raça Cultura e Disputa Territorial, o Caso Do Príncipe NegroDocumento19 páginasRaça Cultura e Disputa Territorial, o Caso Do Príncipe NegroGleuson PinheiroAinda não há avaliações
- O Plano "Prestes Maia" e A Ideologia Do Planejamento Urbano em CampinasDocumento25 páginasO Plano "Prestes Maia" e A Ideologia Do Planejamento Urbano em CampinasJéssica De Almeida PolitoAinda não há avaliações
- Análise e Vistoria Prediso Tombados JoinvilleDocumento38 páginasAnálise e Vistoria Prediso Tombados JoinvilleAri CostaAinda não há avaliações
- Memoria e Prospectiva 2Documento84 páginasMemoria e Prospectiva 2Jose Fernando CarvalhoAinda não há avaliações
- Cópia de Normas AbntDocumento15 páginasCópia de Normas AbntPedro HenriqueAinda não há avaliações
- CAVALCANTI, Themístocles Brandão - Política e TecnocraciaDocumento18 páginasCAVALCANTI, Themístocles Brandão - Política e TecnocraciaDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- A Metástase - Revista PiauíDocumento23 páginasA Metástase - Revista PiauíDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Guia Do Churrasqueiro - Erros Comuns e DicasDocumento16 páginasGuia Do Churrasqueiro - Erros Comuns e DicasDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- 1899 1900 Bernardo Pinto MonteiroDocumento36 páginas1899 1900 Bernardo Pinto MonteiroDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Vida de Solteiro - Suspiros & Desatinos PDFDocumento2 páginasVida de Solteiro - Suspiros & Desatinos PDFDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Cifra Club - CANÇÃO DA DESPEDIDA - Canções EscoteirasDocumento1 páginaCifra Club - CANÇÃO DA DESPEDIDA - Canções EscoteirasDanilo BotelhoAinda não há avaliações
- Projeto e Execução Da Casa Ecoeficiente - Campina GrandeDocumento12 páginasProjeto e Execução Da Casa Ecoeficiente - Campina GrandeDanilo Botelho100% (1)
- Aula 03 As Atividades Econômicas e A Organização Do EspaçoDocumento55 páginasAula 03 As Atividades Econômicas e A Organização Do EspaçoNielsen10Ainda não há avaliações
- Colégio Naval - 14-15 (Port-Est. Sociais e Ciências)Documento27 páginasColégio Naval - 14-15 (Port-Est. Sociais e Ciências)Adilson SantosAinda não há avaliações
- Guia Medico Sergipe - PlamedDocumento13 páginasGuia Medico Sergipe - PlamedrosigomesaAinda não há avaliações
- Atualização Diamantina Divulgada em 02.04.2015 PDFDocumento35 páginasAtualização Diamantina Divulgada em 02.04.2015 PDFEiAnAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Ruy MoreiraDocumento4 páginasFichamento Do Texto Ruy MoreiraCesar Augusto SilvaAinda não há avaliações
- Prova Da 3a Fase - Pss 2009Documento30 páginasProva Da 3a Fase - Pss 2009Wellington SousaAinda não há avaliações
- Contratos Dez 12v1Documento704 páginasContratos Dez 12v1xp2015toAinda não há avaliações
- Resumo Geografia ESA PDFDocumento4 páginasResumo Geografia ESA PDFPatrick Mendonça100% (1)
- TESTE 1 GeografiaDocumento4 páginasTESTE 1 GeografiaAGLAAinda não há avaliações
- Proximoato Isuu PDFDocumento258 páginasProximoato Isuu PDFMarcio CastroAinda não há avaliações
- Regiões BrasileirasDocumento11 páginasRegiões BrasileirasEdilbertoAinda não há avaliações
- Crise e Dinâmica Das Estruturas Produtivas Regionais No BrasilDocumento19 páginasCrise e Dinâmica Das Estruturas Produtivas Regionais No BrasilClaudio A. G. EglerAinda não há avaliações
- Curso 83410 Simulado VI Espcex v3 PDFDocumento33 páginasCurso 83410 Simulado VI Espcex v3 PDFGabriel dekkssAinda não há avaliações
- 8° Coletânea 8° Ano ScherrerDocumento13 páginas8° Coletânea 8° Ano ScherrerAlex MáximoAinda não há avaliações
- ESA - 12º SimuladoDocumento17 páginasESA - 12º SimuladoMarcelo SilvaAinda não há avaliações
- GeografiaDocumento17 páginasGeografiaMarjoly Mattiolli TanureAinda não há avaliações
- Curso 89665 Aula 00 Af84 CompletoDocumento85 páginasCurso 89665 Aula 00 Af84 CompletoSammuel FabricioAinda não há avaliações
- Regiões Do Brasil RevisaoDocumento3 páginasRegiões Do Brasil RevisaomahmonteiroAinda não há avaliações
- Desafios CPB CbatDocumento2 páginasDesafios CPB Cbatb250131Ainda não há avaliações
- E Book BoletimZdeZSafrasZ Z2oZlevantamento 1Documento93 páginasE Book BoletimZdeZSafrasZ Z2oZlevantamento 1Nacho EtchartAinda não há avaliações
- Complexo Nordestino ExerciciosDocumento9 páginasComplexo Nordestino ExerciciosJessica FontesAinda não há avaliações
- Climas Do BrasilDocumento3 páginasClimas Do BrasilRoberson Cardoso VieiraAinda não há avaliações
- Mulheres Perspectivas 05-07-2017Documento356 páginasMulheres Perspectivas 05-07-2017Sariza Caetano100% (3)
- Exercícios: Comércio Exterior BRASIL - 1984-93Documento5 páginasExercícios: Comércio Exterior BRASIL - 1984-93Wycttor GhusthavoAinda não há avaliações
- Mapa Mental Expansão TerritorialDocumento1 páginaMapa Mental Expansão TerritorialksazzeAinda não há avaliações
- 500 Anos Uso Solo PDFDocumento624 páginas500 Anos Uso Solo PDFpetter_355279Ainda não há avaliações
- Slides Sobre Agentes Do Espaço UrbanoDocumento10 páginasSlides Sobre Agentes Do Espaço UrbanogoiabanecessariamenteamarelaAinda não há avaliações
- Formação Territorial Do Brasil 3º Semestre-1Documento4 páginasFormação Territorial Do Brasil 3º Semestre-1liagost18Ainda não há avaliações