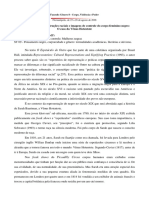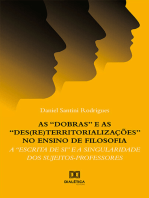Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Interrogando A Identidade Homi K. Bhabha Tradução: Myriam Ávila Eliana Lourenço de Lima Reis Gláucia Renate Gonçalves
Interrogando A Identidade Homi K. Bhabha Tradução: Myriam Ávila Eliana Lourenço de Lima Reis Gláucia Renate Gonçalves
Enviado por
Flavia Miller Naethe MottaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Interrogando A Identidade Homi K. Bhabha Tradução: Myriam Ávila Eliana Lourenço de Lima Reis Gláucia Renate Gonçalves
Interrogando A Identidade Homi K. Bhabha Tradução: Myriam Ávila Eliana Lourenço de Lima Reis Gláucia Renate Gonçalves
Enviado por
Flavia Miller Naethe MottaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Homi K.
Bhabha
Interrogando a Identidade
Interrogando a identidade
Homi K. Bhabha
Traduo:
Myriam vila
Eliana Loureno de Lima Reis
Glucia Renate Gonalves
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. Interrogando a identidade. p.70-104.
Comentrio: Sabine Mabordi (UBC - University of British Columbia)
Traduo do comentrio: Mariana Lustosa (UFRGS)
INTERROGANDO A IDENTIDADE
Ler Fanon vivenciar a noo de diviso que prefigura - e fende - a emergncia de um pensamento
verdadeiramente radical que nunca vem luz sem projetar uma obscuridade incerta. Fanon o provedor da verdade
transgressiva e transicional. Ele pode ansiar pela transformao total do Homem e da Sociedade, mas fala de modo
mais eficaz a partir dos interstcios incertos da mudana histrica: da rea de ambivalncia entre raa e sexualidade, do
bojo de uma contradio insolvel entre cultura e classe, do mais fundo da batalha entre representao psquica e
realidade social. Sua voz ouvida de forma mais clara na virada subversiva de um termo familiar, no silncio de uma
ruptura repentina: O negro no . Nem tampouco o branco1. A incmoda diviso que quebra sua linha de pensamento
mantm viva a dramtica e enigmtica sensao de mudana. Aquele alinhamento familiar de sujeitos coloniais Negro/Branco, Eu/Outro - perturbado por meio de uma breve pausa e as bases tradicionais da identidade racial so
dispersadas, sempre que se descobre serem elas fundadas nos mitos narcisistas da negritude ou da supremacia
cultural branca. esta presso palpvel da diviso e do deslocamento que leva a escrita de Fanon para a extremidade
das coisas - a extremidade cortante que no revela nenhuma iluminao ltima mas, em suas palavras, "expunha uma
declividade completamente nua de onde pode nascer uma autntica sublevao"2.
O hospital psiquitrico de Blida-Joinville um desses lugares em que, no mundo dividido da Arglia francesa, Fanon
descobriu a impossibilidade de sua misso como psiquiatra colonial:
Se a psiquiatria a tcnica mdica que tem como meta permitir que o homem no se sinta mais um estranho
em seu ambiente, devo a mim mesmo a afirmao de que o rabe, permanentemente estrangeiro em seu prprio pas,
vive em um estado de absoluta despersonalizao... A estrutura social existente na Arglia era hostil a qualquer
tentativa de conduzir o indivduo de volta ao seu devido lugar.3
O carter extremo dessa alienao colonial da pessoa - esse fim da "idia" do indivduo - produz uma urgncia
inquieta na busca de Fanon por uma forma conceitual apropriada para o antagonismo social da relao colonial. O
corpo de sua obra fende-se entre uma dialtica hegeliano-marxista, uma afirmao fenomenolgica do Eu e do Outro e
a ambivalncia psicanalstica do Inconsciente. Em sua busca desesperada e v por uma dialtica da libertao, Fanon
explora a extremidade desses modos de pensamento: seu hegelianismo devolve a esperana histria; sua evocao
existencialista do "Eu" restaura a presena do marginalizado; sua moldura psicanaltica ilumina a loucura do racismo, o
prazer da dor, a fantasia agonstica do poder poltico.
1
2
3
FANON, F. Black Skin, White Masks. London: Pluto, 1986. p. 231. (Intrduo de H. K. Bhabha). (Grifo meu).
Ibiden. p. 218.
FANON, F. Toward the African Revolution. Harmondsworth: Pelican, 1967. p. 63.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
Ao tentar empreender essas transformaes audaciosas, freqente- mente impossveis, da verdade e do valor, o
testemunho spero da deslocao colonial, seu deslocamento de tempo e pessoa, sua profanao de cultura e
territrio, Fanon recusa a ambio de qualquer teoria total da opresso colonial. O volu antilhano, profundamente
ferido pelo olhar de relance de uma criana branca amedrontada e confusa; o esteretipo do nativo fixado nas fronteiras
deslizantes entre barbrie e civilidade; o medo e desejo insaciveis pelo negro: "Nossas mulheres esto merc dos
pretos... Sabe Deus como eles fazem amor"4; o profundo medo cultural do negro figurado no tremor psquico da
sexualidade ocidental - so esses signos e sintomas da condio colonial que levam Fanon de um esquema conceitual
a outro, enquanto a relao colonial toma forma nas lacunas entre eles, articulada aos em bates intrpidos de seu
estilo. medida que os textos de Fanon se desenrolam, o fato cientfico passa a ser confrontado pela experincia das
ruas; observaes sociolgicas so intercaladas por artefatos literrios e a poesia da libertao criada rente prosa
pesada, mortal, do mundo colonizado.
Qual a fora especfica da viso de Fanon? Ela vem, creio, da tradio do oprimido, da linguagem de uma
conscincia revolucionria de que, como sugere Walter Benjamin, "o estado de emergncia em que vivemos no a
exceo, mas a regra. Temos de nos ater a um conceito de histria que corresponda a esta viso5. E o estado de
emergncia tambm sempre um es tado de emergncia [de vir tona]. A luta contra a opresso colonial no apenas
muda a direo da histria ocidental, mas tambm contesta sua idia historicista de tempo como um todo progressivo e
ordenado. A anlise da despersonalizao colonial no somente aliena a idia iluminista do "Homem", mas contesta
tambm a transparncia da realidade social como imagem pr-dada do conhecimento humano. Se a ordem do
historicismo ocidental perturbada pelo estado colonial de emergncia, mais profundamente perturbada a
representao social e psquica do sujeito humano. Isso porque a prpria natureza da humanidade se aliena na
condio colonial e a partir daquela "declividade nua" ela emerge, no como uma afirmao da vontade nem como
evocao da liberdade, mas como uma indagao enigmtica. Ao ecoar a pergunta de Freud, "O que quer a mulher?",
Fanon se posiciona para confrontar o mundo colonizado. "O que quer um homem?", indaga ele na introduo a Black
Skin, White Masks [Pele Negra, Mscaras Brancas]; "O que deseja o homem negro?"
A esta indagao carregada, onde a alienao cultural incide sobre a ambivalncia da identificao psquica,
Fanon responde com uma encenao angustiante de auto-imagens:
"Eu tinha de olhar do homem branco nos olhos. Um peso desconhecido me oprimia. No mundo branco o homem de cor
encontra dificuldades no desenvolvimento de seu esquema corporal... Eu era atacado por tants, canibalismo,
deficincia intelectual, fetichismo, deficincias raciais... Transportei-me para bem longe de minha prpria presena... O
que mais me restava seno uma amputao, uma exciso, uma hemorragia que me manchava todo o corpo de sangue
negro?"6
De dentro da metfora da viso que compactua com uma metafsica ocidental do Homem, emerge o deslocamento da
relao colonial. A presena negra atravessa a narrativa representativa do conceito de pessoa ocidental: seu passado
amarrado a traioeiros esteretipos de primitivismo e degenerao no produzir uma histria de progresso civil, um
espao para o Socius; seu presente, desmembrado e deslocado, no conter a imagem de identidade que
questionada na dialtica mente/corpo e resolvida na epistemologia da aparncia e realidade. Os olhos do homem
branco destroam o corpo do homem negro e nesse ato de violncia epistemolgica turbado.
O que quer o homem negro?", insiste Fanon, e, ao privilegiar a dimenso psquica, ele no apenas muda o que
entendemos por demanda poltica como transforma os prprios meios pelos quais reconhecemos e identificamos sua
agncia humana. Fanon no est principalmente levantando a questo da opresso poltica como violao de uma
essncia humana, embora ele caia em uma lamentao desse tipo em seus momentos mais existenciais. Ele no est
levantando a questo do homem colonial nos termos universalistas do humanista-liberal (De que forma o colonialismo
nega os Direitos do Homem?), nem levanta uma questo ontolgica sobre o ser do Homem (Quem o homem colonial
alienado?). A pergunta de Fanon endereada no a uma noo unificada de histria nem a um conceito unitrio de
homem.
Uma das qualidades originais e perturbadoras de Pele Negra, Mscaras Brancas historicizar raramente a experincia
colonial. No h narrativa mestra ou perspectiva realista que fornea um repertrio de fatos sociais e histricos contra
os quais emergiriam os problemas da psique individual ou coletiva. Tal alinhamento sociolgico tradicional do Eu e da
Sociedade ou da Histria e da Psique torna-se questionvel na identificao que Fanon faz do sujeito colonial que
historicizado na associao heterognea dos textos da histria, da literatura, da cincia, do mito. O sujeito colonial
4
5
6
FANON, F. Black Skin, White Masks, p.157-158.
BENJAMIN, W. Illuminations. New York: Schocken Books, 1968. These on the philosophy of history, p.257.
FANON, F. Black Skin, White Masks, p.110-112.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
sempre "sobredeterminado de fora", escreve Fanon.7 atravs da imagem e da fantasia - aquelas ordens que figuram
transgressivamente nas bordas da histria e do inconsciente - que Fanon evoca a condio colonial de forma mais
profunda.
Ao articular o problema da alienao cultural colonial na linguagem psicanaltica da demanda e do desejo, Fanon
questiona radicalmente a formao tanto da autoridade individual como da social na forma como vm a se desenvolver
no discurso da soberania social. As virtudes sociais da racionalidade histrica, da coeso cultural, da autonomia da
conscincia individual, assumem uma identidade imediata, utpica, com os sujeitos aos quais conferem uma condio
civil. O estado civil a expresso ltima da tendncia inata tica e racional da mente humana; o instinto social o
destino progressivo da natureza humana, a transio necessria da Natureza Cultura. O acesso direto dos interesses
individuais autoridade social objetificado na estrutura representati va de uma Vontade Geral - Lei ou Cultura - onde
Psique e Sociedade se espelham, traduzindo transparentemente sua diferena, sem perda, em uma totalidade histrica.
As formas de alienao e agresso psquica e social - a loucura, o dio a si mesmo, a traio, a violncia - nunca
podem ser reconhecidas como condies definidas e constitutivas da autoridade civil, ou como os efeitos ambivalentes
do prprio instinto social. Elas so sempre explicadas como presenas estrangeiras, ocluses do progresso histrico, a
forma extrema de percepo equivocada do Homem.
Para Fanon, tal mito do Homem e da Sociedade fundamentalmente minado na situao colonial. A vida cotidiana
exibe uma "constelao de delrio" que medeia as relaes sociais normais de seus sujeitos: "O preto escravizado por
sua inferioridade, o branco escravizado por sua superiori dade, ambos se comportam de acordo com uma orientao
neurtica"8.
A demanda de Fanon por uma explicao psicanaltica emerge das reflexes perversas da virtude civil nos atos
alienantes do governo colonial: a visibilidade da mumificao cultural na ambio declarada do colonizador de civilizar
ou modernizar o nativo, que resulta em "instituies arcaicas inertes [que funcionam] sob a superviso do opressor
como uma caricatura de instituies anteriormente frteis"9; a validade da violncia na prpria definio do espao
social colonial; a viabilidade das imagens febris, fantasmticas, do dio racial, que sero absorvidas e encenadas na
sabedoria do Ocidente. Essas interposies, na verdade colaboraes, da violncia poltica e psquica no interior da
virtude cvica, a alienao no interior da identidade, levam Fanon a descrever a ciso do espao da conscincia e da
sociedade coloniais como marcada por um "delrio maniquesta".
A figura representativa dessa perverso, como pretendo sugerir, a imagem do homem ps-iluminista amarrado a, e
no confrontado por, seu reflexo escuro, a sombra do homem colonizado, que fende sua presena, distorce seu
contorno, rompe suas fronteiras, repete sua ao distncia, perturba e divide o prprio tempo de seu ser. A
identificao ambivalente do mundo racista - movendo-se em dois planos sem ser de modo algum incomodada por ele,
como diz Sartre sobre a conscincia anti-semtica, gira em torno da idia do homem como sua imagem alienada; no o
Eu e o Outro, mas a alteridade do Eu inscrita no palimpsesto perverso da identidade colonial. E aquela figura bizarra
do desejo, que se fende ao longo do eixo em torno do qual gira, que compele Fanon a fazer a pergunta psicanaltica do
desejo do sujeito condio histrica do homem colonial.
"O que freqentemente chamado de alma negra um artefato do homem branco," escreve Fanon.10 Esta
transferncia diz ainda outra coisa. Ela revela a profunda incerteza psquica da prpria relao colonial: suas
representaes fendidas so o palco da diviso entre corpo e alma que encena o artifcio da identidade, uma diviso
que atravessa a frgil pele - negra e branca - da autoridade individual e social. Emergem das trs condies que esto
subjacentes a uma compreenso do processo de identificao na analtica do desejo.
Primeira: existir ser chamado existncia em relao a uma alteridade, seu olhar ou locus. urna demanda que se
estende em direo a um objeto externo e, como escreve Jacqueline Rose, " a relao dessa demanda com o lugar
do objeto que ela reivindica que se torna a base da identificao"11. Este processo visvel na troca de olhares entre o
nativo e o colono, que estrutura sua relao psquica na fantasia paranide da posse sem limites e sua linguagem
familiar de reverso: "Quando seus olhares se encontram, ele [o colono] verifica com amargura, sempre na defensiva,
que 'Eles querem tomar nosso lugar'. E verdade, pois no h um nativo que no sonhe pelo menos uma vez por dia
se ver no lugar do colono".12 sempre em relao ao lugar do Outro que o desejo colonial articulado: o espao
7
8
9
Ibidem. p.116.
FANON, F. The Wretched of the Earth. Harmondsworth: Penguin, 1969. Concerning violence.
Idem.
10
11
12
FANON, F. Black Skin, White Masks, p.16.
ROSE, J. The imaginbary. In: MacCABE, Colin. (Ed.). The Talking Cure. London: Macmillan, 1981.
FANON, F. Concerning violence, p.30.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
fantasmtico da posse, que nenhum sujeito pode ocupar sozinho ou de modo fixo e, portanto, permite o sonho da
inverso dos papis.
Segunda: O prprio lugar da identificao, retido na tenso da demanda e do desejo, um espao de ciso. A fantasia
do nativo precisamente ocupar o lugar do senhor enquanto mantm seu lugar no rancor vingativo do escravo. "Pele
negra, mscaras brancas" no uma diviso precisa; uma imagem duplicadora, dissimuladora do ser em pelo menos
dois lugares ao mesmo tempo, que torna impossvel para o volu desva lorizado, insacivel (um abandono neurtico,
afirma Fanon) aceitar o convite do colonizador identidade: "Voc um mdico, um escritor, um estudante, voc
diferente, voc um de ns". precisamente naquele uso ambivalente de "diferente" - ser diferente daqueles que so
diferentes faz de voc o mesmo - que o Inconsciente fala da forma da alteridade, a sombra amarrada do adiamento e
do desloca-mento. No o Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a perturbadora distncia entre os dois que
constitui a figura da alteridade colonial - o artifcio do homem branco inscrito no corpo do homem negro. em relao a
esse objeto impossvel que emerge o problema liminar da identidade colonial e suas vicissitudes.
Finalmente, a questo da identificao nunca a afirmao de uma identidade pr-dada, nunca uma profecia
autocumpridora - sempre a produo de uma imagem de identidade e a transformao do sujeito ao assumir aquela
imagem. A demanda da identificao - isto , ser para um Outro - implica a representao do sujeito na ordem
diferenciadora da alteridade. A identificao, como inferimos dos exemplos precedentes, sempre o retorno de uma
imagem de identidade que traz a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem. Para Fanon, como para Lacan,
os momentos primrios dessa repetio do eu residem no desejo do olhar e nos limites da linguagem. A "atmosfera de
certa incerteza" que envolve o corpo atesta sua existncia e o ameaa de desmembramento.
II
Ouam o meu amigo Adil Jussawalla, poeta de Bombaim, que escreve sobre a "pessoa desapareci da" que assombra a
identidade da burguesia ps-colonial:
No Satan
warmed in the electric coils of his creatures
or Gunga Din
will make him come before you.
To see an invisible man or a missing person,
trust no Eng. Lit. That
puffs him up, narrows his eyes,
scratches his fangs. Caliban
is still not IT.
But faintly pencilled
Behind a shirt...
savage of no sensational paint,
fangs cancelled.
[Nenhum Sat
aquecido nas espirais eltricas de suas criaturas
ou Gunga Din
ir fazer com que ele venha at voc.
Para ver um homem invisvel ou uma pessoa desaparecida,
no confie na Lit. Ing. Ela
o dilata com seu sopro, estreita-lhe os olhos,
lixa suas presas. Calib
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
ainda no Isso.
Mas levemente delineado
atrs de uma camisa...
...
selvagem sem pintura berrante
presas anuladas].13
Enquanto essa voz vacila, ouam o seu eco nos versos de uma mulher negra, descendente de escravos, que
escreve sobre a dispora:
We arrived in the Northern Hemisphere
when summer was set in its way
running from the flames that lit
the sky
over the Plantation.
We were a straggle bunch of immigrants
In a lily white landscape.
...
One day I learnt
a secret art,
Invisible-Ness, it was called.
I think it worked
as even now you look
but never see me...
Only my eyes will remain to watch and to haunt,
and to turn your dreams
to chaos.
[Chegamos ao Hemisfrio Norte
quando o vero estava a caminho
correndo das chamas que iluminavam o cu
sobre a propriedade colonial.
ramos um bando de imigrantes em desordem
em uma paisagem branca como lrio.
...
13
JUSSAWALLA, A. Missing Person. Clearing House, 1976. p.14-29.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
Um dia aprendi
uma arte secreta,
Invisibili-Dade, era seu nome.
Acho que funcionou
pois ainda agora vocs olham
mas nunca me vem
S meus olhos ficaro para vigiar e assombrar
e transformar seus sonhos
em caos].14
Enquanto essas imagens se dissolvem e os olhos vazios mantm incessantemente seu olhar ameaador,
ouam finalmente a tentativa de Edward Said de historicizar seu caos de identidade:
"Um aspecto do mundo eletrni co, ps-moderno, que tem havido um fortalecimento dos esteretipos atravs dos
quais o Oriente visto... Se o mundo se tornou imediatamente acessvel a um cidado ocidental vivendo na era da
eletrnica, o Oriente tambm se aproximou mais dele e agora menos um mito, talvez, do que um lugar cruzado por
interesses ocidentais, especialmente americanos".15
Uso estes retratos ps-coloniais porque eles convergem no ponto de fuga de duas tradies familiares do
discurso da identidade: a tradio filosfica da identidade como processo de auto-reflexo no espelho da natureza
(humana) e a viso antropolgica da diferena da identidade humana enquanto localizada na diviso Natureza/Cultura.
No texto ps-colonial, o problema da identidade retorna como um questionamento persistente do enquadramento, do
espao da representao, onde a imagem - pessoa desaparecida, olho invisvel, esteretipo oriental - confrontada por
sua diferena, seu Ou-tro. Este no nem a essncia vtrea da Natureza, para usar a imagem de Richard Rorty, nem a
voz pesada da "interpelao ideolgica", corno sugere Louis Althusser.
O que est encenado de forma to grfica no momento da identificao colonial a ciso do sujeito em seu lugar
histrico de enunciao: "Nenhum Sat.../ ou Gunga Din/ ir fazer com que ele venha at voc/ Para ver um homem
invisvel ou uma pessoa desaparecida,/ no confie em nenhuma Lit. Ing. [Literatura Inglesa]" (grifos meus). O que estas
negaes repetidas da identidade dramatizam, em sua eliso do olho vidente que deve contemplar o que est
desaparecido ou invisvel, a impossibilidade de reivindicar uma origem para o Eu (ou o Outro) dentro de uma tradio
de representao que concebe a identidade como a satisfao de um objeto de viso totalizante, plenitudinrio. Ao
romper a estabilidade do ego, expressa na equivalncia entre imagem e identidade, a arte secreta da invisibilidade da
qual fala a poeta imigrante muda os prprios termos de nossa percepo da pessoa.
Esta mudana precipitada pela temporalidade peculiar na qual o sujeito no pode ser apreendido sem a ausncia ou
invisibilidade que o constitui - "pois ainda agora vocs olham, mas nunca me vem" - de modo que o sujeito fala, e
visto, de onde ele no est; e a mulher migran te pode subverter a satisfao perversa do olhar racista e machista que
denegava sua presena, apresentando-a como uma ausncia ansiosa, um contra-olhar que devolve o olhar
discriminatrio que nega sua diferena cultural e sexual.
O espao familiar do Outro (no processo de identificao) desenvolve uma especificidade histrica e cultural grfica na
ciso do sujeito migrante ou ps-colonial. Em lugar daquele "eu" - institucionalizado nas ideologias visionrias, autorais,
da Lit. Ing. ou na noo de "experincia" nos relatos empiristas da histria da escravido - emerge o desafio de ver o
que invisvel, o olhar que no pode "me ver", um certo problema do objeto do olhar que constitui um referente
problemtico para a linguagem do Eu. A eliso do olho, representada em uma narrativa de negao e repetio - no...
no... nunca - insiste que a frase da identidade no pode ser pronunciada, exceto se se coloca o olho/eu [eye/I] na
impossvel posio da enunciao. Ver uma pessoa desaparecida ou olhar para a Invisibilidade enfatizar a demanda
14
JIN, M. Strangers on a Hostile Landscape. In: COBHAM, R., COLLINS, M. (Ed.). Watchers and Seeker. London: The Women's Press,
1987. p.126-127.
15
SAID, E. Orientalism. London: Routledge & Kegan Paul, 1978. p.26-27.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
transitiva do sujeito por um objeto direto de auto-reflexo, um ponto de presena que manteria sua posio enunciatria
privilegiada enquanto sujeito. Ver uma pessoa desaparecida transgredir essa demanda; o "eu" na posio de domnio
, naquele mesmo momento, o lugar de sua ausncia, sua re-apresentao. Testemunhamos a alienao do olho
atravs do som do significante no instante em que o desejo escpico (olhar/ser olhado) emerge e rasurado na
simulao da escrita:
But faintly pencilled
behind a shirt,
a trendy jacket or tie
if he catches your eye,
he'll come screaming at you like a jet savage of no sensational paint,
fangs cancelled.
[Mas levemente delineado
atrs de uma camisa,
palet ou gravata da moda
se o olhar dele cruzar com o seu,
ele voar aos gritos para cima de voc selvagem sem pintura berrante,
presas anuladas].
Por que a pessoa delineada em trao leve deixar de chamar sua ateno? Qual o segredo da Invisibilidade
que permite mulher migrante olhar sem ser vista?
O que se interroga no simplesmente a imagem da pessoa, mas o lugar discursivo e disciplinar de onde as questes
de identidade so estratgica e institucionalmente colocadas. Ao longo do poema "voc" continuadamente
posicionado no espao entre uma srie de lugares contraditrios que coexistem, at voc se encontrar no ponto em que
o esteretipo orientalista evocado e rasurado ao mesmo tempo, no lugar em que a Lit. Ing. entstellt na mmica
irnica de sua repetio indo-inglesa. Esse espao de reinscrio deve ser pensado de fora daquelas filosofias
metafsicas da auto-suspeio, onde a alteridade da identidade a presena angustiada dentro do Eu de uma ago nia
existencialista que emerge quando se olha perigosamente atravs de um vidro escuro.
O que permanece profundamente no-resolvido, at rasurado, nos discursos do ps-estruturalismo aquela
perspectiva de profundidade atravs da qual a autenticidade da identidade vem a ser refletida nas metforas vtreas do
espelho e suas narrativas mimticas ou realistas. Mover o enquadramento da identidade do campo de viso para o
espao da escrita pe em questo a terceira dimenso que d profundidade representao do Eu e do Outro - aquela
profundidade de perspectiva que os cineastas denominam a quarta parede e que os tericos literrios descrevem como
a transparncia das metanarrativas realistas. Barthes diagnostica isso de modo brilhante como l'effet du rel, a
"dimenso profunda, geolgica"16 da significao, alcanada pela deteno do signo lingstico em sua funo
simblica. O espao bilateral da conscincia simblica, escreve Barthes, privilegia massivamente a semelhana,
constri uma relao analgica entre significante e significado que ignora a questo da forma e cria uma dimenso
vertical dentro do signo. Neste esquema, o significante sempre pr-determinado pelo significado - aquele espao
conceitual ou real que colocado anteriormente e de fora do ato da significao.
Do nosso ponto de vista, esta verticalidade significativa pela luz que projeta sobre aquela dimenso de profundidade
que d linguagem da Identidade seu senso de realidade - uma medida do "me/mim", que emerge do reconhecimento
de minha interioridade, da profundidade do meu carter, da minha pessoa, para mencionar apenas algumas das
qualidades atravs das quais normalmente articulamos nossa autoconscincia. Minha argumentao sobre a
16
BARTHES, R. Critical Essays. Evanston, III: Northwestern University Press, 1972. The imagination of the sign, p.206-207.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
importncia da profundidade na representao de uma imagem unificada do eu corroborada pela mais decisiva e
influente formulao acerca da identidade pessoal na tradio empirista inglesa.
Os famosos critrios de John Locke para a continuidade da conscincia poderiam perfeitamente ser lidos no registro
simblico da semelhana e da analogia. Isso porque a similaridade de um ser racional requer uma conscincia do
passado que crucial para a argumentao - "na medida em que esta conscincia pode ser ampliada para trs, at
uma ao ou pensamento passado qualquer, na mesma medida se estende a identidade daquela pessoa" - e
precisamente a terceira dimenso unificante. A agncia [agency] da profundidade rene em uma relao analgica
(negadora das diferenas que constrem a temporalidade e a significao) "aquela mesma conscincia que une
aquelas aes distantes numa mesma pessoa, no importa que substncias contriburam para sua produo"17 (grifo
meu).
A descrio de Barthes do signo-como-smbolo conveni-entemente anloga linguagem que usamos para designar a
identidade. Ao mesmo tempo, ela lana luz sobre os conceitos lingsticos concretos com os quais podemos apreender
como a linguagem da pessoalidade vem a ser investida com uma visualidade ou visibilidade da profundidade. Isto torna
o momento de autoconscincia simultaneamente refratado e transparente; faz tambm com que a questo da
identidade paire sempre de forma incerta, tenebrosa, entre sombra e substncia A conscincia simblica d ao signo
(do Eu) uma dimenso de autonomia ou isolamento "como se ele estivesse sozinho no mundo", privilegiando uma
individualidade e um carter unitrio cuja integridade expressa em uma certa riqueza de agonia e anomia. Barthes
chama a isso prestgio mtico, quase totmico em "sua forma [que ] constantemente excedida pelo poder e movimento
de seu contedo; ... bem menos uma forma codificada de comunicao do que um instrumento (afetivo) de
participao". 18
Esta imagem da identidade humana e, certamente, a identidade humana como imagem - ambas molduras ou espelhos
familiares do eu [selfhood] que fala das profundezas da cultura ocidental - esto inscritas no signo da semelhana. A
relao analgica unifica a experincia de autoconscincia ao encontrar, dentro do espelho da natureza, a certeza simblica do signo da cultura baseada "em urna analogia com a compulso a crer quando fita um objeto".19 Isto, como
escreve Rorty, parte da obsesso do Ocidente com o fato de que nossa relao primria com os objetos e com ns
mesmos anloga percepo visual. Entre essas representaes sobressai a reflexo do eu que se desenvolve na
conscincia simblica do signo. Ela demarca o espao discursivo do qual emerge O Eu verdadeiro (inicialmente como
assero da autenticidade da pessoa) para, em seguida, por-se a reverberar - O Eu verdadeiro?- como questionamento
da identidade.
Meu propsito aqui definir o espao da inscrio ou da escrita da identidade - para alm das profundezas visuais do
signo simblico de Barthes. A experincia da auto-imagem que se dissemina vai alm da representao como
conscincia analgica da semelhana. Isto no uma forma de contradio dialtica, como a conscincia antagnica
de senhor e escravo, que possa ser sublimada e transcendida. O impasse ou aporia da conscincia, que parece ser a
experincia ps-moderna por excelncia, uma estratgia peculiar de duplicao.
Cada vez que o encontro com a identidade ocorre no ponto em que algo extrapola o enquadramento da
imagem, ele escapa vista, esvazia o eu como lugar da identidade e da autonomia e - o que mais importante - deixa
um rastro resistente, uma mancha do sujeito, um signo de resistncia. J no estamos diante de um problema
ontolgico do ser, mas de uma estratgia discursiva do momento da interrogao, um momento em que a demanda
pela identificao torna-se, primariamente, uma reao a outras questes de significao e desejo, cultura e poltica.
Em vez da conscincia simblica que d ao signo da identidade sua integridade e unidade, sua profundidade, nos
deparamos com uma dimenso de duplicao, uma espacializao do sujeito, que ocludo na perspectiva ilusria do
que denominei a "terceira dimenso" do enquadramento mimtico ou imagem visual da identidade. A figura do duplo para a qual me dirijo agora - no pode ser contida no interior do signo analgico da semelhana; como disse Barthes,
isto fez com que se desenvolvesse sua dimenso totmica, vertical, justamente porque "o que lhe interessa no signo
o significado: o significante sempre um elemento determinado".20 Para o discurso ps-estruturalista, a prioridade (e o
jogo) do significante revela o espao da duplicao (e no da profundidade), que o prprio princpio articulador do
discurso. atravs daquele espao da enunciao que os problemas do sentido e do ser penetram nos discursos do
ps-estruturalismo como problemtica da sujeio e da identificao.
17
18
19
20
LOCKE, J. An Essay Concerning Human Understanding. London: Fontana, 1969. p.212-213.
BARTHES, R. The imagination of the sign, p.207.
RORTY, R. Philosophy and the Mirror of Nature. Oxford: Blackwell, 1980. Mirroring. p.162-163.
BARTHES, R. The imagination of the sign, p.207.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
O que emerge nos poemas citados acima, como o delineamento do palet e gravata da moda, ou o sinistro,
vingativo olho desencarnado, no deve ser lido como revelao de alguma verdade suprimida da psique/sujeito pscolonial. No mundo de inscries duplas em que entramos agora, nesse espao da escrita, no pode haver tal
imediao de uma perspectiva visualista, nenhuma epifania face-a-face ao espelho da natureza. Em um nvel, o que se
apresenta a voc, leitor, no retrato incompleto do burgus ps-colonial - que lembra estranhamente o intelectual
metropolitano - a ambivalncia de seu desejo pelo Outro: Voc! hypocrite lecteur! - mon semblable, - mon frre!
Aquela perturbao do seu olhar voyeurista encena a complexida de e as contradies de seu desejo de ver, de fixar a
diferena cultural em um objeto abrangvel, visvel. O desejo pelo Outro duplicado pelo desejo na linguagem, que
fende a diferena entre Eu e Outro, tornando parciais ambas as posies, pois nenhuma auto-suficiente. Como acabei
de mostrar no retrato da pessoa desaparecida, a prpria questo da identificao s emerge no intervalo entre a recusa
e a designao. Ela encenada na luta agnica entre a demanda epistemolgica, visual, por um conhecimento do
Outro e sua representao no ato da articulao e da enunciao.
"Olha um negro... Mame, olha o negro! Estou com medo...
No pude mais rir, porque eu j sabia onde havia lendas, histrias, histria, e, acima de tudo, a historici dade... Ento,
atacado em diversos pontos, o esquema corporal desmoronou, seu lugar tomado por um esquema racial epidrmico...
J no era uma questo de estar consciente do meu corpo na terceira pessoa, mas em uma pessoa tripla...Eu era
responsvel por meu corpo, por minha raa, por meus ancestrais".21
Pele Negra, Mscaras Brancas, de Fanon, revela a duplicao da identidade: a diferena entre a identidade pessoal
como indicao da realidade ou intuio do ser e o problema psicanaltico da identificao que sempre evita a questo
do sujeito: "O que quer um homem?" A emergncia do sujeito humano como social e psiquicamente legitimado de
pende da negao de uma narrativa originria de realizao ou de uma coincidncia imaginria entre interesse ou
instinto individual e a Vontade Geral. Essas identidades binrias, bipartidas, funcionam em uma espcie do reflexo
narcsico do Um no Outro, confrontados na linguagem do desejo pelo processo psicanaltico do identificao. Para a
identificao, a identidade nunca um a priori, nem um produto acabado; ela apenas e sempre o processo
problemtico de acesso a uma imagem da totalidade. As condies discursivas dessa imagem psquica da identificao
sero esclarecidas se pensarmos na arriscada perspectiva do prprio conceito da imagem, pois a imagem - como ponto
de identificao - marca o lugar de uma ambivalncia. Sua representao sempre espacialmente fendida - ela torna
presente algo que est ausente - e temporalmente adiada: a represen tao de um tempo que est sempre em outro
lugar, uma repetio.
A imagem apenas e sempre um acessrio da autoridade e da identidade; ela no deve nunca ser lida
mimeticamente como a aparncia de uma realidade. O acesso imagem da identidade s o possvel na negao de
qualquer idia de originalidade ou plenitude; o processo de deslocamento e diferenciao (ausncia/presena,
representao/repetio) torna-a uma realidade liminar. A imagem a um s tempo uma substituio metafrica, uma
iluso de presena, e, justamente por isso, uma metonmia, um signo de sua ausncia e perda. precisamente a partir
dessa extremidade do sentido e do ser, a partir dessa fronteira deslizante de alteridade dentro da identidade, que Fanon
pergunta: "O que quer um homem negro?"
"Quando encontra a resistncia do outro, a autoconscincia passa por uma experincia de desejo... Assim que passo a
desejar, peo para ser considerado. No estou simplesmente aqui e agora, selado, coisificado. Eu sou a favor de outro
lugar e de outra coisa. Exijo que se tome conhecimento de minha atividade negadora na medida em que persigo algo
que na vida... Eu ocupava o espao. Movia-me na direo do outro... e o outro evanescente, hostil, mas no opaco,
transparente, sem estar l, desapareceu. Nusea".22
Daquele esmagador vazio da nusea, Fanon constri sua resposta. O homem negro quer o confronto objetificador com
a alteridade; na psique colonial h uma negao inconsciente do momento negador, fendente, do desejo. O lugar do
Outro no deve ser representado, como s vezes sugere Fanon, como um ponto fenomenolgico fixo oposto ao eu, que
representa uma conscincia culturalmente estrangeira. O Outro deve ser visto como a negao necessria de uma
identidade primordial - cultural ou psquica - que introduz o sistema de diferenciao que permite ao cultural ser
significado como realidade lingstica, simblica, histrica. Se, como sugeri, o sujeito do desejo nunca simplesmente
21
22
FANON, F. Black Skin, White Masks, p.112.
Idem.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
um Eu Mesmo, ento o Outro nunca simplesmente um Aquilo Mesmo, uma frente de identidade, verdade ou
equvoco.
Como princpio de identificao, o Outro outorga uma medida de objetividade, mas sua representao - seja ela o
processo social da Lei ou o processo psquico do dipo - sempre ambivalente, desvelando uma falta. Por exemplo, a
distino comum, usual, entre a letra e o esprito da Lei pe a nu a prpria alteridade da Lei; a ambgua rea cinzenta
entre a Justia e o procedimento judicial , literalmente, um conflito de juzo. Na linguagem da psicanlise, a Lei do Pai
ou a metfora paterna no pode ser tornada ao p da letra. Ela um processo de substituio e troca que inscreve um
lugar normativo, normalizador, para o sujeito; porm, esse acesso metafrico de identidade exatamente o lugar da
proibio e da represso, um conflito de autoridade. A identificao pronunciada no desejo do Outro, sempre uma
questo de interpretao, pois ela um encontro furtivo entre mim e um si-prprio, a eliso da pessoa e do lugar.
Se a fora diferenciadora do Outro e o processo de significao do sujeito na linguagem e a objetificao da sociedade
na Lel, ento como pode o Outro desaparecer? Pode o desejo, o esprito motor do sujeito, jamais evanescer?
III
A excelente, embora crtica, sugesto de Lacan de que "'O Outro e uma matriz de dupla entrada" 23deveria ser
compreendida como a rasura parcial da perspectiva de profundidade do signo sirnblico; atravs da circulao do
significante em sua duplicao e deslocamento, o significante no permite ao signo nenhuma diviso recproca, binaria,
de forma/contedo, superestrutura/infra-estrutura, eu/outro. Somente pela compreenso da ambivalncia e do
antagonismo do desejo do Outro que podemos evitar a adoo cada vez mais fcil da noo de um Outro ho
mogeneizado, para uma poltica celebratria, oposicional, das margens ou minorias.
A atuao da cumplicidade ou da ciso do sujeito C encenada na escrita dos poemas que citei; isso fica evidente no
jogo com as figuras metonmicas do "desaparecido" e da "invisibilidade", em torno das quais gira seu questionamento
da identidade. Articula-se naquelas instancias interativas que simultaneamente marcam a possibilidade e a
impossibilidade da identidade, a presena por meio da ausncia. "Apenas meus olhos permanecero para vigiar e
assombrar", avisa Meiling Jin, enquanto aquele ameaador objeto parcial, o olho desencarnado - o mau olho mauolhado, evil eye] - torna-se o sujeito de um violento discurso de ressentiment. Aqui, uma ira fantasmtica e
(pre)figurativa rasura as identidades naturalistas do Eu e do Ns que narram uma histria mais convencional, at
mesmo realista, de explorao colonial e racismo metropolitano, dentro do poema.
O momento de viso que est retido no mau olho [mau-olhado] inscreve uma atemporalidade, ou um congelamento do
tempo - "permanece/para vigiar e assombrar" - que s pode ser representado na destruio da profundidade associada
com o signo da conscincia simblica. uma profundidade que vem daquilo que Barthes descreve como a relao
analgica entre forma superficial e gigantesco Abgrund: a "relao entre forma e contedo [enquanto] incessantemente
renovada pelo tempo (histria), a superestrutura subjugada pela infra-estrutura, sem que jamais sejamos capazes de
apreender a es trutura em si".24
Os olhos que restam - os olhos como uma espcie de resduo, produzindo um processo iterativo - no podem ser parte
desse renovar copioso e progressivo do tempo ou da histria. Eles so os signos de uma estrutura da escrita da
histria, uma histria das poticas da dispora ps-colonial, que a conscincia simblica jamais poderia apreender.
Mais significativamente, esses olhos parciais testemunham a escrita de uma mulher sobre a condio ps-colonial. Sua
circulao e repetio frustram tanto o desejo voyeurista da fixidez da diferena sexual como o desejo fetichista de
esteretipos racistas. O mau-olhado aliena tanto o eu narratorial do escravo como o olho vigilante do senhor. Ele
desestabiliza qualquer polaridade ou binarismo simplista na identificao do exerccio do poder - Eu/Outro - e rasura a
dimenso analgica na articulao da diferena sexual. Ele est esvaziado daquela profundidade da verticalidade que
cria uma semelhana totmica entre forma e contedo (Abgrund) incessantemente renovada e reabastecida pela fonte
da histria. O mau olho - como a pessoa desaparecida - no nada em si; esta estrutura de diferena que produz o
hibridismo de raa e sexualidade no discurso ps-colonial.
A eliso da identidade nesses tropos da "arte secreta da Invisibilidade" de onde falam esses escritores no uma
ontologia da falta que, por seu reverso, se torna urna demanda nostlgica por uma identidade liberatria, no reprimida.
O estranho espao e tempo entre aqueles dois momentos do ser, suas diferenas incomensurveis - se que se pode
imaginar um lugar - significados no processo da repetio, que do ao olho mau ou pessoa desaparecida seu sentido.
Sem sentido em/como Si prprios, essas figuras inauguram o excesso retrico da realidade social e a realidade
23
LACAN, J. Seminar of 21 January 1975. In: MITCHELL, J., ROSE, J. (Ed.). Feminine Sexuality. London: Routledge & Kegan Paul,
1982. p.164.
24
BARTHES, R. The imagination of the sign, p.209-210.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
psquica da fantasia social. Sua fora e poltica desenvolve-se atravs de uma certa estratgia de duplicidade ou
duplicao (e no semelhana, no sentido barthesiano), que Lacan elaborou como "O processo da falta" dentro do qual
a viciao do sujeito com o Outro se produz.25 A duplicidade primria da pessoa desaparecida delineada diante de seus
olhos, ou dos olhos da mulher que vigiam e assombram, C esta: embora essas imagens emerjam com uma certa fixidez
e finalidade no pre sente, como se fossem a ltima palavra sobre o sujeito, elas no podem identificar ou interpelar a
identidade como presena. Isto porque so criadas na ambivalncia de um tempo duplo de interao que, na feliz frase
de Derrida, "desconcerta o processo de apario deslocar qualquer tempo ordenado no centro do presente".26 O efeito
desse desconcerto, em ambos os poemas, inaugurar um princpio de indecidibilidade na significao de parte e todo,
passado e presente, eu e Outro, de modo que no possa haver negao ou transcendncia da diferena.
Chamar a pessoa desaparecida de "Selvagem sem pintura berrante" um exemplo caracterstico. A expresso, dita no
fim do poema de Adil Jussawalla, no nos leva simplesmente de volta ao discurso orientalista de esteretipos e
exotismos - Gunga Din - preservado na histria da Lit. Ing. nem nos permite aceitar o delineamento da pessoa
desaparecida. O leitor posicionado - junto com a enunciao da questo da identidade - em um espao de indeciso
entre "desejo e realizao, entre a perpetuao e sua lembrana... Nem futuro nem presente, mas entre os dois".27 A
repetio de elementos orientais e de seu passado imperialista so re-apresentados, tomados presente
semanticamente, dentro do mesmo tempo e enunciado nos quais suas representaes so sintaticamente negadas "sem pintura berrante Presas anuladas". A partir dessa rasura, na repetio daquela negativa, que no de forma
alguma articulada na prpria expresso, emerge a presena em leve trao da pessoa desaparecida que, in absentia,
tanto est presente na, como constitutiva da, selvageria. possvel distinguir o burgus ps-colonial do intelectual de
elite do ocidente? De que forma a repetio de uma categoria gramatical - no! - transforma a imagem da civilidade no
duplo da selvageria? Que papel desempenharia a artimanha da escrita na evocao dessas tnues figuras da
identidade? E, finalmente, onde ficamos ns naquele eco estranho entre o que pode ser descrito como a atenuao da
identidade e seus simulacros?
Estas questes demandam uma dupla resposta. Em cada uma delas coloquei um problema terico em termos de seus
efeitos polticos e sociais. Foi a fronteira entre elas que tentei explorar em minhas vacilaes entre a textura da poesia e
uma certa textualidade da identidade. Uma resposta a minhas perguntas seria dizer que estamos agora no ponto da
argumentao ps-estruturalista de onde podemos ver a duplicidade de seu prprio terreno: a estranha igualdade - na diferena. Ou a alteridade da Identidade de que falam essas teorias, e a partir das quais, em lnguas bifurcadas,
comunicam-se umas com as outras para constituir aqueles discursos que denominamos ps-modernistas. A retrica da
repetio ou da duplicao que tracei expe a arte do tornar-se atravs de uma certa lgica metonmica desvelada no
"mau olho" ou na "pessoa desaparecida". A metonmia, figura de contigidade que substitui uma parte pelo todo (um
olho por um eu [an eye for an I]), no deve ser lida como uma forma de substituio ou equivalncia simples. Sua
circulao de parte e todo, identidade e diferena, deve ser compreendida como um movimento duplo que segue o que
Derrida denomina a lgica ou jogo do "suplemento":
"Se ele representa e constri uma imagem, pela falha anterior de uma presena. Compensatrio e vicrio, o
suplemento [mau olho] um adjunto, uma instncia subalterna que toma o lugar. Como substituto... [pessoa
desaparecida]. .. no produz relevo, seu lugar assinalado na estrutura, pela marca de um vazin. Em algum lugar, algo
pode se preencher de si prprio... apenas ao se permitir ser preenchido por meio do signo e da procurao".28
Tendo ilustrado, atravs de minha leitura dos poemas acima, a natureza suplementar do sujeito, focalizo agora a
instncia subalterna da metonmia, que a procurao igualmente da presena e do presente: o tempo (tem lugar em)
e o espao (toma o lugar de). Conceitualizar essa complexa duplicao de tempo e espao como o lugar de enunciao
e a condicionalidade temporal do discurso social e tanto o encanto como o risco dos discursos ps-estruturalista e psmodernista. Quanta diferena h entre essa representao do signo e a conscincia simblica na qual, como diz
Barthes, a relao entre forma e contedo e incessantemente renovada pelo Tempo (como Abgrund do histrico)? O
mau olho, que tenta subjugar a histria linear, continuista, e transformar seu sonho progressista em caos de pesadelo, e
mais uma vez exemplar. O que Meiling Jin denomina "a arte secreta da Invisibilidade" cria uma crise na representao
da pessoa e, nesse instante crtico, inaugura a possibilidade de subverso poltica. A invisibilidade apaga a
autopresena daquele "Eu" em termos do qual funcionam os conceitos tradicionais de agncia poltica e domnio
narrativo. O que toma (o) lugar, no sentido do suplemento derridiano, o mau olho desencarnado, a instncia
subalterna que executa a sua vingana circulando sem ser visto. Ele atravessa as fronteiras entre senhor e escravo; ele
25
26
27
28
LACAN, J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. London: The Hogarth Press, 1977. Alienation, p.206.
DERRIDA, J. Dissemination. Trad. B. Johnson Chicago: University of Chiocago Press, 1981. The double session, p.212.
DERRIDA, J. The double session, p.212-213.
DERRIDA, J. Of Grammatology. Trad. G. C. Spivak. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 1976. p.145.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
abre um espao intervalar entre os dois locais do poema, o Hemisfrio Sul da escravido e o Hemisfrio Norte da
dispora e da migrao, que ento se tornam estranhamente duplicados no cenrio fantasmtico do inconsciente
poltico. Esta duplicao resiste ao tradicional elo causal que explica o racismo metropolitano contemporneo como
resultado dos preconceitos histricos das naes imperialistas. O que ela de fato sugere a possibilidade de uma nova
compreenso de ambas as formas de racismo, baseada em suas estruturas simblica e espacial comuns - a estrutura
maniquesta de Fanon - articuladas dentro de diferentes relaes temporais, culturais e de poder.
O Movimento anti-dialtico da instncia subalterna subverte qualquer ordenao, binria ou negadora, de poder e
signo; ele adia o objeto do olhar - "pois ainda agora vocs olham/ mas nunca me vem" - e o dota de um impulso
estratgico, que podemos aqui, analogamente, chamar de movimento de pulso da morte. O mau olho, que no nada
em si, existe em seus traos ou efeitos letais como forma de iterao que retm o tempo - morte/caos - e inaugura um
espao de entrecorte que articula poltica/psique, sexualidade/raa. Isto se faz em uma relao que diferencial e
estratgica em vez de originria, ambivalente, em vez de acumulativa, duplicadora, em vez de dialtica. O jogo do mauolhado camuflado, invisvel na atividade comum, corrente, de mirar - tornando presente, enquanto implicado no olhar
ptreo e petrificante que cai, como a Medusa, sobre suas vtimas - traficando a morte, extinguindo tanto a presena
quanto o presente. H uma re-apresentao especificamente feminista da subverso poltica nesta estratgia do mau
olho. A negao da posio da mulher migrante - sua invisibilidade social e poltica - usada por ela em sua arte
secreta de vingana, a mmica. Nessa sobreposio de significao - nessa dobra da identificao como diferena
cultural e sexual - o "eu" [I] a assinatura inicial, iniciatria do sujeito; o "olho" [eye] (em sua repetio metonmica) o
signo que inicia o terminal, a deteno, a morte:
pois ainda agora vocs olham
mas nunca me vem...
S meus olhos ficaro para assombrar,
e transformar seus sonhos
em caos.
nesse espao da sobreposio entre o apagar da identidade e sua inscrio tnue que tomou posio frente ao
sujeito, em meio a uma celebrada assemblia de pensadores ps-estruturalistas. Embora haja diferenas significativas
entre eles, quero pr em foco aqui a ateno dada por esses pensadores ao lugar de onde o sujeito fala ou falado.
Para Lacan - que usou a reteno do mau olho em sua anlise do olhar - este o instante da "pulsao temporal": [O
significante no campo do Outro] petrifica o sujeito no mesmo movimento em que o chama a falar como sujeito".29
Foucault de certa forma ecoa o mesmo movimento estranho da duplicao quando discute a "quaseinvisibilidade da afirmao":
"Talvez seja como o super-familiar que constantemente nos escapa; aquelas transparncias familiares, que embora
nada ocultem em sua densidade, mesmo assim no so inteiramente claras. O nvel enunciativo emerge bem em sua
proximidade. Tem essa quase-invisibilidade do "h", que apagada na prpria coisa da qual se pode dizer: "h isto ou
aquilo" A linguagem sempre parece estar habitada pelo outro, pelo Outro lugar, o distante; ela esvaziada pela
distncia".30
Lyotard prende-se ao ritmo pulsante do tempo do enunciado quando discute a narrativa da Tradio:
"A tradio aquilo que diz respeito ao tempo, no s contedo. Por outro lado, o que o Ocidente deseja da autonomia,
da inveno, da novidade, da autodeterminao, o oposto, esquecer o tempo e preservar, acumular contedos;
transform-los no que chamamos histria e pensar que ela progride porque acumula. Ao contrrio, no caso das
tradies populares... nada se acumula, ou seja, as narrativas devem ser repetidas o tempo todo porque so
esquecidas todo o tempo. Mas o que no esquecido o ritmo temporal que no pra de enviar as narrativas para
esquecimento".
...
Esta uma situao de constante encaixe, que torna impossvel encontrar um primeiro enunciador".31
29
30
31
LACAN, J. Alienation, p.207.
FOUCAULT, M. The Archaelogy of Knowledge. Trad. A. H. Sheridan. London: Tavistock, 1972. p.111.
LYOTARD, J.-F., THEBAUD, J.-L. Just Gaming. Trad. Wlad Godzich. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1985. p.34 e 39.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
IV
Posso ser acusado de um tipo de formalismo lingstico ou terico, de estabelecer uma regra de metonmia ou
suplemento e de estabelecer a lei opressiva, universalista at, da diferena ou da duplicao. De que forma a ateno
ps-estruturalista dada criture e textualidade influencia minha experincia de mim mesmo? No diretamente, eu
diria; entretanto, algumas vezes nossas fbulas de identidade j deixaram de ser mediadas por outrem? Alguma vez j
foram mais (ou menos) do que um desvio que passa pela palavra de Deus, a escrita da Lei ou o Nome do Pai, ou,
ainda, o totem, o fetiche, o telefone, o superego, a voz do analista, o ritual fechado da confisso semanal ou o ouvido
sempre aberto da coiffeuse mensal?
Lembro-me do problema do auto-retrato em Os Embaixadores de Holbein, do qual Lacan faz uma leitura surpreendente.
As duas figuras estticas esto no centro de seu mundo, cercadas pelos atributos da vanitas - um globo, um alade,
livros e compassos, ilustrando a riqueza. Eles esto tambm no momento de instantaneidade temporal em que o sujeito
cartesiano emerge como a relao subjetivante da perspectiva geomtrica, descrita acima como a profundidade da
imagem da identidade. Mas fora do centro, no primeiro plano (violando as profundezas significativas do Abgrund), h
um objeto esfrico plano, obliquamente angulado. A medida que voc se afasta do retrato e vira-se para ir embora, v
que o disco uma caveira, uma lembrana (e resduo) da morte, que torna visvel nada mais do que a alienao do
sujeito, o espectro anamrfico.32
No produzir a lgica do suplemento - em sua repetio e duplicao - uma des-historizao, uma "cultura" da teoria
que torna impossvel conferir sentido especificidade histrica? Esta uma ampla pergunta que s posso responder
aqui por procurao, citando um texto notvel por sua espe cificidade ps-colonial e por seu questionamento do que se
quer dizer com especificidade cultural:
A - 's a giggle now
but on it Osiris, Ra.
An X an er ... a cough,
Once spoking your valleys with light.
But the a's here to stay.
On it St. Pancras station,
the Indian and the African railwais.
That's why you learn it today.
...
"Get back to your language", they say.
[A - um quase riso agora
mas nele Osiris, Ra.
Um X, um er ... pigarro,
uma vez coroara seus vales de luz.
Mas o a veio para ficar.
Com ele a estao St. Pancras,
as ferrovias da ndia e da frica.
por isso que voc aprende ele hoje.
...
"Volte sua lngua", dizem eles].
32
LACAN, J. Alienation, p.88.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
Estes versos so de uma parte anterior do poema "Pessoa Desapare cida", de Adil Jussawalla. Eles nos do uma viso
da dobra entre as condies culturais e lingsticas articuladas na economia textual que descrevi como metonmica ou
suplementar. O discurso do ps-estruturalismo tem sido amplamente explicado por meio de urna curiosa repetio do a,
seja no petit objet a de Lacan ou na diffrance de Derrida. Observem, ento, a agncia desse a ps-colonial.
Existe algo de suplementar nesse a que o torna a letra inicial do alfabeto romano e, ao mesmo tempo, o artigo
indefinido em ingls. O que dramatizado nessa circulao do a e uma cena dupla em um palco duplo, para usar uma
frase de Derrida. O A com o qual o verso se inicia o signo de uma objetividade lingstica, inscrito na rvore das
lnguas indo-europias, institucionalizado nas disciplinas culturais do imprio; e todavia, como demonstra a vogal hindi
X, que a primeira letra do alfabeto hindi e se pronuncia como "er", o objeto da cincia lingstica sempre se encontra
em um processo enunciatrio de traduo cultural, expondo o hibri-dismo de qualquer filiao genealgica ou
sistemtica.
Ouam: "Um X um er... pigarro" ao mesmo tempo ouvimos o a repetido na traduo, no como objeto da lingstica,
mas no ato da enunciao colonial da contestao cultural. Esta dupla cena articula uma elipse que marca a diffrance
entre o signo hindi X e o significante em ingls demtico - "er, pigarro". atravs do vazio da elipse que a diferena da
cultura colonial articulada como um hibridismo, reconhecendo que toda especificidade cultural extempornea,
diferente em si - X... er... ugh! As culturas vem a ser representadas em virtude dos processos de interao e traduo
atravs dos quais seus significados so endereados de forma bastante vicria a - por meio de - um Outro. Isto apaga
qualquer reivindicao essencialista de uma autenticidade ou pureza inerente de culturas que, quando inscritas no
signo naturalstico da conscincia simblica, freqentemente se tornam argumentos polticos a favor da hierarquia e
ascendncia de culturas poderosas.33 nesse intervalo hbrido, em que no h distino, que o sujeito colonial tem
lugar, sua posio subalterna inscrita naquele espao de interao onde X toma (o) lugar do "er".
Se isto parece uma piada ps-estruturalista esquemtica - "tudo so palavras, palavras, palavras..." - devo ento
lembrar-lhes de que a insistncia lingstica na influente afir mao de Clifford Geertz de que a experincia de
compreender outras culturas assemelha-se "mais a entender um provrbio, captar uma aluso, perceber uma piada [ou,
como j sugeri, ler um poema] do que a alcanar uma comunho".34 Minha insistncia em localizar o sujeito ps-colonial
dentro do jogo da instncia subalterna da escrita uma tentativa de desenvolver o comentrio rpido de Derrida de que
a histria do sujeito descentrado e seu deslocamento da metafsica europia - concomitante com a emergncia da
problemtica da diferena cultural dentro da etnologia.35 Ele percebe a natureza poltica desse momento mas deixa a
nosso cargo especific-lo no texto ps-colonial:
"Wiped out", they say.
Turn left or right,
there's millions like you up here,
picking their way trough refuse,
looking for words they lost.
You're your country's lost property
with no office to claim you back.
You're polluting our sounds. You're so rude.
"Get back to your language", they say.
["Apagado", dizem eles
esquerda ou direita
h milhes como voc por aqui,
abrindo caminho entre o refugo,
33
34
35
Ver Captulos I e VI.
GEERTZ, C. Local Knowledge. New York: Basic Books, 1983. Native's point of view: anthropological understanding, p.70.
DERRIDA, J. Writing and Difference. Trad. Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 1982. p.282.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
procurando as palavras que perderam.
Voc a propriedade perdida do seu pas
sem escritrio para busc-la de volta.
Voc est poluindo nossos sons. Mal educado.
"Volte para a sua lngua", dizem eles].36
Est implcita nessas afirmaes uma poltica cultural de dispora e parania, de migrao e discrimina o, de
ansiedade e apropriao, que impensvel sem uma ateno queles momentos metonmicos ou subalternos que
estruturam o sujeito da escrita e do sentido. Sem a duplicidade que descrevi no jogo ps-colonial do "a X", seria difcil
compreender a ansiedade provocada pela hibridizao da linguagem, ativada na angstia associada a fronteiras
vacilantes - psquicas, culturais, territoriais - das quais falam estes versos. Onde se traa a linha divisria entre as
lnguas? entre as culturas? entre as disciplinas? entre os povos?
Propus aqui que uma linha poltica subversiva e traada em uma certa potica da "invisibilidade", da "elipse", do mau
olho e da pessoa desaparecida - todos instncias do "subalterno" no sentido derridiano, e prximos o suficiente do
sentido que Gramsci d ao conceito: "[no sim plesmente um grupo oprimido] mas sem autonomia, sujeito a influncia
ou hegemonia de outro grupo social, no possuindo sua prpria posio hegemnica".37 com essa diferena entre os
dois usos que as noes de autonomia e dominao dentro do hegemnico teriam de ser cuidadosamente repensadas
luz do que eu disse sobre a natureza vicria de qualquer aspirao presena ou autonomia. No entanto, o que
est implcito em ambos os conceitos do subalterno, e na minha opinio, uma estratgia de ambivalncia na estrutura
de identificao que ocorre precisamente no intervalo elptico, onde a sombra do outro cai sobre o eu.
Daquela sombra (em que joga o "a" ps-colonial) emerge a diferena cultural como categoria enunciativa, oposta a
noes relativistas de diversidade cultural ou ao exotismo da "diversidade" de culturas. o "entre" que articulado na
subverso camuflada do "mau-olhado" e na mmica transgressora da "pessoa desaparecida". A fora da diferena
cultural e, como disse Barthes certa vez sobre a prtica da metonmia, "violao do limite de espao significante, ela
permite no prprio nvel do discurso uma contra-diviso de objetos, usos, significados, espaos e propriedades (grifo
meu).
colocando a violncia do signo potico no interior da ameaa de violao poltica que podemos compreender
os poderes da linguagem. Assim, podemos apreender a importncia da imposio do "a" imperial como a condio
cultural para o prprio movimento do imprio, sua logomoo - a criao colonial das ferrovias da ndia e da frica como
escreveu o poeta. Agora podemos comear a ver porque a ameaa da (m) traduo do X e do "er", entre os povos
deslocados e diaspricos que reviram o refugo, e um lembrete constante ao Ocidente ps-imperial do hibridismo de sua
lngua materna e da heterogeneidade de seu espao nacional.
V
Em seu modo analtico, Fanon explora questes ainda da ambivalncia da inscrio e da identificao coloniais. O
estado de emergncia a partir do qual ele fala demanda respostas insurgentes, identificaes mais imediatas. Fanon
freqentemente tenta estabelecer uma correspondncia entre a mise-en-scne da fantasia inconsciente e os fantasmas
do medo e dio racistas que rondam a cena colonial; ele parte das ambivalncias da identificao para as identidades
antagnicas da alienao poltica e da discriminao cultural. H momentos em que ele por demais apressado ao
nomear o Outro, personalizar sua presena na linguagem do racismo colonial - "o Outro real para o homem branco e
continuar a ser o homem negro. E vice-versa".38 Restaurar o sonho a seu tempo poltico e espao cultural prprios
pode, s vezes, tornar cega a lmina das brilhantes exemplificaes que Fanon apresenta da complexidade das
projees psquicas na relao patolgica colonial. Jean Veneuse, o evolu antilhano, no deseja simplesmente estar
no lugar do homem branco, mas procura compulsivamente lanar a si prprio, a partir daquela posio, com olhar de
cima e de longe. Da mesma forma, o racista branco no pode simplesmente negar o que teme e deseja ao projetar isso
no "eles". Fanon algumas vezes se esquece de que a parania social no autoriza indefinidamente suas projees. A
identificao compulsiva, fantasmtica, com um "eles" persecutrio, acompanhada, e at mesmo minada, por um
esvaziamento, uma supresso do "eu" racista que projeta.
36
37
38
JUSSAWALLA, A. Missing Person, p.15.
SASOON, A. Showstack. Approaches to Gramsci. London: Writers and Readers, 1982. p.16.
FANON, F. Black Skin, White Masks, p.161.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
A psiquiatria socio-diagnstica de Fanon tende a resolver as voltas e revoltas ambivalentes do sujeito do desejo
colonial, seu pantomima do Homem Ocidental e a "longa" perspectiva histrica. como se Fanon temesse suas
percepes mais radicais: que a poltica da raa no estaria inteiramente contida no mito humanista do homem ou da
necessidade econmica ou do progresso histrico, pois seus afetos psquicos questionam tais formas de determinismo;
que a soberania social e a subjetividade humana s so compreensveis na ordem da alteridade. como se a questo
do desejo que emergiu da tradio traumtica do oprimido tivesse de ser modificada, ao fim de Pele Negra, Mscaras
Brancas, para dar lugar a um humanismo existencialista que to banal quanto beatfico:
"Por que no a tentativa simples de tocar o outro, de sentir o outro, de explicar o outro a mim mesmo?... Na
concluso deste estudo, quero que o mundo reconhea, comigo, a porta aberta de cada conscincia".39
Apesar de Fanon penetrar no lado escuro do homem, uma fome to profunda de humanismo deve ser uma
supercompensao pela conscincia fechada ou "narcisismo dual" ao qual ele atribui a despersonalizao do homem
colonial: "L estiro as pessoas, corpo a corpo, cada uma com sua negrura ou sua brancura em total grito narcsico,
cada um selado em sua prpria particularidade - tendo, embora, lampejos ocasionais".40 esse lampejo de
reconhecimento - em seu sentido hegeliano, com seu esprito transcendental, negador - que deixa de luzir na relao
colonial onde h apenas indiferena narcsica: " E todavia o negro sabe que h uma diferena. Ele a deseja... O exescravo pre-cisa de um desaflo a sua humanidade".41 Na ausncia desse desafio, argumenta Fanon, o colonizado s
consegue imitar, uma ao bem definida pela psicanalista Annie Reich: "Trata-se de imitao... quando a criana
segura o jonal do mesmo modo que seu pai o faz. Trata-se de identificao quando a criana aprende a ler".42 Ao negar
a condio culturalmente diferenciada do mundo colonial - ao ordenar "Vire branco ou desaparea" - o colonizador fica
tambm preso na ambivalncia da identificao paranica, alternando entre fantasias de megalomania e perseguio.
Entretanto, o sonho hegeliano de Fanon de uma realidade hurnana em-si-e-por-si ironizado, at satirizado, por sua
viso da estrutura maniquesta da conscincia colonial e sua diviso no-dialtica. O que ele diz em The Wretched of
the Earth [Os Condenados da Terra] a respeito da demografia da cidade colonial reflete sua viso da estrutura psquica
da relao colonial. As reas de nativos e colonos, como a justaposio de cor pos negros e brancos, so opostas, mas
no a servio de uma unidade superior. Nenhuma conciliao possvel, concluso, pois, dos dois termos, um
suprfluo.
No, no pode haver reconciliao, nem reconhecimento hegeliano, nem promessa simples, sentimental, de um
"mundo do Voc" humanista. Poder haver vida sem transcendncia? Poltica sem o sonho da perfectibilidade? Ao
contrrio de Fanon, penso que o momento no-dialtico do maniquesmo sugere uma resposta. Seguindo-se a trajetria
do desejo colonial - na companhia da bizarra figura colonial, a sombra acorrentada - torna-se possvel cruzar, at
mesmo alterar, as fronteiras maniquestas. Onde no h natureza humana, a esperana dificilmente poderia jorrar
eterna, porm, ela emerge com certeza, sub-repticiamente, no retorno estratgico daquela diferena que informa e
deforma a imagem da identidade, na margem da alteridade que exibe a identificao. Pode no haver negao
hegeliana, mas Fanon precisa s vezes ser lembrado de que a negao do Outro sempre extrapola as bordas da
identificao, revela aquele lugar perigoso onde a identidade e a agressividade se enlaam. Isto porque a negao
sempre um processo retroativo; um semi-reconhecimento daquela alteridade deixou sua marca traumtica.
Nessa incerteza espreita o homem negro de mscara branca; dessa identificao ambivalente - pele negra,
mscaras brancas - possvel, creio, transformar o pathos de confuso cultural em uma estratgia de subverso
poltica. No podemos concordar com Fanon quando afirma que, "como o drama racial e encenado s claras, o homem
negro no tem tempo de torn-lo inconsciente"; no entanto, esta uma idia instigante. Ao ocupar dois lugares ao
mesmo tempo - ou trs, no caso de Fanon - o sujeito colonial despersonalizado, deslocado, pode se tornar um objeto
incalculvel, literalmente difcil de situar. A demanda da autoridade no consegue unificar sua mensagem nem
simplesmente identificar seus sujeitos. Isto porque a estratgia do desejo colonial representar o drama da identidade
no ponto em que o negro desliza, revelando a pele branca. Na extremidade, no intervalo entre o corpo negro e o corpo
branco, h uma tenso de ser e sentido, ou, alguns diriam, de demanda e desejo, que a contrapartida psquica
daquela tenso muscular que habita o corpo nativo:
39
40
41
42
Ibidem. p.231-232.
Idem.
Ibidem. p.221.
A. Reich.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
"Os smbolos da ordem social - a polcia, os toques de clarim na caserna, as paradas militares e as bandeiras
desfraldadas - so a um s tempo inibidos e estimulantes: pois no transmitem a mensagem 'No ouse se mover', mas,
ao contrrio, gritam 'Prepare-se para o ataque'".43
dessas tenses - tanto psquicas quanto polticas - que emerge uma estratgia de subverso. Ela um modo de
negao que busca no desvelar a completude do Homem, mas manipular sua representao. uma forma de poder
que exercida nos prprios limites da identidade e da autoridade, no esprito zombeteiro da mscara e da imagem; a
lio ensinada pela mulher argelina coberta com o vu no decorrer da revoluo, quando cruzava as linhas
maniquestas para reivindicar sua liberdade. No ensaio de Fanon, "Arglia sem Vu", a tentativa do colonizador de
retirar o vu da mulher argelina faz mais que transformar vu em smbolo de resis tncia; ele se torna uma tcnica de
camuflagem, um instrumento de luta - o vu oculta bombas. O vu que antes assegurava a fronteira do lar - os limites
da mulher - agora mascara a mulher em sua atividade revolucionria, ligando a cidade rabe e o bairro francs,
transgredindo a fronteira familiar e colonial. Como o vu liberado na esfera pblica, circulao entre e alm de normas
e espaos culturais e sociais, torna-se objeto de vigilncia e interrogatrios paranicos. Cada mulher de vu, escreve
Fanon, tornou-se suspeita. E, quando o vu retirado para penetrar mais profundamente no bairro europeu, a polcia
colonial v tudo e no v nada. Uma mulher argelina apenas, afinal de contas, uma mulher. Mas a fidai argelina um
arsenal e, em sua bolsa, ela carrega suas granadas de mo.
Relembrar Fanon um processo de intensa descoberta e desorientao. Relembrar nunca um ato tranqilo de
introspeco ou retrospeco. um doloroso relembrar, uma reagregao do passado desmembrado para
compreender o trauma do presente. E essa memria da histria da raa e do racismo, do colonialismo e da questo da
identidade cultural, que Fanon revela com maior profundidade e poesia do que qualquer outro escritor. O que ele
realiza, assim creio, algo muito maior: pois, ao ver a imagem fbica do negro, do nativo, do colonizado,
profundamente entremeada na padronagem psquica do Ocidente, ele oferece ao senhor e escravo uma reflexo mais
profunda de suas interposies, assim como a esperana de uma liberdade difcil, at mesmo perigosa: " atravs do
esforo de recapturar e perscrutar o eu, e atravs da persistente tenso de sua liberdade, que os homens sero
capazes de criar as condies ideais de existncia para um mundo humano". 44
Isto leva a uma meditao acerca da experincia da destituio e do deslocamento - psquico e social - que fala
condio do marginalizado, do alienado, daqueles que tm de viver sob a vigilncia de um signo de identidade e
fantasia que lhes nega a diferena. Ao deslocar o foco do racismo cultural da poltica do nacionalismo para a poltica do
narci-sismo, Fanon abre uma margem de interrogao que causa um deslizamento subversivo da identidade e da
autoridade. Em nenhum lugar esta atividade subalterna e mais visvel do que em sua prpria obra, onde uma srie de
textos e tradies desde o repertrio clssico cultura quotidiana, coloquial, do racismo - luta para proferir aquela
ltima palavra que permanece no-dita.
medida que uma srie de grupos cultural e racialmente marginalizados assume prontamente a mscara do negro, ou
a posio da minoria, no para negar sua diversidade, mas para, com audcia, anunciar o importante artifcio da
identidade cultural e de sua diferena, a obra de Fanon torna-se imprescindvel A medida que grupos polticos com
origens diversas se recusam a homogeneizar sua opresso, mas fazem dela causa comum, uma imagem pblica da
identidade da alteridade, a obra de Fanon torna-se imprescindvel - imprescindvel para nos lembrar daquele embate
crucial entre mscara e identidade, imagem e identificao, do qual vem a tenso duradoura de nossa liberdade e a
impresso duradoura de ns mesmos como outros:
"No caso de haver uma exposio... o jogo do combate em forma de intimidao, o ser d de si, recebe do
outro, algo que como uma mscara, um duplo, um envelope, uma pele jogada fora para cobrir a moldura de um
escudo. atravs dessa forma separada de si mesmo que entra em jogo o ser em seus efeitos de vida e morte".45
Chegou a hora de voltar a Fanon; como sempre, acredito, com uma pergunta: de que forma o mundo humano
pode viver sua diferena; de que forma um ser humano pode viver "Outra-mente"? [Other-wise]?
V
Escolhi dar ao ps-estruturalismo uma provenincia especificamente ps-colonial para enfrentar uma importante
objeo repetida por Terry Eagleton em seu ensaio "A Poltica da Subjetividade".
43
44
45
Ibidem. p.45.
Ibidem. p.231.
LACAN, J. The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. Trad. Alan Sheridan. New York: Norton, 1981. p.107.
Homi K. Bhabha
Interrogando a Identidade
"Ainda no temos uma teoria poltica, ou uma teoria do sujeito, que seja capaz, de forma dialtica, de apreender
a transformao social ao mesmo tempo enquanto difuso e afirmao, morte e nascimento do sujeito - ou pelo menos
no temos teorias desse tipo que sejam vagamente apocalpticas".46
Tornando como deixa a instncia subalterna "duplamente inscrita", eu poderia argumentar que a dobradia dialtica
entre o nascimento e a morte do sujeito que precisa ser interrogado. Talvez a acusao de que uma poltica do sujeito
resulte em um apocalipse oco e em si uma reao sondagem ps-estruturalista da noo de negao progressiva ou recusa - no pensamento dialtico. O subalterno ou o metonmico no so nem vazios nem cheios, nem parte nem
todo. Seus processos compensatrios e vicrios de significao so uma instigao traduo social, a produo de
algo mais alm, que no apenas o corte ou lacuna do sujeito mas tambm a interseco de lugares e disciplinas
sociais. Este hibridismo inaugura o projeto de pensamento poltico defrontando-o continuamente com o estratgico e o
contingente, com o pensamento que contrabalana seu prprio "no-pensamento". Ele tem de negociar suas metas
atravs de um reconhecimento de objetos diferenciais e nveis discursivos articulados no simplesmente como
contedos mas em sua interpelao como formas de sujeies textuais ou narrativas - sejam estas governamentais,
judiciais ou artsticas. Apesar de seus firmes compromissos, o poltico deve sempre colocar como problema, ou indaglo, a prioridade do lugar de onde ele comea, se no quer que sua autoridade se torne autocrtica.
O que deve ser deixado em aberto como haveremos de repensar, uma vez tendo minado a imediao e a autonomia
da autoconscincia. No difcil questionar o argumento civil de que o povo e uma conjugao de indivduos,
harmoniosos sob a Lei. Podemos pr em dvida o argumento poltico de que o partido radical, vanguardista, e suas
massas representam uma certa objetificao em um processo, ou es tgio, histrico de transformao so cial. O que
resta a ser pensado o desejo repetitivo de nos reconhecermos duplamente como, simultaneamente, descentrados dos
processos solidrios do grupo poltico e, ainda assim, nosso ser como agente de mudana conscientemente
comprometido, individualizado at - o portador da crena. O que esta presso tica de "nos justificarmos" - mas s
parcialmente - dentro de um teatro poltico de agonismo, da ofuscao burocrtica, violncia e violao? Ser este
desejo poltico de identificao parcial uma tentativa belamente humana, at pattica, de negar a percepo de que, os
interstcios ou para alm dos elevados sonhos do pensamento poltico, existe um reconhecimento, em algum ponto
entre o fato e a fantasia, de que as tcnicas e tecnologias da poltica no precisam absolutamente ser humanizantes
nem endossar de forma alguma o que entendemos ser a difcil condio humana - humanista? Teremos talvez de forar
os limites do social como o conhecemos para redescobrir um sentido de agncia poltica ou pessoal atravs do nopensado dentro dos domnios cvico e psquico. Talvez no seja este o lugar de terminar, mas pode ser o lugar de
comear.
46
EAGLETON, T. F. The politics of subjectivity. In: APPIGNANESI, L. (ed.). Identity. ICA Documents 6. London: Institute of
Contemporary Art, 1988.
Você também pode gostar
- Relatório de Estágio em Psicanálise - Setting e ContratoDocumento5 páginasRelatório de Estágio em Psicanálise - Setting e ContratoMariana AzevedoAinda não há avaliações
- A POLITICA DA ESCRITA DO CORPO - ÉCRITURE FÉMININE Arleen B. Dallery PDFDocumento17 páginasA POLITICA DA ESCRITA DO CORPO - ÉCRITURE FÉMININE Arleen B. Dallery PDFMayara Yamada100% (1)
- Narrativas Contestadoras Da Africa QueerDocumento5 páginasNarrativas Contestadoras Da Africa QueerSimone Brandão SouzaAinda não há avaliações
- A Psicanalise Depois Freud Cap 5Documento23 páginasA Psicanalise Depois Freud Cap 5Ana Cavallini100% (3)
- Evolução Histórica Da Psicanálise ResumoDocumento20 páginasEvolução Histórica Da Psicanálise ResumoDrikinha Telles100% (3)
- A Universalidade de Frantz Fanon PDFDocumento10 páginasA Universalidade de Frantz Fanon PDFMaria Lúcia CunhaAinda não há avaliações
- A Teoria Institucional e A Definição Da ArteDocumento13 páginasA Teoria Institucional e A Definição Da ArteRaquel RodriguesAinda não há avaliações
- Cartografia SentimentalDocumento4 páginasCartografia SentimentalGuilherme MarinhoAinda não há avaliações
- Mitologia e Identidade Artística: Uma Análise Da Presença de Mitemas - VargasDocumento6 páginasMitologia e Identidade Artística: Uma Análise Da Presença de Mitemas - VargasTiago R. da SilvaAinda não há avaliações
- PIBID - Projeto Filosofia Da Música No Ensino MédioDocumento7 páginasPIBID - Projeto Filosofia Da Música No Ensino MédioAlexandre MoreiraAinda não há avaliações
- 02 Kazadi PDFDocumento12 páginas02 Kazadi PDFWeskley DantasAinda não há avaliações
- Arte e Politica E Book PDFDocumento766 páginasArte e Politica E Book PDFKaroline LourencoAinda não há avaliações
- Estrutura Social - Radcliffe-BrownDocumento16 páginasEstrutura Social - Radcliffe-BrownMateus PinhoAinda não há avaliações
- O Corpo Do Outro - Janaina - Damasceno PDFDocumento7 páginasO Corpo Do Outro - Janaina - Damasceno PDFJussara Carneiro CostaAinda não há avaliações
- Subjetividade e Antropofagia - Suely RolnikDocumento17 páginasSubjetividade e Antropofagia - Suely RolnikluAinda não há avaliações
- Psicologia e Noções de Subjetividade Decolonial PDFDocumento10 páginasPsicologia e Noções de Subjetividade Decolonial PDFLuiz LourençoAinda não há avaliações
- GilbertdurandoféliaDocumento17 páginasGilbertdurandoféliaValeri Carvalho100% (1)
- Artigo - Parixara - SIMADocumento13 páginasArtigo - Parixara - SIMATiago Mendes100% (1)
- Abya Yala PDFDocumento6 páginasAbya Yala PDFlagarronaAinda não há avaliações
- Notas Sobre Leonilson e Arthur Bispo Do Rosário - Leopoldo NosekDocumento8 páginasNotas Sobre Leonilson e Arthur Bispo Do Rosário - Leopoldo NosekWalerie GondimAinda não há avaliações
- Georg Simmel e A Sociologia Da ModaDocumento21 páginasGeorg Simmel e A Sociologia Da Modatheusma5Ainda não há avaliações
- Leke Adeofe - Identidade Pessoal Na Metafísica AfricanaDocumento15 páginasLeke Adeofe - Identidade Pessoal Na Metafísica AfricanaDiego MarquesAinda não há avaliações
- A PornochanchadaDocumento13 páginasA PornochanchadaMario RighettiAinda não há avaliações
- Corpo Sem Fuga Corpo Sem ArteDocumento282 páginasCorpo Sem Fuga Corpo Sem ArteAndrea Portela100% (1)
- O Indivíduo e A Liberdade (Georg Simmel)Documento9 páginasO Indivíduo e A Liberdade (Georg Simmel)Georg Lucas SciroviczaAinda não há avaliações
- Capoeira Entre o Ritual, o Folclore e o EsporteDocumento22 páginasCapoeira Entre o Ritual, o Folclore e o EsportePaulo Mutaokê MagalhãesAinda não há avaliações
- Polaroides - Adelaide IvánovaDocumento116 páginasPolaroides - Adelaide Ivánovaadelaide ivanovaAinda não há avaliações
- Tese - MulheresIndigenasEmDocumento197 páginasTese - MulheresIndigenasEmMarcelle NascimentoAinda não há avaliações
- O Lugar Dos Sujeitos Brancos Na Luta AntirracistaDocumento10 páginasO Lugar Dos Sujeitos Brancos Na Luta AntirracistaCamila Bastos BacellarAinda não há avaliações
- Não Existe HomonormatividadeDocumento5 páginasNão Existe HomonormatividadeGilmaro NogueiraAinda não há avaliações
- Vanguarda Ou Terapia? - Arte TerapiaDocumento6 páginasVanguarda Ou Terapia? - Arte TerapiaJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Canção Dos Caminhos - Associação Dos Arcanos Maiores Com Poemas de Cecília Meireles PDFDocumento18 páginasCanção Dos Caminhos - Associação Dos Arcanos Maiores Com Poemas de Cecília Meireles PDFCarolita BorbaAinda não há avaliações
- Ciências Sociais Africentricas para Libertação HumanaDocumento19 páginasCiências Sociais Africentricas para Libertação HumanaDanielle MoraesAinda não há avaliações
- Do Liminal Ao LiminoideDocumento44 páginasDo Liminal Ao LiminoideCleonardo Mauricio JuniorAinda não há avaliações
- Mulheres Negras Do Samba PaulistaDocumento19 páginasMulheres Negras Do Samba Paulistaluzinete borgesAinda não há avaliações
- A Universidade e Os Undercommons Stefano Harney e Fred MotenDocumento19 páginasA Universidade e Os Undercommons Stefano Harney e Fred Motenbernstein_aAinda não há avaliações
- As Metamorfoses Do EspelhoDocumento18 páginasAs Metamorfoses Do EspelhodudiramonerockAinda não há avaliações
- Deleuze e A EtnografiaDocumento4 páginasDeleuze e A EtnografiaDiego TavaresAinda não há avaliações
- Espaço, Memória e IdentidadeDocumento12 páginasEspaço, Memória e IdentidadeCorina MoreiraAinda não há avaliações
- BAITELLO JUNIOR, Norval. A Era Da IconofagiaDocumento4 páginasBAITELLO JUNIOR, Norval. A Era Da IconofagiaSamilo TakaraAinda não há avaliações
- Antonin Artaud - O Teatro e A CulturaDocumento6 páginasAntonin Artaud - O Teatro e A CulturaRebeca Matta100% (1)
- Relações Étnico-Raciais para o Ensino Da Identidade e Da Diversidade Cultural Brasileira. PG 74-99Documento27 páginasRelações Étnico-Raciais para o Ensino Da Identidade e Da Diversidade Cultural Brasileira. PG 74-99Lupamino ContatoAinda não há avaliações
- O Monstro À Mostra PDFDocumento6 páginasO Monstro À Mostra PDFBruno VasconcelosAinda não há avaliações
- Arte e Psicanálise. Uma Possível Interseção Com o SurrealismoDocumento3 páginasArte e Psicanálise. Uma Possível Interseção Com o SurrealismoRodrigo DuarteAinda não há avaliações
- Ensaios Sobre A Autoficção - FichamentoDocumento3 páginasEnsaios Sobre A Autoficção - FichamentoRichard RochAinda não há avaliações
- As Bacantes PDFDocumento10 páginasAs Bacantes PDFJéssica BarbosaAinda não há avaliações
- A Cisgeneridade em QuestaoDocumento7 páginasA Cisgeneridade em QuestaowanderleyemidioAinda não há avaliações
- O Grafismo Potiguara - Joao Vitor VelameDocumento6 páginasO Grafismo Potiguara - Joao Vitor VelameJoão Vitor100% (2)
- Pluraridade e Ambiguidade Na Experiencia ArtisticaDocumento15 páginasPluraridade e Ambiguidade Na Experiencia ArtisticaSandro NovaesAinda não há avaliações
- Etnopsiquiatria PDFDocumento6 páginasEtnopsiquiatria PDFcamila marquesAinda não há avaliações
- 2º Trans-In-Corporados: Textos Completos// Textos Completos// Full Texts (2020)Documento529 páginas2º Trans-In-Corporados: Textos Completos// Textos Completos// Full Texts (2020)Sérgio AndradeAinda não há avaliações
- Transexualismo e Travestismo A Partir Da Perspectiva Da PsicanáliseDocumento16 páginasTransexualismo e Travestismo A Partir Da Perspectiva Da PsicanáliseClarice TulioAinda não há avaliações
- Performance, performatividade e identidadesNo EverandPerformance, performatividade e identidadesAinda não há avaliações
- Ariano Suassuna e seu mais nobre auto: uma proposta de análise bakhtiniana do Auto da Compadecida de Ariano Suassuna e sua versão televisivaNo EverandAriano Suassuna e seu mais nobre auto: uma proposta de análise bakhtiniana do Auto da Compadecida de Ariano Suassuna e sua versão televisivaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Identidades Legitimamente Diversas: Um Estudo pela Visibilidade Inclusiva da Transgeneridade e da Não Binariedade de GenêroNo EverandIdentidades Legitimamente Diversas: Um Estudo pela Visibilidade Inclusiva da Transgeneridade e da Não Binariedade de GenêroAinda não há avaliações
- As "dobras" e as "des(re)territorializações" no ensino de Filosofia: a "escrita de si" e a singularidade dos sujeitos-professoresNo EverandAs "dobras" e as "des(re)territorializações" no ensino de Filosofia: a "escrita de si" e a singularidade dos sujeitos-professoresAinda não há avaliações
- Encontros filosóficos - composições sobre o pensamento: Volume 1No EverandEncontros filosóficos - composições sobre o pensamento: Volume 1Ainda não há avaliações
- Teatro da Presença Social: A Arte de Fazer um Movimento VerdadeiroNo EverandTeatro da Presença Social: A Arte de Fazer um Movimento VerdadeiroAinda não há avaliações
- RECOMENDAÇÕES AOS MÉDICOS QUE EXERCEM A PSICANÁLISE (Salvo Automaticamente)Documento19 páginasRECOMENDAÇÕES AOS MÉDICOS QUE EXERCEM A PSICANÁLISE (Salvo Automaticamente)lanusa27100% (2)
- ResumoDocumento4 páginasResumobeatriz.fariaAinda não há avaliações
- Resumo NP1Documento4 páginasResumo NP1Elaine TenorioAinda não há avaliações
- A Relação Do Sujeito Com o Tempo Na Atualidade: Fernanda Ferreira Montes e Regina HerzogDocumento11 páginasA Relação Do Sujeito Com o Tempo Na Atualidade: Fernanda Ferreira Montes e Regina HerzogAyrk ZamiskeAinda não há avaliações
- A Criança Na Clínica PsicanalíticaDocumento3 páginasA Criança Na Clínica PsicanalíticakelivalenteAinda não há avaliações
- Estudo Sobre Wilfred BionDocumento5 páginasEstudo Sobre Wilfred BionTamara Zavaski AvanziAinda não há avaliações
- Psicologia e Odontologia 2022 PDFDocumento162 páginasPsicologia e Odontologia 2022 PDFAnna karolinaAinda não há avaliações
- Entre As Ruínas Do Tempo Walter Benjamin e SigmundDocumento14 páginasEntre As Ruínas Do Tempo Walter Benjamin e SigmundAna Clara CarneiroAinda não há avaliações
- A PRÁTICA PROFISSIONAL DOS Psicologos No Sistema PrisionalDocumento37 páginasA PRÁTICA PROFISSIONAL DOS Psicologos No Sistema PrisionalMaíne FerreiraAinda não há avaliações
- A Contribuição Da Psicanálise para A Educação PDFDocumento2 páginasA Contribuição Da Psicanálise para A Educação PDFCleilson Braz100% (1)
- Uma Introdução À Terapia Breve de Orientação Psicanalítica: Por Gema Bocalon BonetiDocumento9 páginasUma Introdução À Terapia Breve de Orientação Psicanalítica: Por Gema Bocalon BonetiCintia RodriguesAinda não há avaliações
- Apostila de Psicologia e Relacoes HumanasDocumento22 páginasApostila de Psicologia e Relacoes Humanaslucianaklima100% (1)
- OcorpodosujeitoDocumento6 páginasOcorpodosujeitoSusana Veloso CabralAinda não há avaliações
- SafatleDocumento11 páginasSafatleMauro BragaAinda não há avaliações
- Correspondência Entre S. Freud e Anna FreudDocumento22 páginasCorrespondência Entre S. Freud e Anna FreudCaroline Perrota O Do ValleAinda não há avaliações
- Apostila de Sistematização Do CuidarDocumento227 páginasApostila de Sistematização Do Cuidaritallo vieiraAinda não há avaliações
- Freud Reformulou Continuamente Seus ConceitosDocumento4 páginasFreud Reformulou Continuamente Seus Conceitosgaius multiterapiasAinda não há avaliações
- António Coimbra de MatosDocumento5 páginasAntónio Coimbra de MatosDiogo Vaz PintoAinda não há avaliações
- Pscologia EscuraDocumento718 páginasPscologia EscuraRodrigo Azevedo LealAinda não há avaliações
- A Relevância Da Teoria Psicanalitica Na Enfermagem de Saúde Mental e PsiquiátricaDocumento27 páginasA Relevância Da Teoria Psicanalitica Na Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátricaanacristinagaspar95Ainda não há avaliações
- Clínica Do Esquecimento - Cristina RauterDocumento90 páginasClínica Do Esquecimento - Cristina RauterMartha BentoAinda não há avaliações
- Psicanálise 1Documento3 páginasPsicanálise 1Yasmin calheirosAinda não há avaliações
- 1 374561920335750691 PDFDocumento142 páginas1 374561920335750691 PDFerape22Ainda não há avaliações
- HTP (House - Tree-Person) e CAT-ADocumento16 páginasHTP (House - Tree-Person) e CAT-AKatharina PinheiroAinda não há avaliações
- Marcos Chedid Abel - Verdade e Convicção em PsicanáliseDocumento13 páginasMarcos Chedid Abel - Verdade e Convicção em PsicanáliseMarcos AbelAinda não há avaliações
- Capacitacao Comites Etica Pesquisa v1Documento200 páginasCapacitacao Comites Etica Pesquisa v1Licinio Andrade GoncalvesAinda não há avaliações
- A Sociedade Do DesprezoDocumento3 páginasA Sociedade Do DesprezoRes2001Ainda não há avaliações