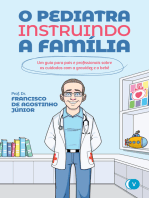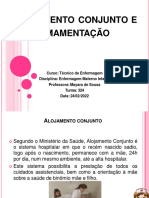Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Sind2 PDF
Apostila Sind2 PDF
Enviado por
Samay BispoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Sind2 PDF
Apostila Sind2 PDF
Enviado por
Samay BispoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
FUNDAO FRANCISCO MASCARENHAS
ESCOLA DE CINCIAS DA SADE ECISA PATOS PB
CURSO TCNICO DE ENFERMAGEM
DOCENTE:
ARETUSA DELFINO DE MEDEIROS
PATOS PB
2012
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
SUMRIO
UNIDADE
ASSUNTO
01
Introduo a Enfermagem Peditrica
02
Cuidados de Enfermagem ao Recm Nascido
03
Teste de PKU
04
Programa Nacional de Imunizao
05
Assistncia de Enfermagem no Crescimento e Desenvolvimento da Criana
06
Ateno Integrada as Doenas Prevalentes na Infncia -AIDIPI
07
Infeces Respiratrias Agudas
08
Diarria Aguda
09
Desnutrio
10
Desidratao
11
Necessidades Bsicas da Criana
12
Hospital Peditrico
13
Humanizao da Assistncia a Criana Hospitalizada
14
Admisso e Alta da criana
15
Cuidados de Enfermagem no Pr, trans e ps operatrio da criana
16
Assistncia de enfermagem a Criana Terminal
17
Tcnicas Peditricas
18
Anexos
19
Referncias Bibliogrficas
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
UNIDADE 1
INTRODUO ENFERMAGEM PEDITRICA
O significado social e a existncia de um grande nmero de crianas em qualquer
populao so marcas de enfermagem peditrica. Esta se caracteriza pela ateno a um grupo
de pessoas que est em constante crescimento e desenvolvimento e pela abordagem de aes
preventivas em seu cotidiano de assistncia.
O aparecimento da Pediatria como especialidade ocorreu na Europa, quando alguns
mdicos comearam a observar e a estudar as diferenas das doenas ocorridas em adultos e
em crianas. Antes disso, o fato no tinha o menor significado tanto para mdicos quanto para
enfermeiras. O aparecimento do primeiro departamento de Pediatria na Universidade de
Havard se deu em 1888.
H algum tempo, a assistncia de enfermagem criana hospitalizada seguia condutas
e procedimentos extremamente rgidos. A ausncia de medicamentos antibiticos, os
altssimos ndices de infeco, o grande nmero de crianas doentes e o prprio despreparo de
profissionais levavam ao estabelecimento de regras de isolamento e repouso muitas vezes
absurdas, como o uso de camisas - de - fora. Preocupados com o risco de infeco cruzada e
despreparados para atender as necessidades individuais da criana e dos pais, os profissionais
de sade as mantinham isoladas, tanto uma das outras como da me e do restante da famlia.
Com os avanos na rea de sade, houve mudanas nos mtodos de assistncia criana.O
advento da Psicologia, os estudos de Freud e de outros sobre o comportamento humano deram
incio a uma abordagem mais integral criana, possibilitando a compreenso das suas
necessidades emocionais,em suas diversas fases de crescimento e desenvolvimento.
1.0 CONCEITOS BSICOS NA ASSISTNCIA SADE DA CRIANA:
1.1-
1.5-
Enfermagem Peditrica: um campo de estudo e de prtica da enfermagem dirigida
assistncia criana at a adolescncia. Ou, ainda, um campo da enfermagem que
se dedica ao cuidado do ser humano em crescimento e desenvolvimento, desde o
nascimento at a adolescncia.
Pediatria: o campo da Medicina que se dedica assistncia ao ser humano em
crescimento e desenvolvimento, desde a fecundao at a adolescncia.
Neonatologia: o ramo da Pediatria que atende o recm-nascido, desde a data do
nascimento at completar 28 dias;
Puericultura: tambm denominada de Pediatria Preventiva, o ramo da Pediatria que
cuida da manuteno da sade da criana e do acompanhamento de seu crescimento e
desenvolvimento.
Hebiatria: o ramo da Pediatria que atende as necessidades de sade do adolescente.
1.6-
Classificao da infncia em grupos etrios:
1.21.31.4-
LACTENTE: Neonatal: 0 28 dias / Lactente: 1-12 meses
1 INFNCIA: Todller : 2anos e 11 meses/ Pr-escolar: 3 5 anos e 11 meses
2 INFNCIA: Escolar: 6 anos e 11 meses a 11 anos e 11 meses
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
INFNCIA TARDIA: Adolescente: a partir dos 12 anos
2.0. DIREITOS DA CRIANA:
2.1- DECLARAO DOS DIREITOS HUMANOS: Em 1924, os direitos da criana foram
declarados pela ONU, mas o reconhecimento da Declarao Universal dos Direitos Humanos
aconteceu em 1959. Objetivando afirmar que toda criana merece uma infncia feliz e que
possa gozar de direitos e liberdades, essa declarao enunciou os seguintes princpios:
Toda criana gozar de todos os direitos enunciados na Declarao :
A criana gozar de proteo especial e ser-lhe-o proporcionadas oportunidade e
facilidade, a fim de facultar o desenvolvimento fsico, mental, moral, espiritual e
social de forma sadia e normal e em condies de dignidade.
Toda criana ter direito a nome e nacionalidade, desde o nascimento;
A criana gozar os benefcios da previdncia social,a criana ter direito
alimentao, habitao, recreao e assistncia mdica adequadas;
criana incapacitada fsica ou mentalmente, sero proporcionados o tratamento, a
educao e os cuidados especiais;
Para o desenvolvimento completo e harmonioso da sua personalidade, a criana
precisa de amor e de compreenso.
A criana ter direito a receber educao, que ser gratuita e obrigatria, pelo menos
no grau primrio;
A criana figurar, em qualquer circunstncia, entre os primeiros a receber proteo e
socorro;
A criana deve ser protegida contra quaisquer formas de negligncia, crueldade e
explorao;
A criana gozar de proteo contra atos que possam suscitar discriminao racial,
religiosa ou de qualquer outra natureza ( ONU, 1959).
3.0. ESTATUTO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE:
O Estatuto da criana e do adolescente foi legalizado em 1990, pela Lei Federal n
8.069. Ao prestar sua assistncia, os tcnicos e os auxiliares de enfermagem, assim como os
demais profissionais de sade, devero considerar os direitos prescritos por esse Estatuto, sob
pena de serem acionados judicialmente. No Brasil, com relao sade, as crianas e os
adolescentes tm os seguintes direitos:
Art.7. A criana e o adolescente tm direito proteo, vida e a sade, mediante a
efetivao de polticas sociais pblicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio
e harmonioso, em condies dignas de existncia.
Art. 8. assegurado gestante, atravs do SUS, o atendimento pr e perinatal.
Art 9. O Poder pblico, as instituies e os empregadores propiciaro condies adequadas
ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mes submetidas a medida privativa de
liberdade.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Art 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de ateno sade de gestantes, pblicos e
particulares, so obrigados a:
Imanter registro das atividades desenvolvidas pelo prazo de 18 anos;
IIIdentificar o recm-nascido;
IIIProceder a exames visando ao diagnstico e teraputica de anormalidades no
metabolismo do recm-nascido, bem como, a orientao aos pais;
IVFornecer declarao de nascimento onde constem as intercorrncias do parto e do
desenvolvimento de neonato.
Art 11. assegurado atendimento mdico criana e ao adolescente, atravs do SUS,
garantindo o acesso universal e igualitrio s aes e servios para a promoo, proteo e
recuperao da sade.
Art 12. Os estabelecimentos de atendimentos sade devero proporcionar condies para a
permanncia em tempo integral de um dos pais ou responsvel, nos casos de internao de
criana ou adolescente.
Art 13. Os casos de suspeita ou maus tratos contra criana ou adolescente sero
obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade.
Art 14. O SUS promover programas de assistncia mdica e odontolgica para a preveno
das enfermidades que ordinariamente afetam a populao infantil, e campanhas de educao
sanitria para pais, educadores e alunos.
Pargrafo nico: obrigatria a vacinao das crianas nos casos recomendados pelas
autoridades sanitria. ( MS, 2001)
UNIDADE 2
CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO RECM - NASCIDO
1. CONCEITO E CLASSIFICAO DO RN (RECM-NASCIDO) QUANTO:
1.1. Idade Gestacional:
RN TERMO OU NORMAL: toda criana nascida de uma gestao entre
38 a 42 semanas de gestao. (280 dias/ Dando margem de 15 dias antes ou
aps o parto).
RN PREMATURO: toda criana nascida de uma gestao entre 28 a 37
semanas de gestao.
RN POSMATURO: toda criana nascida de uma gestao com mais de 42
semanas de gestao.
1.2. Peso Ao Nascer
A.I.G (Adequado para a Idade Gestacional): todo RN que nasce com peso > 2,5 a 4
kg entre percentis 10 e 90.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
P.I.G (Pequeno para a Idade Gestacional): todo RN que nasce com peso igual ou
inferior a 2,5 kg, abaixo do percentil 10.
G.I.G (Grande para a Idade Gestacional): todo RN que nasce com peso igual ou
superior a 4 kg acima do percentil 10.
RN DE ALTO RISCO: o produto de uma gestao de alto risco, onde as
intercorrncias patolgicas e/ou sociais representam fatores de agresso ao binmio
me-filho, determinando morbi-mortalidade perinatal, que pode perdurar at 28 dias
ps-parto.
RN PREMATURO
1.CONCEITO: toda criana nascida de uma gestao entre 28 a 37 semanas e 6 dias, com
peso igual ou inferior a 2,5 kg e estatura igual ou inferior a 45 cm.
2.CLASSIFICAO:
Prematuro Limtrofe: gestao entre 36 a 37 semanas e 6 dias.
Moderadamente prematuro: gestao entre 31 a 35 semanas e 6 dias
Extremamente prematuro: gestao entre 28 a 30 semanas e 6 dias.
3.ETIOLOGIA: Gravidez precoce, fumo, lcool, doenas cardacas, desnutrio materna,
gravidez gemelar, placenta prvia (PP), descolamento prematuro da placenta(DPP), placenta
normalmente inserida (DPPNI): doena auto-imune, onde a me sempre morre por
hemorragia.
4.INCIDNCIA: Classe social mais baixa.
5.CARACTERSTICAS ANATMICAS
Postura: Inativo/ flcido e relaxado, com as extremidades mantidas em extenso.
Permanecem em qualquer posio que se coloca.
Cabea: grande, desproporcional, achatada nos lados e longa da frente para trs, desprovida
de convexidade usual nas reas temporais e parietais.
Face: senil, envelhecida.
Cabelos: finos, ralos como lanugem.
Olhos: fechados, grandes em relao a face e proeminentes.
Pescoo: curtssimo, o mento repousa sobre a caixa torcica.
Cartilagem da orelha: mal desenvolvida, malevel, macia.
Fontanelas: amplas
PC: 25/32 cm
PT: 23/30 cm
Caractersticas Gerais:
Peso: Depende do grau de imaturidade, varia de > 500 g 2,5 kg.
Extremamente baixo: 500 g a 1 kg
Muito baixo: 1 kg a 1,5 kg
Baixo: 1,5 kg a 2,5 kg
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Estatura: 45 cm
Caixa torcica: deprimida / Abdmen: distendido
Tnus Muscular: diminudo / Ausncia de sulcos plantares
Pele: tecido subcutneo delgado, colorao plida, coberta por lanugem.
Mos e ps: poucos sulcos, aspecto liso; Unha: no atinge a polpa digital
Genitais:
Masculino: Saco escrotal subdesenvolvido; podendo est retido na cavidade abdominal.
Feminino: Grandes lbios pouco evidentes; clitris proeminente.
6.CARACTERSTICAS FISIOLGICAS
APARELHO RESPIRATRIO: Imaturo, devido ao desenvolvimento incompleto
dos alvolos e capilares. Tecido pulmonar e centro regulador imaturos. Respirao:
peridica; hipoventilao; episdios freqentes de apnia.
APARELHO TERMO REGULADOR: Precrio e imaturo. Incapacidade da
manuteno da temperatura corprea, por no possuir gordura de isolamento trmico.
APARELHO DIGESTIVO: Deficiente. Dificuldade de absoro. Quanto mais
intensa a prematuridade, mais ausentes esto os reflexos de suco e deglutio. H
trs tipos de prematuro:
1.O que suga e deglute (uso de mamadeira)
2.O que no suga e deglute (uso de conta-gotas)
3.O que no suga e no deglute (gavagem/sonda)
ATIVIDADE REFLEXA: Diminuda /Sinais neurolgicos: ausentes.
COMPLICAES: Hiperbilirrubinemia/ Hipoglicemia/ Distrbios Hidroeletrolticos.
PS MATURO
1.CONCEITO: toda criana nascida de uma gestao com mais de 42 semanas.
2.CAUSAS: A maioria desconhecida, porm se atribui a:
Hereditariedade
Primiparidade com mais de 28 anos
Repouso excessivo
Distrbio endcrino
3.CARACTERSTICAS GERAIS
Peso: O RN pode nascer com perda de peso. A placenta ao envelhecer perde sua funo,
no conseguindo manter os nutrientes para o feto.
Tecido adiposo diminudo, depleo da gordura subcutnea, aspecto fsico comprometido,
refletindo o desprovimento intrauterino, apresentando um aspecto delgado e alongado.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Estatura: cerca de 3 a 4 cm maior que o normal.
Pele: macerada, enrugada, sem lanugem, sem vernix caseoso, apresentando dobras,
rachaduras, manchas enegridas, apergaminhada
Unhas: ultrapassam a polpa digital, sujas de mecnio.Sulcos palmares profundos.
Mos: secas e descamadas.
COMPLICAES:
Aspirao de mecnio: provocada pela hipxia intrauterina, associada com a acidose. O
RN aspira o lquido amnitico que contm mecnio. (A hipxia provoca relaxamento do
esfncter anal).
Hipoglicemia: provocada pelo estoque de gordura. O glicognio do fgado logo
escasseado, necessitando, portanto de reservas energticas.
Policitemia: aumento dos eritrcitos, elevando a viscosidade do sangue. A circulao se
torna lenta e obstruda sobretudo nos capilares, assim o sangue no chega a circulao
perifrica.
RN DE ALTO RISCO
1.CONCEITO: o produto de uma gestao de alto risco, onde as intercorrncias
patolgicas e/ou sociais representam fatores de agresso ao binmio me-filho,
determinando morbi-mortalidade perinatal, que pode perdurar at 28 dias ps-parto.
2.CLASSIFICAO: De acordo com o peso do nascimento; Idade Gestacional;
Problema fisiopatolgico predominante.
3.RN CONSIDERADOS DE ALTO RISCO:
Prematuro
Ps- maturo
Anxia perinatal
Macrossomia
Gemelaridade
Rh negativo
Anomalias congnitas
Desnutrio
Diabetes materna
Mes com AIDS
Mes com DSTs
4.GESTAO DE ALTO RISCO:
Idade materna menor de 16 anos ou maior de 35 anos
Insuficincia Placentria
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Diabetes
Hemorragia
Hipertenso Crnica
Nefropatia
Cardiopatia
Placenta Prvia
Descolamento da Placenta Normalmente Inserida
Cuidados aps o Nascimento:
A transio bem-sucedida de um feto (imerso no lquido amnitico e totalmente
dependente da placenta para obter nutrientes e oxignio) at o seu nascimento, respirando
e chorando vigorosamente, algo sempre maravilhoso. Os recm-nascidos saudveis
necessitam de um bom cuidado para garantir seu desenvolvimento normal e uma boa
sade.
Imediatamente aps um nascimento normal, a equipe da sala de parto ajuda a me
a segurar o seu filho. A amamentao geralmente pode ser iniciada neste momento caso a
me assim o desejar. O pai tambm encorajado a segurar o seu filho e a compartilhar
esses momentos. Alguns especialistas acreditam que o contato fsico imediato com a
criana ajuda a estabelecer vnculos afetivos. Contudo, os pais podem estabelecer bons
vnculos afetivos com seus filhos inclusive quando no passam as primeiras horas juntos.
1.CUIDADOS IMEDIATOS AO RN:
So aqueles prestados ainda na sala de parto.
1.1. Desobstruo das VASS:
Objetivos:
Promover limpeza das VASS e a instalao imediata e posterior manuteno da
respirao.
Impedir tamponamento dos espaos bronco-alveolares.
Impedir anxia.
OBS: 1 se aspira a boca, depois o nariz.
Avaliao das condies vitais do RN, atravs da Escala de Apgar.
ESCALA DE APGAR
SINAIS
ESCORE O
ESCORE 1
ESCORE 3
Freqncia das
pulsaes
Ausente
Menos de 100
Acima de 100
Esforo respiratrio
Ausente
Superficial
Choro forte
Tnus muscular
Atonia/Hipotonia
Ligeira flexo
Movimentos ativos
Irritabilidade reflexa
Ausente
Careta
Espirro/tosse
Cor da pele
Cianose/Palidez
Cianose de
extremidades
Rsea
1.3. Pinamento e seco do cordo umbilical
1.4. OBS: Realiza-se aps a cessao dos batimentos
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
1.3. Aspirao do suco gstrico
1.4. Credeizao /Mtodo de Cred: Instila-se 1 gota de Nitrato de Prata a 1% nos olhos, na
vagina e/ou pnis do RN a fim de evitar oftalmia gonoccica, transmitida verticalmente.
1.5. Identificao do RN (Nome da gestante, data e hora do nascimento): Identificar o recmnascido com pulseira prpria ou feita com esparadrapo e colocada no antebrao e tornozelo.
2.CUIDADOS MEDIATOS AO RN:
So aqueles prestados na Unidade de Internao Peditrica.
2.1.Higiene: O Banho realizado aproximadamente 6 horas ou mais aps o nascimento.
Tenta-se no retirar o material gorduroso esbranquiado (verniz caseoso) que recobre a maior
parte da pele do recm-nascido, pois ele ajuda a proteg-lo contra a infeco.
2.2.Administrao de Vitamina K. Como todos os conceptos nascem com concentrao
baixa de vitamina K, o enfermeiro ou o tcnico de enfermagem administra 1mg por via IM
desta vitamina para evitar a ocorrncia de sangramentos (doena hemorrgica do recmnascido) Objetivo: Catalisar a sntese da protrombina no fgado.
2.3.Curativo do Coto Umbilical: Higiene do Coto Umbilical em geral, uma soluo
antissptica ( lcool a 70%) aplicada no cordo umbilical recm-seccionado, para ajudar a
evitar a infeco e o ttano neonatal. O clipe plstico do cordo umbilical removido 24
horas aps o nascimento. O coto remanescente deve ser umedecido diariamente com uma
soluo alcolica. Este processo acelera a secagem e reduz a possibilidade de infeco do
coto. O coto umbilical cair por si mesmo, geralmente entre o 5 e o 12 dia. Um retardo
maior na queda no dever ser motivo de preocupao.
2.4.Medidas Antropomtricas:
Peso: Balana adequada, protegida com fralda.
Comprimento: Utilizao da Mesa antropomtrica.
2.5. Aquecimento: Manter RN aquecido, no bero (conforme rotina do hospital) e manter
observao rigorosa (cianose; vmito; tremores; respirao). fundamental que o recmnascido seja mantido aquecido. Assim que possvel, ele deve ser enrolado em panos leves
(cueiros) e a sua cabea coberta, para reduzir a perda do calor corpreo.
Enfermagem cabe:
Registrar, na ficha do recm-nascido, sua impresso plantar e digital do polegar direito da
me;
Em partos mltiplos a ordem de nascimento dever ser especificada nas pulseiras atravs de
nmeros (1, 2, 3, 4 etc.) aps o nome da me;
Preencher a ficha do recm-nascido com os dados referentes s condies de nascimento,
hora e data do parto.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Primeiros Dias do RN
Durante os primeiros dias aps o nascimento, os pais aprendem a alimentar, a banhar e a
vestir
a
criana,
familiarizando-se
com
suas
atividades
e
sons.
A primeira urina produzida por um recm-nascido concentrada e, freqentemente,
contm substncias qumicas denominadas uratos, que podem dar s fraldas uma colorao
rosa,que
no
deve
ser
confundida
com
sangue
A primeira evacuao consiste no mecnio (substncia negro-esverdeada e viscosa),
que contedo do intestino formado durante a gestao por secrees digestivas do fgado,
pncreas e intestino fetal, lquido amnitico deglutido e clulas intestinais Todo recmnascido deve eliminar o mecnio nas primeiras 24 horas aps o nascimento. Aps 2 a 3 dias
do
nascimento
surgem
as
chamadas
"fezes
de
transio".
Durante os primeiros dias de vida, o recm-nascido normalmente perde 5 a 10% de
seu peso ao nascimento. Este peso rapidamente recuperado medida que ele comea a se
alimentar.
ANAMNESE E EXAME FSICO DO RECM-NASCIDO
Nome da me, procedncia, instruo, estado civil, residncia. Registro materno e do
recm-nascido quando usado a ficha de internao neonatal.
O primeiro exame fsico do recm-nascido tem como objetivo:
Detectar a presena de malformaes congnitas
Avaliar a capacidade de adaptao do recm-nascido vida extra-uterina.
O exame fsico deve ser realizado com a criana despida, mas em condies tcnicas
satisfatrias.
EXAME NEUROLGICO:
O exame neurolgico compreende a observao da atitude, reatividade, choro,
tnus,movimentos e reflexos do recm-nascidos. Deve-se pesquisar os reflexos de
Moro,suco, busca, preenso palmar e plantar, tnus do pescoo, extenso cruzada dos
membros inferiores, endireitamento do tronco e marcha automtica.
Reflexos do Recm-nascido
Reflexo
Descrio
De Moro
Quando o recm-nascido se assusta, seus membros
superiores e inferiores balanam para fora e para frente,
num movimento lento, com os dedos esticados
De Busca
Quando qualquer um dos extremos da boca de recmnascido tocado, ele vira a cabea para esse lado. Este
reflexo permite que o recm-nascido encontre o mamilo
De suco
Quando um objeto colocado na boca do recmnascido, ele comea a sugar imediatamente
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
UNIDADE 3
TESTE DE PKU ( TESTE DO PEZINHO)
Nome popular para a Triagem Neonatal, o teste do pezinho gratuito e deve ser feito a
partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar do recm-nascido. Por ser uma parte do corpo
rica em vasos sanguneos, o material pode ser colhido em uma nica puno, rpida e quase
indolor para o beb. No teste, o sangue da criana coletado em papel filtro especial. As
amostras de sangue obtidas so secas e posteriormente enviadas ao laboratrio para o
processamento dos exames.
Em sua verso mais simples, o teste do pezinho foi introduzido no Brasil na dcada de 70 para
identificar duas doenas (chamadas pelos especialistas de "anomalias congnitas", porque se
apresentam no nascimento): a fenilcetonria e o hipotireoidismo. Ambas, se no tratadas a
tempo, podem levar deficincia mental.
A identificao precoce de qualquer dessas doenas permite evitar o aparecimento dos
sintomas, atravs do tratamento apropriado. Por isso, recomenda-se realizar o teste idealmente
no 5 dia de vida do beb. Antes disso, os resultados no so muito precisos ou confiveis. A
partir desse dia, importante que toda me leve seu filho para fazer o exame. Assim o
tratamento, se for o caso, ser mais eficaz.
Por meio de lei federal, o teste se tornou obrigatrio em todo o Pas, em 1992, embora
ainda no alcance a totalidade dos recm-nascidos. A portaria de nmero 822, de 6 de junho
de 2001, assinada pelo ex-ministro Jos Serra, criou o Programa Nacional de Triagem
Neonatal (PNTN) com o objetivo de atender a todos os recm-natos em territrio brasileiro.
Atualmente, j existe uma verso ampliada, que permite identificar mais de 30
doenas antes que seus sintomas se manifestem. Trata-se, no entanto, de um recurso
sofisticado e ainda bastante caro, no disponvel na rede pblica de sade.
DOENAS DIAGNOSTICADAS
1.FENILCETONRIA: uma doena gentica, de carter autossmico recessivo
decorrente da deficincia da enzima fenilalanina-hidroxilase. Em conseqncia a fenilalanina
acumula-se no sangue do RN, com efeitos txicos do sistema nervoso central, podendo causar
at a deficincia mental severa.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Conseqncias
Deficincia mental irreversvel.
Convulses, problemas de pele e cabelo.
Problemas de urina e at invalidez permanente.
Tratamento: Controle alimentar com dieta especial base de leite e alimentos que no
contenham fenilalanina, sob rigorosa orientao mdica, para que o beb fique bom e leve
uma vida normal.
2.HIPOTIREOIDISMO CONGNITO
hereditrio, causado pela falta de uma enzima, impossibilitando que o organismo
forme o T4, hormnio tireoidiano, impedindo o crescimento e desenvolvimento de todo o
organismo inclusive o crebro, sendo a deficincia mental uma de suas manifestaes mais
importantes.
Conseqncias
Deficincia mental irreversvel, convulses, problemas de pele e cabelo, problemas de
urina e at invalidez permanente.
Tratamento
Administrao de hormnio tireoidiano, sob rigoroso controle mdico, para que o beb
fique bom e tenha uma vida normal.
3.HEMOGLOBINOPATIAS:
So doenas que acometem a estrutura ou/e a taxa de produo da molcula de
hemoglobina, presente nos glbulos vermelhos e responsvel pelo transporte de oxignio para
os tecidos. A anemia falciforme (AF) a hemoglobinopatia mais freqente no nosso pas,
atingindo cerca de 0,1-0,3% da populao de negros.
4.FIBROSE CSTICA:
a doena autossmica recessiva de elevada prevalncia nas populaes de origem
europia, caracterizada por uma disfuno crnica e grave dos pulmes e trato gastrointestinal
devido a um distrbio no transporte de cloreto pelas membranas epiteliais. A freqncia dessa
patologia na populao do sul do Brasil de 1 para 2.500 nascidos vivos.
MTODO DE COLETA:
Colher a partir de 72 h de vida ou entre o 3 e 30 dias de vida.
Preencher o carto com os dados da criana e assinalar os exames a serem feitos.
Aquecer o local com bolsa de gua morna, 44 por 5 min.
Assepsia com lcool 70% e deixar secar.
Usar uma lanceta fina e puncionar a face lateral do calcanhar, com movimento firme e
nico, seguido por movimento de rotao bilateral.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Desprezar a primeira gota com gaze ou algodo seco.
Formar uma gota grande e encostar o papel filtro deixando saturar os crculos at
enche-los e vazar no verso.
Secar em temperatura ambiente por 3 h na horizontal sem que o sangue encoste na
superfcie ou objetos
Enviar ao laboratrio em envelope prprio ou papel alumnio.
UNIDADE 4
CALENDRIO BSICO DE VACINAO DA CRIANA NO PRIMEIRO ANO DE
VIDA
As vacinas (cujo nome advm de vaccinia, o agente infeccioso da varola bovina, que,
quando injetado no organismo humano, proporciona imunidade varola no ser humano)
so substncias txicas, que ao serem introduzidas no organismo de um animal, suscitam uma
reao do sistema imunolgico semelhante que ocorreria no caso de uma infeco por um
determinado agente patognico, por forma a tornar o organismo imune a esse agente (e s
doenas por ele provocadas).So, geralmente, produzidas a partir de agentes patognicos
(vrus ou bactrias), ou ainda de venenos, previamente enfraquecidos. Por inserir no
organismo esse tipo de substncias, os efeitos colaterais podem ser adversos, correspondendo
ao esforo que nosso corpo est fazendo para controlar as substncias.
A descoberta da vacina se deve s pesquisas de Louis Pasteur, que em seu leito de
morte, disse: "O vrus no nada, o terreno tudo", com isso ele estava explicando que os
vrus s se multiplicam sem controle (gerando doenas) em um organismo, se encontrarem
terreno favorvel para isso. Mas a vacina j era usada anteriormente, na forma de medicina
popular, pelos chineses e povos do mediterrneo. Pasteur, entretanto, formalizou seu uso com
o rigor cientfico.
Calendrio Bsico de Vacinao da Criana 2012
Nota: Mantida a nomenclatura do Programa Nacional de Imunizao e inserida a
nomenclatura segundo a Resoluo de Diretoria Colegiada RDC n 61 de 25 de agosto
de 2008 Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
BCG
Composio: Bacilo Calmette-Gurin liofilizado, obtido por atenuao do M. bovis, cepa Mooron-Rio.
Idade: a partir do nascimento e revacinao quando no houver cicatriz vacinal.
Indicao: em especial nas crianas menores de 5 anos e preferencialmente nos menores de 1 ano. O mais
precocemente em crianas HIV positivas assintonticas.
Dosagem e via de administrao: 0,1ml ID na insero inferior do deltide.
Agulha: 13x3,8
Tempo de validade aps aberto o frasco: 06 horas.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Eventos adversos: formao de abscesso e/ou ulcerao (axilar).
Contra-indicao: imunodeficincia congnita ou adquirida; HIV sintomtico; < 2000g, afeces dermatolgicas
extensas (escabiose, impetigo= adiamento).
Conservao: +2 + 8C inativada quando exposta luz artificial.
HEPATITE B
Composio: H 2 tipos : 1 partcula viral tratada com formol (2 recombinao do RNA viral atravs de
engenharia gentica).
Idade: nas primeiras 12 horas de vida.
Esquema: 0,1,6 meses 1 dose para 2 dose intervalo de 30 dias e da 1 dose para 3 dose um intervalo de 6
meses.
Dosagem e via de administrao: 0,5 ml ou de acordo com o fabricante, IM profunda no Vasto Lateral da Coxa
(VLC) em crianas at 2 anos e deltide em crianas maiores.
Agulha: 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 25x7 (maiores de 2 anos).
Tempo de validade aps aberto o frasco: at o final do frasco.
Eventos adversos: dor no local da injeo e febre baixa.
Contra-indicao: reao anafiltica sistmica na dose anterior.
Conservao: + 2+ 8, congelamento inativa.
POLIOMIELITE ORAL ( VOP )
Composio: vrus vivo atenuado em cultura de clulas.
Idade: a partir dos 2 meses at 4 anos 11 meses e 29 dias.
Esquema: 3 doses a partir dos 2 meses de idade, com intervalos de 60 dias e no mnimo 30 dias; dose de reforo
aos 15 meses.
Dosagem e via de administrao: 2 gotas oral.
Tempo de validade aps aberto o frasco: 05 dias.
Contra-indicao: crianas com imunodeficincia (congnita ou adquirida); pessoas submetidas a transplante de
medula; crianas HIV+ sintomticas (AIDS).
Conservao:geladeira, +2+8C.
Observao: Retornar ao refrigerador ou isopor imediatamente aps a vacinao.
TETRAVALENTE
Composio: vacina que contm toxidide diftrico, tetnico e Bordetella pertussis, alm de polissacardeo
capsulares (Poliribosol-ribtol-fosfato- PRP) do Haemophilus influenza conjugada com uma protena carreadora
tetnica.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Idade: at 11 meses e 29 dias.
Via de administrao: IM ou VLC.
Esquema: 3 doses de 0,5ml a partir dos 2 meses de idade, com intervalo entre as doses de 60 dias e no mnimo
30 dias.
Agulha: 20x5,5.
Tempo de validade aps aberto o frasco: 05 dias.
OBS: No administrar em crianas maiores de 1 ano. Caso, o esquema no esteja completo, completar com DTP.
Eventos adversos: dor, vermelhido, febre, mal-estar e irritabilidade nas 24-48h.
Contra-indicao: crinaas que desencadeiam reao anafiltica no administrar dose seguinte.
Conservao: +2 +8C.
TRPLICE BACTERIANA DTP
Composio: a vacina trplice DTP contm toxide diftrico, toxide tetnico e Bordetella pertussis inativada em
suspenso, tendo como adjuvante hidxido ou fosfato de alumnio.
Idade: 1 primeiro reforo aos 15 meses e o 2 reforo entre 4-6 anos. Idade mnima aos 12 meses.
Esquema: 2 doses de 0,5 mal a partir dos 15 meses de idade.
Via de administrao: IM profunda no VLC e em crianas maiores de 2 anos administrar no deltide.
Agulha: 20x5,5 (menores de 2 anos) 25x6 ou 27x7 (maiores de 2 anos).
Tempo de validade aps aberto o frasco: at o final do frasco.
Evento adversos: dor, vermelhido, febre, mal-estar geral e irritabilidade nas primeiras 24 a 48 horas.
Contra-indicaes: a aplicao da vacina trplice DTP contra-indicada em crianas que tenham apresentado
aps a aplicao da dose anterior reao anafiltica.
TRPLICE VIRAL
Composio: vacina combinada do vrus vivo atenuado, liofilizado contra sarampo a rubola e caxumba.
Idade: a partir dos 12 meses de idade, recomenda-se aos 15 meses para coincidir com o reforo da DTP e plio.
Via de administrao: SC.
Esquema: 0,5 ml dose nica e reforo entre 4 6 anos de idade.
Agulha: 13x4,5 .
Tempo de validade aps aberto o frasco: 8 horas.
Efeitos adversos: febre e erupes de curta durao, entre o 5 e o 10 dia de ps-vacina, artralgia e artrite, mais
freqentemente em mulheres adultas.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Contra-indicao: reao sistmica ao ovo de galinha (urticria, edema da glote, dificuldade respiratria,
hipotenso ou choque), gravidez.
Conservao: +2+8C.
FEBRE AMARELA
Composio: vacina derivada da cepa 17, vrus da febre amarela, Sacarose 8 mg e 3 mg de glutamato de sdio.
Idade: a partir dos 9 meses.
Indicao: contra a febre amarela.
Via de administrao: SC no deltide.
Esquema: 1 dose aos 9 meses e reforo a cada 10 anos.
Agulha: 13x 4,5.
Tempo de validade aps aberto o frasco: 4 horas.
Eventos adversos: dor local, cefalia e febre.
Contra-indicao: crianas menores de 6 meses; portadores de imunodeficincia (congnita ou adquirida),
neoplasias malignas e pacientes HIV+ sintomticos; uso de corticoesterides em doses elevadas; pessoas com
histria de reao anafiltica aps consumo de ovo.
Conservao: +2+8C, quando congelada inativa.
ROTAVRUS
Composio: uma vacina elaborada com vrus isolados de humanos e atenuados para manter a capacidade
imunognica, porm no patognica.
Idade: mnima 1 m e 15 dias e idade mxima 5 meses 15 dias.
Indicao: gastroenterite provocada pelo vrus rotavrus.
Vias de administrao: Cada dose corresponde a 1 ml (exclusivamente oral).
Tempo de validade aps aberto o frasco: 24 horas aps a preparao da vacina.
Esquema: 2 doses; 2 meses e 4 meses, com intervalo entre as doses de 60 dias e no mnimo 30 dias.
Eventos adversos: reao sistmica grave at 2 h aps a administrao; presena de sangue nas fezes at 42 dias
aps vacinao; internao por abdome agudo at 42 aps a dose da vacina.
Justificativas para a sua incluso no calendrio vacinal infantil:
1.Os rotavrus constituem a principal causa de gastroenterites em crianas, sendo responsvel por mais de
400.000 bitos por ano em pases em desenvolvimento.
2.A maior incidncia das infeces por rotavrus se concentra na faixa etria de 6 a 24 meses, com o quadro
clnico clssico caracterizado-se por diarria precedida de febre e vmitos, evoluindo rapidamente para
desidratao.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
VACINA DUPLA BACTERIANA dT
Composio: toxide diftrico+tetnica com hidrxido de alumnio ou fosfato de alumnio como adjuvante.
Idade: dT administrar em crianas maiores de 7 anos e adultos.
Dosagem e via de administrao: 0,5 ml IM profunda no deltide.
Esquema: 3 doses com intervalo entre as doses de 60 dias e no mnimo 30 dias. O reforo aplicado a cada 10
anos.
Agulha: 25x6 ou 25x7.
Tempo de validade aps aberto o frasco: at o final do frasco
VACINA PENTAVALENTE
Composio: so compostas por toxides de difteria e ttano, suspenso celular inativada de Bordetella pertussis, antgeno de
superfcie de hepatite B (HBs-Ag), oligossacardeos conjugados de Haemophilus influenzae do tipo b)
Idade: indicada para imunizao ativa de crianas a partir de doismeses de idade contra difteria, ttano, coqueluche, hepatite
B e doenas causadas porHaemophilus influenzae tipo b.
Esquema: A vacinao bsica consiste na aplicao de 3 doses, com intervalo de 60 dias (mnimo de 30 dias), a partir de 2
meses de idade.Os dois reforos necessrios sero realizados com a vacina DTP (difteria, ttano e pertussis). O primeiro
reforo aos de 15 meses de e o segundo reforo aos 4 anos. A idade mxima para aplicao da DTP de 6 anos 11meses e 29
dias.Ressalta-se tambm que far parte deste esquema, para os recm-nascidos, a primeira dose nas primeiras 24 horas,
preferencialmente nas primeiras 12 horas, com a vacina hepatite B(recombinante).
Dose e Via de Administrao: Administrar dose de 0,5 mL da vacina DTP/HB/Hib por via intramuscular, no vasto lateral da
coxa, em crianas menores de 2 anos de idade e na regio deltide nas crianas acima de dois anos de idade.
VACINA MENINGOCCICA
Composio: As vacinas meningoccicas disponveis contra os diversos sorogrupos, incluindo o sorogrupo C podem ser
divididas em duas categorias: as que contm polissacardeos e as conjugadas. As de polissacardeos da cpsula da bactria
conferem proteo por tempo limitado (3-5 anos) e exclusivamente para os sorogrupos contidos na vacina, com reduzida
eficcia em crianas de baixa idade (particularmente abaixo de 2 anos).
Via de Administrao : A vacina deve ser administrada exclusivamente pela via intramuscular profunda, de preferncia na
rea ntero-lateral da coxa direita da criana
Esquema vacinal : O esquema de vacinao primrio consiste na aplicao de duas doses, em crianas menores de um ano de
idade, com intervalo de 2 meses entre as doses (mnimo de 30 dias), aos 3 e 5 meses de idade. Um nico reforo
recomendado aos 12 meses de idade, respeitando-se o intervalo mnimo de 2 meses, aps a aplicao da ltima dose.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
POLIOMIELITE INATIVADA ( VIP)
Composio : A vacina inativada poliomielite (VIP) foi desenvolvida em 1955 pelo Dr. Jonas Salk. Tambm chamado de
"vacina Salk", a VIP constituda por cepas inativadas (mortas) dos trs tipos (1, 2 e 3) de poliovrus e produz anticorpos
contra todos eles.
Esquema Vacinal : O esquema vacinal ser sequencial (VIP/VOP) de quatro doses para crianas menores de 1 ano de idade
que estiverem iniciando o esquema vacinal. A VIP dever ser administrada aos 2 meses (1 dose) e 4 meses (2 dose) de
idade, e a VOP aos 6 meses (3 dose) e 15 meses de idade (reforo). A preferncia para a administrao da VIP aos 2 e 4
meses de idade tem a finalidade de evitar o risco, que rarssimo, de evento adverso ps-vacinao.
Dose e via de administrao: A via de administrao preferencial da VIP a intramuscular, entretanto, a via subcutnea
tambm pode ser usada, mas em situaes especiais (casos de discrasias sanguneas). O local de aplicao preferencial para
injeo intramuscular em bebs o msculo vasto-lateral da coxa ou regio ventrogltea e para crianas maiores o msculo
deltide.
UNIDADE 5
A ENFERMAGEM, O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANA
O Crescimento ( C ) e o desenvolvimento ( D ) , so indicadores da sade das
crianas; por essa razo o acompanhamento desses processos se constitui na ao eixo da
assistncia sade da criana.As equipes de enfermagem e de sade devem estar alertas para
intervir no processo de CD, quando necessrio, da maneira mais precoce possvel. No Brasil,
o MS (1984) preconiza que a ateno infncia deve se estruturar a partir do
acompanhamento do CD.
O crescimento e desenvolvimento so o que caracteriza a criana, dessa forma , a
ateno a criana existe para promover o C e o D.
DEFINIES:
CRESCIMENTO: Constitui as alteraes biolgicas que implicam em aumento
corporal da criana, manifestadas pelo aumento do tamanho das clulas (Hipertrofia), e
pelo aumento do nmero de clulas (Hiperplasia). um quantitativo.
Referencia-se por:
Peso
Estatura
Permetro ceflico
Permetro torcico
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Alterao das fontanelas
Dentio
Alteraes na proporo corporal e tecidos corporais
DESENVOLVIMENTO: o aumento da capacidade do indivduo na realizao de
funes cada vez mais complexas. A criana desenvolve controle neuro-muscular, destreza
e traos de carter, funes que s podem ser medidas por meio de provas funcionais.
Habilidades motoras grossas
Habilidades motoras finas
Desenvolvimento da linguagem
Desenvolvimento congnitivo
Desenvolvimento social e afetivo
FATORES QUE INFLUENCIAM O CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO:
O crescimento um processo biolgico, de multiplicao e aumento do tamanho
celular, expresso pelo aumento do tamanho corporal.Todo indivduo nasce com um potencial
gentico de crescimento, que poder ou no ser atingido, dependendo das condies de vida a
que esteja submetido desde a concepo at a idade adulta. Portanto, pode-se dizer que o
crescimento sofre influncias de fatores intrnsecos (genticos, metablicos e malformaes,
muitas vezes correlacionados, ou seja, podem ser geneticamente determinadas) e de fatores
extrnsecos, dentre os quais destacam-se a alimentao, a sade, a higiene, a habitao e os
cuidados gerais com a criana Como conseqncia, as condies em que ocorre o
crescimento, em cada momento da vida da criana, incluindo o perodo intra-uterino,
determinam as suas possibilidades de atingir ou no seu potencial mximo de crescimento,
dotado por sua carga gentica.
1.0 AVALIAO DO CRESCIMENTO :
O crescimento pode ser avaliado mediante o controle de peso, estatura e permetro
ceflico, com auxlio de parmetros de normalidade definidos atravs de frmulas e das
curvas de peso. As medidas fsicas refletem a taxa de crescimento da criana e qualquer
alterao no padro das mesmas, pode indicar problemas srios.A tcnica deve ser rigorosa,
os dados corretos e o registro e interpretaes exatos; mais importante que os valores deve ser
a observao das tendncias, diferenas sbitas e os graves desvios do padro normal.
.
1.1 PESO ( P ):
O peso um excelente indicador das condies de sade e da nutrio da criana,suas
variaes na infncia so rpidas e importantes.As maiores informaes no so obtidas,
porm, com o peso de um momento preciso, mas na sua evoluo no tempo (curva de peso),
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
na variao entre duas pesagens sucessivas.O mtodo de pesagem, por sua vez, deve ser
preciso para no oferecer dados incorretos.
A criana dobra de peso aos 5 meses e triplica aos 12 meses. No primeiro ano, a
criana cresce, em estatura, cerca de 50% da estatura do nascimento.
PESANDO A CRIANA
Ganho ponderal mensal nos dois
primeiros anos de vida
750 a 900 gramas
At 3 meses
por ms
600 gramas por
De 3 a 6 meses
ms
De 5 meses a 1 300 a 400 gramas
por ms
ano
200 a 300 gramas
De 1 a 2 anos
por ms
1.2. ESTATURA :
A estatura uma medida fiel do crescimento de uma criana.Sua curva espelha a vida
anterior e torna visvel toda a histria do crescimento.Com efeito, a desnutrio s se retrata
tardiamente sobre a altura do corpo da criana;uma lentido no crescimento da estatura indica
o comeo de uma desnutrio dois a trs meses antes.Ao contrrio do peso que pode variar
muito e rapidamente; a estatura uma medida estvel e regular.porm mais difcil de medir
do que o peso.At a idade de dois anos, a criana medida deitada e so necessrias duas
pessoas para tomar essa medida. A criana deve ser medida uma vez ao ms ou a cada
consulta de puericultura.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
MEDINDO A CRIANA
Parmetros normais:
Nascimento: +_ 50 cm;
1 trimestre: 9 cm;
2 trimestre: 7 cm;
3 trimestre: 5 cm;
4 trimestre: 3 cm
Aos 23 meses: +_ 74 cm.
Para crianas acima de dois anos, teremos a seguinte frmula:
ESTATURA = IDADE X 5 + 80.
1.3. PERMETRO CEFLICO (PC):
a circunferncia do crnio. A circunferncia da cabea aumenta rapidamente no
primeiro ano de vida, a fim de adaptar-se ao crescimento do crebro.
Essa medida permite identificar alteraes.
Essa medida dever ser verificada a cada consulta ambulatorial, mensalmente.Se h
indicaes de anormalidades, dever ser verificada diariamente.
Valores normais:
IDADE
Nascimento
3 meses
6 meses
9 meses
1 ano
1 ano e 6 meses
2 anos
3 anos
4 anos
5 anos
PC/ Cm
35,0
40,4
43,4
45,5
46,6
47,9
48,9
49,2
50,4
50,8
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
1.4. PERMETRO TORCICO (PT):
Medida da circunferncia do trax, importante para detectar algumas doenas.
A caracterstica dessa medida consiste na mudana de sua relao com o permetro
craniano (PC).
A relao entre Pc e Pt
- At 6 meses: Pc superior a Pt
- Cerca de 6 meses: Pc igual a Pt
- Cerca de 9 meses: Pc inferior a PT
1.5 DENTIO:
A idade mdia normal para o nascimento dos primeiros dentes de leite por volta de 6
meses de idade. Um atraso pode ser considerado normal em torno de mais de 6 ou 8 meses.
Pode acontecer de dentes de leite que erupcionan (nascem) antes do prazo normal, ou seja,
logo aps o nascimento, so chamados de "dente natal", ou por volta de 2 a 3 meses de idade,
"dente neonatal ". Se isso ocorrer, procure imediatamente um odontopediatra, pois isso
atrapalha a amamentao. A me muito prejudicada durante o aleitamento materno, com
ferimentos no "bico do seio", induzindo a me a intervir com mamadeira, o que no
adequado
para
um
bom
crescimento
e
desenvolvimento
da
criana.
Durante o nascimento dos dentes do beb, podero ocorrer alguns sintomas, como coceira e
abaulamento da gengiva, com aumento da salivao, estado febril, e at as fezes podem
ficar
mais
lquidas.
Para ajudar o rompimento dos dentinhos e melhorar esse desconforto, devemos oferecer ao
beb, alimentos mais duros e mordedores de borracha para massagear a gengiva.
ERUPO(nascimento) DENTES SUPERIORES DENTES INFERIORES
Incisivos Centrais
8 meses
6 meses
Incisivos Laterais
10 meses
9 meses
Caninos
20 meses
18 meses
1 Molar
16 meses
16 meses
2 Molar
29 meses
27 meses
ESFOLIAO (queda) DENTES SUPERIORES DENTES INFERIORES
Incisivos Centrais
7 a 8 anos
6 a 7 anos
Incisivos Laterais
8 a 9 anos
7 a 8 anos
Caninos
11 a 12 anos
9 a 10 anos
1 Molar
10 a 11 anos
10 a 11 anos
2 Molar
11 a 12 anos
11 a 12 anos
Importncia dos da dentio:
- Importante para a sade geral, crescimento e desenvolvimento;
- Atuam na mastigao, facilitando a digesto;
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- So elementos fundamentais para a pronncia das palavras (fonao);
- Grande influncia na esttica.
2.0- AVALIAO DO DESENVOLVIMENTO:
O desenvolvimento depende da maturao mielinizao do sistema nervoso. A
seqncia de desenvolvimento igual para todas as crianas, mas a velocidade varia de
criana para criana. A direo do desenvolvimento cfalo- caudal e proximal distal ou seja
da cabea para os ps e dos ombros para as mos. O primeiro passo para a locomoo a
aquisio do controle da cabea, envolvendo a musculatura do pescoo. Mais tarde os
msculos espinhais desenvolvem coordenao permitindo que a criana fique apta para sentar
com as costas retas, engatinhar, ficar em p e andar .O desenvolvimento integral da criana
pode representar uma oportunidade importante para aproximao de uma concepo positiva
da sade, que se efetiva atravs do acompanhamento da criana sadia.Os profissionais de
sade devem conversar com as mes sobre as aquisies da criana,valorizando suas
conquistas, potencializando sua capacidade em reconhecer o valor da relao com seus filhos.
Observar o comportamento espontneo da criana, escutar as dvidas e apreenses das mes,
procurar estabelecer uma relao de confiana com as mesmas e destas com seus filhos so
caminhos para aprofundar as relaes, conhec-las melhor e poder apoiar,orientar e intervir,
caso necessrio.
Avalia-se o desenvolvimento, testando as aquisies neuro psicomotoras e atravs de
testes ou provas, sob quatro aspectos interdependentes que se processam, normalmente, no
mesmo ritmo:
Desenvolvimento motor: Para que um organismo se desenvolva, ele precisa
funcionar
A criana brinca de repetir sem cessar os mesmos gestos e aes que lhes
permitem as aquisies que as amadurecem progressivamente.
No nascimento, os movimentos do beb no so coordenados.
Do nascimento aos dois anos a criana adquire duas possibilidades motoras
importantes: caminhar e pegar objetos entre o polegar e indicador e, o
controle neuro motor: coordenao da viso e da preenso.
Linguagem: As crianas nascem com o mecanismo e a capacidade de desenvolver a
fala e as habilidades de linguagem. Entretanto elas falaro de forma expontnea.
A fala requer a estrutura e a funo fisiolgica ntegras, incluindo a
respiratria, a auditiva e a cerebral, alm da inteligncia e da necessidade
de estimulao.
O gesto procede a fala, e dessa maneira uma pequena criana comunica-se
de modo satisfatrio.
Em todos os estgios do desenvolvimento da linguagem, a compreenso do
vocabulrio por parte das crianas maior do que a expresso.
Desenvolvimento cognitivo: A criana tem necessidade de agir para aprender, como
no possui experincia do adulto, para ela tudo est para descobrir.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
brincando que a criana elabora os esquemas mentais, isto , as imagens
mentais conduziro aos conceitos.
As imagens de objetos percebidas, muitas vezes se fixam na memria a
conceituao.
A inteligncia da criana a primeira prtica: a criana elabora esquemas
de ao, de espao e de casualidade.
O beb incapaz de representar mentalmente os objetos. preciso que ele
os veja e os apalpe. Quando os objetos desaparecem do campo de viso, e
da preenso, eles deixam de existir para ele.
O pensamento da criana se estrutura a partir de experincias que ela
interioriza, pela repetio frequente e por suas semelhanas. A criana
modifica seu comportamento face aos novos objetos e a novas situaes
Desenvolvimento social e afetivo:
No comeo da vida, a criana brinca com os MMSS e MMII, boca e com
todo o corpo.
No decurso das experincias cotidianas, a criana descobre o prazer de se
comunicar com os outros.
Para o desenvolvimento adequado, necessrio que a criana tenha oportunidade de
fazer sozinha tudo que capaz. E a cada idade, tem um comportamento esperado
Caractersticas das crianas em suas diferentes etapas de vida:
1.0 - Recm nascido ( 0 a 28 dias) e lactente ( 29 dias a 2 anos):
O RN no tem sua personalidade organizada e interage com o meio apenas em funo
de suas necessidades fisiolgicas como fome, sede, frio, etc.
O id (inconsciente) refere-se s reaes instintivas que podem ser percebidas por atos
reflexos diante das sensaes de prazer ou de desprazer.
As emoes da criana so expressas atravs do choro, grito ( desprazer) ou sono
tranqilo e fcies de bem estar ( prazer).
No recm nascido o reflexo de suco, a sensibilidade para movimentos, para o som
e o tato so bem desenvolvidas.A suco basicamente a principal forma dele
relacionar-se com o meio que o cerca.
A criana que no tem atendidas essas necessidades pode vir a desenvolver a chamada
Carncia Afetiva. A criana com carncia afetiva apresenta e agarra-se a quem cuida
dela.
# Inicialmente torna-se chorona, exigente e agarra-se a quem cuida dela;Mais tarde os
choros transformam-se em gritos, ela perde peso e seu desenvolvimento motor estaciona.
# A seguir, passa a maior parte do tempo deitada de bruos, tem insnia, continua a perda
de peso, tem facilidade para adoecer, a atraso do desenvolvimento motor se generaliza;
# se no for tratada, o choro transforma-se em gemidos, o retardo aumenta e se converte
em letargia.
A idade em que a criana mais sensvel a separao da me entre os 6 meses e
dois anos de vida.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
2.0 Pr Escolar ( 2 a 7 anos):
Desenvolve a linguagem, observador e faz perguntas. Fica inseguro quando seus
hbitos e rotinas sofrem alguma modificao;
Movimenta-se muito ( anda, corre, sobe, desce,pula). Seu pensamento orienta-se
pela imaginao e pela fantasia.
Para o pr-escolar, a me a fonte de segurana, proteo e ajuda, frente s
situaes que possam causar angstia ou qualquer tipo de sofrimento.
3.0 Escolar ( 7 a 10 anos) :
Nesta etapa, a criana adquire grande independncia fsica e psicolgica. Criatividade
e aprendizagem so caractersticas marcantes.
Tem noo de tempo e espao.Gosta de correr, pular, perseguir, fugir, participar das
tarefas dos adultos.
Embora apresente um grau avanado de independncia em todos os aspectos, ainda
necessita de carcias fsicas e afeto. Necessita de respeito sua individualidade,
privacidade e sexualidade.
4.0- Adolescente ( de 10 a 20 anos) :
Fase de autodefinio e identificao de seu papel.imita as pessoas ou dolos que
admira;
Embora esteja em fase de amadurecimento emocional, apresenta, muitas vezes, grande
instabilidade. ansioso e deprime-se com facilidade;
Gosta de quebrar regras sociais e de contrariara opinies;
Valoriza , de forma mais acentuada, a imagem corporal, a sexualidade, a privacidade e
a autonomia.
AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANA DE UM MS A CINCO
ANOS
Quadro I As etapas do desenvolvimento da criana de um ms a cinco anos:
Desenvolvimento
Motor
Dorme quase todo o
tempo. Aprende a
levantar a cabea e
depois a mant-la
direita. Afina e
adapta seus reflexos
primrios,
tais
1 ms a
como a preenso;
3
guarda dentro da
meses
mo,
involuntariamente,
o objeto que ali se
colocar.
Idade
Desenvolvimento
Cognitivo
Reflexo de suco;
Chupa seu polegar ou
seus dedos; brinca
com sua lngua;
Reproduz sons por
prazer;
Olha suas mos;
Segue com os olhos
uma pessoa ou um
objeto que se desloca;
Leva objetos boca
(A boca um meio de
conhecimento
importante para a
criana lactente);
Morde um pedao de
Desenvolvimento
Social
Cessa de chorar
chegada de sua me
ou ao escut-lo;
Pequenos
rudos
guturais;
Sorri ao ouvir a voz
humana;
Se imobiliza ao
ouvir
uma
voz
familiar que fala;
Reconhece sua me
e seu pai, pela vista,
mas, sobretudo, pelo
olfato, pelo ouvido e
talvez por
suas
outras
percepes
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
po.
Procura alargar o
campo de sua viso,
apoiando-se, por ex.
sobre o antebrao se
estiver de bruos,
levantando a cabea
e as espduas se
estiver de costas;
Mantm a cabea
erguida e pode ficar
uns
instantes
sentado com apoio;
Comea a pegar
3a6
voluntariamente um
Ver item anterior.
meses
objeto ao alcance da
mo e estender a
mo para um objeto
que se lhe oferce;
Leva objetos
boca;
Segura
pequenos
objetos
com
a
palma e os quatro
dedos.
Deitado de costas se
vira para se colocar
sobre o ventre;
Comea a ficar de
p com apoio;
Pega objetos entre o
polegar
e
o
indicador;
6a9
Mantm-se
meses
assentado
s,
durante
um
momento;
Comea
a
engatinhar.
Toca-se um espelho e
sorri;
Age sobre objetos,
bate sobre eles, contra
a borda de um leito;
Passa um objeto de
uma a outra mo;
Segura um objeto
dentro de cada mo;
Descobre um objeto
escondido, se uma
parte dele fica visvel;
Se diverte a lanar
objetos;
Chama atenao sobre
si,
por
exemplo:
desperto s chra ou
difceis de definir;
Balbucia
espontaneamente e
como resposta.
Sorri a toda pessoa
que se aproxime
dela sorrindo;
Comunicao com a
mo baseada no
olhar;
Comea
a
diferenciar dia e
noite;
Canta com a ajuda
de outra pessoa mais
fica passiva;
Ri s gargalhadas;
Reage ao chamado
por
seu
nome,
virando a cabea.
Grande riqueza de
emisses
vocais
(balbucios,
vocalizaes
prolongadas);
Ri
e
vocaliza
brincando;
Comea a utilizar os
contatos
fsicos
(apalpar) para se
comunicar com as
outras.
capaz de rastejar
para aproximar-se
de um objeto ou de
uma pessoa;
Comeo
da
socializao;
Vocaliza
vrias
slabas que tendem a
limitar-se aos sons
que ouve na lngua
materna;
Reconhece os rostos
familiares e pode ter
medo de rostos
estranhos;
Comea a participar
de jogos de relao
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
grita quando ouve
sua me levantar-se.
9 a 12
meses
12 a 18
meses
capaz de pr-se a
de
p
sozinha
apoiando-se
em
alguma coisa ou em
algum,
e
de
caminhar segurando
com as duas mos
ou apoiando-se em
algum mvel;
Rasteja-se
ou
engatinha;
Comeo do andar;
Sabe largar um
objeto sob pedido;
Consegue segurar
os objetos entre o
polegar
e
o
indicador.
Caminha sozinha e
explora casas e
arredores;
Ajoelha-se sozinho;
Sobe as escadarias
usando as mos.
Sobe e desce uma
escada agarrando-se
num corrimo;
Aprende a comer
18
sozinho;
meses
Comea
a
ter
a2
controle
dos
anos
esfncteres durante
o dia (fezes e
depois urina);
Inicio do danar ao
Age intencionalmente:
retira o cobertor para
pegar o brinquedo que
se enfiou por baixo;
Imita um rudo, por
exemplo: batendo um
objeto contra o outro;
Comeo do jogo de
embutir.
social (bater palmas,
jogo de esconder);
Gosta de morder;
Reconhece quando
se dirigem a ela;
Imita
gestos
e
brincadeiras;
Faz gestos com a
mo e a cabea
(tchau, no, bate
palmas).
Repete o som que
ouviu. Aprende a
pronunciar duas ou
trs palavras;
Compreende
uma
proibio ou ordem
simples;
Manifesta
grande
interesse
em
explorar o mundo,
ver tudo, tocar em
tudo e levar tudo
boca;
Colabora
em
brinquedos
com
adultos.
Empilha-se dois a trs Era
de
cubos;
sociabilizao;
Enche um recipiente; Manifesta
cime
capaz de amassar.
(gestos de raiva e
choro) reaes de
rivalidade
nas
brincadeiras com os
irmos maiores ou
pessoas
de
convivncia.
Empilha cubos;
Associa
duas
Mostra seus olhos e
palavras e enriquece
nariz;
seu vocabulrio;
Imita um trao sobre o Manifesta
muito
papel ou na areia;
interesse por outras
Faz caretas de forma
crianas e procura
espontnea;
brincar com elas,
Coordenao
mais
mas de modo muito
complexa: pode agir a
pessoal
(pegando
distncia,
ex:
objetos,
por
utilizando um pau para
exemplo).
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
som de msica.
2a3
anos
3a4
anos
Aprende a pular
sobre uma perna;
Corre e chuta na
bola sem perder o
equilibrio;
Pode levar um copo
cheio de gua sem
derramar;
Comeo do controle
do esfincter vesical
noturno;
Participa
ativamente
no
vestir-se;
Dana ao som da
msica.
capaz de andar
sobre a ponta dos
ps;
Aprende a vestir-se
e despir-se sozinho;
Adquire o controle
do
esfinceter
vesical noturno;
capaz de realizar
aproximar um objeto
ou puxando o cobertor
sobre o qual est
brincando;
Estuda os efeitos
produzidos ao longo
de sua atividade: varia
a maneira de deixar
cair os objetos pra
ver
Amontoa objetos em Desenvolve
equilbrio;
consideravelmente a
Pode reproduzir um
lnguagem, utiliza
crculo sobre o papel
eu,
mim,
ou na areia;
comea a perguntar,
Comea a brincar
compreende a maior
realmente com outras
parte das palavras e
crianas
e
a
frases que lhe so
compreender que h
dirigidas (cerca de
gente fora do meio
300 palavras);
familiar;
Participa
na
Se
reconhece
no
arrumao de suas
espelho.
coisas;
Comeo
da
utilizao
sistemtica do no
(maneira de afirmarse, opondo-se ao
meio);
Comunica-se com
gestos,
posturas,
mmicas, sobretudo
com outras crianas
at cinco anos;
Teatraliza rituais de
cozinha,
de
arrumao de cama
e
de
banho
(brinquedos como a
boneca, com cozinha
em miniaturas, etc.).
Imita uma cruz;
Passeia
sozinha,
Desenha uma pessoa
visita vizinhos;
com cabea, tronco e Fala
de
modo
s vezes com outras
inteligvel
mas
partes do corpo;
guarda um linguajar
Reconhece trs cores;
infantil;
Reconhece o alto e o Compreende cerca
baixo, atrs e diante;
de 1000 palavras;
Se interessa pelo Diz seu nome, sexo,
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
tarefas simples;
Anda de bicicleta
de trs rodas;
Agarra uma bola a
um
metro
de
distncia.
4a5
anos
nome dos objetos.
Salta-se;
Desenha um homem
Balana-se;
com os principais
Desce as escadarias,
membros do corpo;
pondo de um p s Copia um quadrado,
em cada degrau.
um tringulo;
Sabe
contar
nos
dedos;
Pode
reconhecer
quatro cores;
Pode
apreciar
o
tamanho e a forma,
distinguir o grosso e o
fino;
Sabe dizer sua idade.
UNIDADE 6
idade;
Interessa-se
por
atividades de casa;
Pergunta muito;
Escuta as histrias e
pede para repetir as
que gosta;
Brinca com outras
crianas e comea a
partilhar;
Manifesta
afeio
por seus irmos e
irms;
Crise
de
personalidade: opese vigorosamente a
outrem para afirmarse;
Pergunta pelo nome
dos objetos;
Comeo
da
utilizao
do
pronome pessoal e
do
advrbio
de
lugar.
Fala
de
modo
inteligvel;
Escuta uma histria
e pode repetir os
fatos;
Protesta
energicamente
quando impedido de
fazer o que quer;
Mostra
interesse
pelas atividades dos
adultos;
Aparecem os medos
infantis;
Conhece
uma
quinzena de verbos
de ao.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
ATENO INTEGRADA S DOENAS
PREVALENTES NA INFNCIA - AIDPI
Objetivos:
Contribuir para a reduo da morbidade e mortalidade associada s principais causas de
doena na criana
Introduzir medidas de promoo e preveno na rotina de atendimento das crianas
Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criana
Principais componentes:
Acolhimento
Melhoria no manejo e tratamento de casos
Identificao de sinais clnicos que permitem a avaliao e classificao adequada do
quadro, triando rapidamente a situao de risco:
Manejo da criana doente:
Avaliar a criana
Verificar sinais de perigo
Tosse / dificuldade para respirar
Diarria
Febre
Problema de ouvido
Anemia e desnutrio
Estado de vacinao
Aconselhar a me ou acompanhante
Alimentao da criana
Administrao de lquidos
Cuidados gerais com a criana
Quando retornar imediatamente
Quando retornar para seguimento
Cuidados sobre sua prpria sade
UNIDADE 7
INFECES RESPIRATRIAS AGUDAS IRA
As infeces respiratrias agudas so as infeces do aparelho respiratrio que afetam
o nariz, a garganta, os ouvidos, a laringe, os brnquios e os pulmes, causando inflamao,
sinusite, bronquite, asma e pneumonia. A criana com infeco respiratria aguda pode ter
tosse, nariz escorrendo, dor de ouvido, dor de garganta, chiado no peito,
dificuldade para respirar, febre ou temperatura muito baixa. Alm disso, a criana perde o
apetite, pode ficar muito irritada e chorosa. Algumas ficam com os olhos vermelhos e
lacrimejando. As crianas maiores reclamam de dor de cabea e dores no corpo.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
As infeces respiratrias agudas, principalmente a pneumonia, podem trazer risco de
vida quando no tratadas.
Toda a criana que apresenta um destes sinais, por at 7 dias sem melhorar, deve ser levada
ao servio de sade
Cuidados para crianas com IRA - Infeco Respiratria Aguda
NARIZ ENTUPIDO
Lavar com soro fisiolgico cada narina, sempre que
necessrio. Este soro pode ser preparado em casa,
misturando 1 colher pequena de sal com um litro de gua
fervida e deve ser preparado todos os dias.
TOSSE
Dar bastante lquido (chs caseiros ou gua).
Evitar dar xaropes contra a tosse. A tosse ajuda a
eliminar o catarro. Quando a criana est com
dificuldade de eliminar o catarro, fazer
tapotagem: deitar a criana de bruos, no colo, e
bater com as mos em concha nas suas costas.
FEBRE
Dar banho morno e aplicar compressas midas s com
gua na testa, nuca e virilha.
Na febre alta, usar anti-trmico e procurar atendimento
mdico.
Deitar a criana com a cabea e os ombros mais altos do que o resto do corpo.
Fazer vaporizao na criana, usando um vaporizador ou uma chaleira ou bule com
gua fervendo, apenas nos casos de tosse rouca.
Onde o clima seco, colocar uma vasilha com gua e panos molhados perto da
criana.
Mantenha a alimentao normal da criana, em pequenas quantidades e intervalos
menores oferecendo vrias vezes durante o dia, sem forar, evitando assim que a
criana engasgue ou vomite.
Lembrar que durante o perodo de doenas infecciosas a criana precisa de mais
calorias atravs dos alimentos
As vacinas que protegem contra a coqueluche e a difteria (DPT), contra as
formas graves de tuberculose (BCG) e contra o sarampo, ajudam a prevenir as
doenas respiratrias. Por isso, todas as crianas da famlia precisam estar
vacinadas
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM CRIANA COM DISTRBIOS
RESPIRATRIOS
1.OTITE MDIA: Classifica-se em Otite Mdia Aguda,Otite Mdia Supurativa,Otite Mdia
Supurativa Crnica
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
ETIOLOGIA: Streptococus pneumoniae; Haemophilus influenza.
No infecciosa, em conseqncia do bloqueio por edema das trompas de Eustrquio.
Rinite alrgica.
MANIFESTAES CLNICAS: Otalgia, febre, secreo auditiva de caracterstica purulenta.
TRATAMENTO: Antibioticoterapia, analgsico, antitrmico, cirrgico (casos graves).
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
OBJETIVO: Diminuir a dor e orientar para evitar recidivas
*Aplicar calor com compressa morna no local;
*Manter os cuidados com a higiene do ouvido;
*Orientar sobre perdas temporrias da audio;
*Cuidado com gua no canal auditivo;
*Observar sinais de hipertermia
2.AMIGDALITE: uma inflamao das amgdalas, que geralmente ocorre associada
faringite.
ETIOLOGIA: Agentes virais;Agentes bacterinaos (Streptococus).
MANIFESTAES CLNICAS: Hipertermia, anorexia, halitose, respirao pela boca com
sensao de irritao da mucosa, orofaringe hiperemiada, exsudato.
TRATAMENTO: Analgsico, antitrmico, antibioticoterapia, cirurgias (amidalectomia)
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
*Cuidados visam o conforto do paciente;
*Minimizar as manifestaes clnicas;
*Administrar NBZ;
*Manuteno hdrica adequada;
*Uso de analgsicos e antitrmicos
3.FARINGITE: a inflamao da faringe, e tem seu agente etiolgico como um dos
causadores de seqelas graves.
ETIOLOGIA: Espretococcus beta-hemoltico do grupo A e seqelas; Febre reumtica;
Glomerulonefrite aguda
MANIFESTAES CLNICAS: Cefalia, mal-estar, anorexia, rouquido, tosse, dor
abdominal, vmito, inflamao com exsudato.
TRATAMENTO: Antibioticoterapia (penicilina), analgsico, antitrmico.
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
Aliviar sintomas
Aplicar compressas mornas
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Manter ingesta hdrica adequada
Dieta branda e lquida
4.LARINGITE: Infeco da laringe causada por agentes virais.
MANIFESTAES CLNICAS: Odinofagia, indisposio, febre, congesto nasal, rouquido,
cefalia, coriza.
TRATAMENTO: Lquidos e ar umidificado
5.GRIPE: Infeco causada geralmente por vrus de diferentes tipos, que sofrem
alteraessignificativas no tempo.
MANIFESTAES CLNICAS: Mucosa e faringe seca, rouquido, febre, mialgia, calafrios,
fotofobia, prstrao.
TRATAMENTO: Sintomtico
6. BRONQUITE: Inflamao das grandes vias areas, estando invariavelmente associado a
uma IRA.
ETIOLOGIA: Agentes virais, sendo muito comum o Mycoplasma pneumoniae.
MANIFESTAES CLNICAS:Tosse seca, metlica e improdutiva, respirao ruidosa, dor
torcica, falta de ar, vmito e febre.
TRATAMENTO:Diminuir temperatura, dor e umidificar secrees.
7. BRONQUIOLITE: Infeco viral aguda dos bronquolos, que ocorre principalmente no
inverno.
ETIOLOGIA: Adenovrus,Influenza
MANIFESTAES CLNICAS: Obstruo das VA, faringite, tosse, sibilncia, febre,
taquipnia, cianose, agitao, dispnia, fome de ar intensa, batimento da aleta nasal.
TRATAMENTO:Tratar com ar
oxigenioterapia e terapia venosa
umidificado,Aumentar
ingesta
hdrica,
Graves:
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
Observar oxigenioterapia e terapia endovenosa
Verificar SSVV
Elevar decbito
Observar permeabilidade das VA
Estimular espirometria de incentivo
8.PNEUMONIA: a inflamao do parnquima pulmonar, dificultando as trocas gasosas.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
FATORES DE RISCO:
Idade < 6 anos
Estado imunolgico
Situao econmica precria
Poluio ambiental
Pais fumantes
Baixo peso
Desmame
CLASSIFICAO CLNICA:
Pneumonia viral: tosse, febre, taquipnia, cianose, fadiga, prostrao, presena de rudos
respiratrios e estridores.
TRATAMENTO: Sintomtico, oxignio, fisioterapia respiratria e lquidos
Pneumonia Bacteriana (pneumococos): tosse, indisposio, respirao rpida e superficial,
dor torcica, batimento da aleta nasal, cianose, palidez agitao e letargia.
CRIANAS MAIORES: antibiticos, antitrmicos, sedativos para tosse, repouso e lquidos.
CRIANAS MENORES: mesmo das crianas maiores, com lquido endovenoso e
oxigenioterapia.
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
Avaliar respirao
Administar oxigenioterapia
Controlar SSVV
Elevar decbito
Estimular drenagem postural
Aspirar secrees quando necessria
Aliviar desconforto
Pneumonia Aspirativa: Aspirao de lquidos ou alimentos, provocado pela dificuldade de
deglutir em funo de paralisias, debilidade, ausncia do reflexo da tosse.
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
Os mesmos da pneumonia bacteriana.
Orientao aos pais quanto a preveno desse tipo de pneumonia
9. ASMA :Obstruo das VA por edema e/ou muco, desencadeada por diversos estmulos.
ETIOLOGIA: Duvidosa, pode ter relao com fatores bioqumicos, imunolgicos, alrgicos,
climtico, psicolgico, fsicos.
MANIFESTAES CLNICAS: Tosse, irritabilidade, falta de ar, sibilncia audvel, rubor,
lbios avermelhados escuro, progredindo para cianose, sudorese, diafragma deprimido.
TRATAMENTO: Uso de corticoesteride, antiinflamatrio, broncodilatores.Realizao de
exerccios atravs da fisioterapia respiratria.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM
Identificar e eliminar fatores irritantes e alrgicos.
Orientar os pais sobre a doena e no reconhecimento de sinais agudos.
Controle rigoroso da terapia endovenosa.
Administrar oxigenioterapia.
Oferecer lquidos(controle).
Elevar decbito.
Controlar SSVV
Estimular participao dos pais nos cuidados.
UNIDADE 8
DIARRIA AGUDA
A diarria aguda uma doena caracterizada pela perda de gua e outros componentes
qumicos fundamentais para o bom funcionamento do organismo. Resulta do aumento do
volume e freqncia da evacuao e da diminuio da consistncia das fezes, que podem se
apresentar lquidas e, algumas vezes, conter muco e sangue, como acontece nas disenterias.
A maioria das diarrias agudas provocada por um agente infeccioso - vrus ou bactria
, e geralmente dura menos de duas semanas. Mais de cinco evacuaes dirias, lquidas ou
pastosas caracterizam esta doena, que na maior parte das vezes causada pela contaminao
da gua ou dos alimentos. Embora se possa ter diarria em qualquer idade, as crianas so
suas maiores vtimas. Tanto assim que a diarria aguda a maior causa da internao de
crianas de at cinco anos e a desidratao, sua pior conseqncia, uma das principais
responsveis pelas altas taxas de mortalidade infantil em nosso pas.
Principais causas da diarria aguda
1.
Falta de higiene tanto pessoal como no ambiente domiciliar e sua proximidade;
2.
Ingesto de alimentos contaminados: mal lavados, mal conservados ou lavados ou
cozidos em gua contaminada;
3.
Desmame precoce: pelo risco de a mamadeira ser mal lavada ou feita com gua
contaminada;
4.
Falta de saneamento bsico: moradias sem rede de esgoto, com crregos ou rios
contaminados, prximas a esgotos correndo a cu aberto
1.0-Diagnstico:
Nos servios de sade, os profissionais ficam atentos aos sintomas que se referem
diarria e desidratao, preocupando-se igualmente com alguma outra doena que possa
estar associada.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Em geral, o quadro clnico de uma diarria aguda, principalmente na infncia, apresenta
maior ou menor importncia dependendo da gravidade da perda de gua e de outros
elementos qumicos importantes, pelas fezes, vmito ou febre. Noutras palavras, uma diarria
aguda to mais grave quanto maior a desidratao que vier a causar.
Por outro lado, nas diarrias crnicas predominam os sinais de desnutrio - cujo
sintoma mais evidente o emagrecimento.A partir desses conhecimentos, pode-se concluir
que as diarrias podem vir a afetar o estado geral do paciente - principalmente se crianas - de
modo mais ou menos severo, dependendo da intensidade do quadro. Devemos, portanto, estar
atentos aos sinais e sintomas da desidratao:
1 Depresso na fontanela ou moleira dos bebs
2 Olhos encovados e sem brilho
3 Expresso lnguida no rosto
4 Lbios ressequidos
5 Lngua esbranquiada e grossa
6 Pulso fraco
7 Pouca urina
8 Prostrao ou torpor
9 Ocorrncia ou no de febre
2.0 - Tratamento da diarria aguda
O tratamento ser determinado em funo do quadro apresentado. Como as crianas so
os pacientes preferenciais dessa doena, veremos a seguir as possibilidades mais freqentes:
I - A criana com diarria, mas sem sinais de desidratao:Os familiares devem ser
orientados sobre a doena, o risco de complicaes e a adotar seguinte conduta:
1.
Procurar o servio de sade;
2.
Dar mais lquidos criana, preparados com ingredientes disponveis em casa, como o
soro caseiro, chs, gua de cozimento de cereais como o arroz e o milho, sopas e sucos;
3.
Dar lquidos aps cada evacuao;
4.
Manter a alimentao habitual, em especial o leite materno, aumentando a freqncia
das mamadas;
5.
No mudar o tipo e quantidade dos alimentos que a criana come.
II - A criana com diarria e sinais de desidratao (mesmo grave)
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
A reidratao oral com soro o tratamento ideal. A quantidade de soluo a ser ingerida
variar em funo da perda de lquidos apresentada pela criana. Suas principais
recomendaes so:
1. Continuar a oferecer o leite materno, junto com o soro, aos bebs. Com relao s crianas
maiores, enquanto mantiverem os sinais de desidratao devero receber apenas o soro, com
freqncia.
2.Se o paciente vomitar, o volume administrado de soro deve ser reduzido; e a freqncia da
administrao, aumentada (menos quantidade de soro, oferecido mais vexes durante o dia).
3.Na medida em que a criana se reidrata a febre causada pela desidratao geralmente cede.
O uso de antitrmicos, nesta fase, deve ser evitado.
4. A famlia deve estar atenta aos sinais de piora e, caso ocorram, proceder a administrao
do soro de reidratao oral e levar a criana imediatamente ao servio de sade.
Principais sinais de piora: sede intensa, vmitos freqentes,piora da diarria , irritabilidade
, prostrao , choque.
3.0 - Preveno da diarria aguda
As seguintes e simples medidas podem ser adotadas para evitar a ocorrncia das diarrias
agudas:
1.
Manter uma boa higiene pessoal, tanto corporal como da moradia;
2.
Lavar as mos com sabo aps limpar uma criana que acaba de evacuar; aps a
prpria evacuao; antes de preparar a comida; antes de comer e antes de alimentar as
crianas.
3.
Na falta de gua tratada, ferver a gua e filtrar, tanto para o cozimento quanto para a
ingesto;
4.
Lavar, com gua fervida, os utenslios utilizados no preparo dos alimentos;
5.
No ingerir alimentos contaminados, mal conservados ou mal acondicionados; dar
preferncia aos alimentos saudveis e preparados na hora;
6.
Guardar, limpas, secas e em sacos plsticos, as verduras, legumes e frutas na parte de
baixo da geladeira ou em local fresco, utilizando-as logo que possvel;
7.
Verificar o prazo de fabricao e validade dos produtos adquiridos em supermercados.
Caso estejam vencidos, pressionar para que sejam retirados das prateleiras;
8.
Manter o aleitamento materno exclusivo recomendado para bebs at 6 meses de vida;
9.
Seguir o esquema bsico de vacinao preconizado pelo Ministrio da Sade, uma vez
que as doenas infecciosas agridem o organismo, diminuindo a resistncia da criana e, assim,
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
tornando-a mais vulnervel diarria. A imunizao contra o sarampo, por exemplo, reduz a
mortalidade por diarria e dever ser feita a partir dos 9 meses;
10. A disponibilidade de gua encanada nas moradias o fator mais eficaz para o controle
das diarrias infecciosas. Onde no houver saneamento bsico, as pessoas devem
acondicionar a gua - tanto para uso domstico como para ingesto - em depsito limpo e
tampado;
11. Dar destinao correta ao lixo domstico e construir fossas domiciliares, evitando,
desse modo, a contaminao ambiental e alimentar pelo lixo e/ou fezes.
UNIDADE 9
DESNUTRIO
A alimentao constitui requisitos bsicos para a promoo, proteo e recuperao da
sade, e o controle das principais deficincias nutricionais.
A erradicao completa das defcincias nutricionais depende da prpria erradicao dos
contrastes econmicos e sociais, gerados e mantidos pelo processo de produo e distribuio
de bens e servios.
Dentre os problemas inerentes alimentao e a nutrio no nosso pas em termos de
sade coletiva, destaca-se a desnutrio energtica protica (DEP) e as anemias. Releva-se
essas deficincias nutricionais por alcanar importncia epidemiolgica na infncia, em
funo da velocidade do processo de crescimento e desenvolvimento e na associao com o
processo sade-doena.
2.
Definio:
Trata-se de um grupo de condies patolgicas, resultante da falta concomitante de
calorias e protenas em propores variveis, que acomete, com maior freqncia os lactentes
e pr-escolares e, freqentemente associada a carncia de vitaminas e minerais.
3.Epidemiologia:
A DEP constitui um dos problemas que mais afetam a criana, seja de uma forma
aguda ou lenta e silenciosa, com efeitos negativos a longo prazo sobre o seu crescimento e
desenvolvimento neurolgico.
Suas razes se encontram na pobreza e tem como causa as condies scio-econmicas
precrias.
A Organizao Mundial da Sade (OMS) estima que um tero das crianas do mundo
sofrem de desnutrio e que a metade de todas as mortes est relacionada desnutrio.
A desigualdade social o principal fator na diferena entre a mortalidade infantil em
pases desenvolvidos e em desenvolvimento.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
4.Etilogia: A desnutrio pode ser considerada primria ou secundria:
Primria (Nutricional): conseqente
desequilibrada ou incompleta de nutrientes.
ingesto
insuficiente,
inadequada,
Secundria (Infeces repetidas): conseqente de alteraes fisiopatolgicas
pr-existentes que interferem em qualquer ponto do processo de nutrio (anorexia,
acelerao o metabolismo e/ou aumento de perdas nutricionais).
A desnutrio pode ser classificada em LEVE, MODERADA E GRAVE. A classificao da
intensidade est baseada no dficit de peso em relao idade, e a altura assim como na altura
em relao a idade adotando-se como base uma curva do crescimento.
QUADRO I: Classificao da desnutrio segundo a tabela de crescimento do NCHS:
LEVE
MODERADA
GRAVE
Peso/Idade
Dficit de 10 a 25% Dficit de 26 a 40% Dficit > 40%
Peso/Altura
Dficit de 10 a 20% Dficit de 21 a 30% Dficit > 30%
Altura/Idade
Dficit de 5 a 10% Dficit de 11 a 15% Dficit > 15%
OBS: importante observar que toda criana desnutrida com edema, independentemente do
seu dficit de peso considerada como desnutrido grave.
SINAIS CLNICOS DOS CASOS GRAVES DE DESNUTRIO
Trata-se de um grupo de condies patolgicas, resultante da falta concomitante de
calorias e protenas em propores variveis, que acomete, com maior freqncia os lactentes
e pr-escolares e, freqentemente associada a carncia de vitaminas e minerais.
As formas graves de desnutrio . o marasmo, o kwashiokor e as formas mistas . se
manifestam clinicamente de maneira tpica, conforme relacionado abaixo, e devem ser
reconhecidas pelos profissionais de sade para referncia imediata a um servio de maior
complexidade onde estejam disponveis recursos e condutas adequadas para a recuperao
nutricional.
MARASMO
Magreza extrema e atrofia muscular.
Perda intensa de tecido subcutneo.
Abdmen proeminente devido magreza.
Aspecto simiesco.
Pele frouxa, sobretudo nas ndegas.
Peso para idade sempre inferior ao percentil 3.
Irritabilidade.
Apetite preservado na maioria dos casos.
KWASHIORKOR
Edema geralmente generalizado.
Perda moderada de tecido subcutneo.
Hepatomegalia.
Cabelo fraco, seco e descolorido.
Alteraes cutneas so freqentes.
Peso para idade muito abaixo do percentil 3.
Apatia.
Anorexia.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
KWASHIORKOR MARASMTICO
Caractersticas de marasmo com edema ou sinais de kwashiorkor em crianas com perda
intensa de tecido subcutneo e peso para idade inferior ao percentil 3.
Depois de curto perodo de tratamento, com o desaparecimento do edema, apresentam
caractersticas tpicas de marasmo.
UNIDADE 10
DESIDRATAO
1. Definio: a deficncia de gua e eletrlitos corpreos por perdas superiores ingesta
devido a anorexia, restrio hdrica, por perdas aumentadas gastrintestinais (vmito e
diarria), perda urinria (diurese osmtica, administrao de diurticos, insuficincia renal
crnica), e perdas cutneas e respiratrias (queimaduras e exposio ao calor).
2. Causas: A mais freqente decorre de perdas gastrintestinais. A diarria portanto a causa
mais importante e responsvel por bitos em crianas menores que 5 anos, podendo evoluir de
modo mais prolongado e desfavorvel em crianas sem aleitamento materno, desnutridas,
imunodeprimidas ou em doenas crnicas. Alm do que a incidncia maior nas populaes
de baixo nvel socioeconmico.
3. Diagnstico: Segundo a estratgia do AIDPI, as crianas precisam ser avaliadas at os 5
anos obedecendo o seguinte critrio: Avaliao da sua condio geral, pesadas sem roupas
e verificar se h sinais de alerta.
PERGUNTAR
1. A criana consegue beber ou
mamar no peito?
2. A criana vomita tudo o que
ingere?
3. A criana apresentou convulso?
OBSERVAR
Verifica se a criana est letrgica ou
comatosa.
A perda de peso aguda o melhor indicador de desidratao. A classificao pode ser basear
no quadro clnico dividido em trs grupos:
Quadro I: Classificao da desidratao.
Dados clnicos
Aspecto*
Circulao ou fluxo
perifrico (rubor
palmar/palmar
Pulso
Classificao
Sem desidratao
Desidratao leve
Desidratao grave
Letrgico
inconsciente
(comatoso)
Alerta
Irritado com sede
Menor que 3 seg.
3-8 seg.
Mais de 8 seg.
Cheio
Fino
Muito fino ou
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
impalpvel
Elasticidade da
pele* (sinal de
prega)
Olhos*
Fontanela
Mucosas
Sede*
Normal
Diminuda
Muito diminuda
Normais
Fundos
Muito fundos
Normal
Funda ou deprimida Funda ou deprimida
midas
Secas
Secas
Bebe normalmente Bebe avidamente ou No consegue beber
ou sem sede
com sede
ou bebe muito mal
Os quatro sinais (*) so fundamentais, de acordo com a estratgia da Ateno Integrada s
doenas Prevalentes na Infncia (AIDPI).
4. TRATAMENTO: DEPENDE DO GRAU DA DESIDRATAO
4.1.CRIANAS SEM DESIDRATAO:
Se aleitamento materno exclusivo, aumentar a frequencia e o tempo, e oferecer soro de
reidratao oral (SRO) com colher ou copo.
Se o aleitamento no for exclusivo mant-lo e oferecer a dieta habitual e lquido a
vontade (SRO, liquido caseiro do tipo: caldo, gua de arroz, suco, chs).
Recomendar me ou o cuidador das crianas a ofertar freqentemente lquido com
colher toda vez que evacuar na seguinte quantidade:
At 01 ano: 50 100ml depois de cada evacuao aquosa.
Um ano ou mais: 100 200ml aps cada evacuao aquosa.
Caso ocorram vmitos, aguardar 10 minutos e depois continuar, porm mais
lentamente.
Continuar dando lquidos vontade at a diarria parar e no suspender a dieta
habitual.
Esclarecer quanto aos sinais de gravidade ou risco, procurar o servio mdico, quando
a criana no conseguir beber ou mamar no peito, quando houver piora do estado geral,
aparecimento ou piora da febre, aparecimento de sangue nas fezes.
4.2.CRIANA COM DESIDRATAO:
Considerar desidratada as crianas que apresentarem dois sinais que seguem:
Inquieta, irritada; Olhos fundos; bebe avidamente, com sede; Sinal de prega: a pele volta
lentamente ao estado anterior.
Reiniciar a reidratao com SRO.
Pesar a criana sem roupa no incio da reidratao e a cada hora.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Oferecer a criana o SRO toda vez que a criana deseja, no volume que aceitar de
preferncia com uma colher para manter volume constante e evitar vmito, toda vez
que a criana evacuar.
Em caso de vmitos aguardar 10 minutos e reinicar o mesmo procedimento porm
mais lentamente.
Como orientao inicial, a criana poder receber SRO no volume de 50 100 ml/.kg,
pelo perodo mximo de 4 a 6 horas, aps esse perodo, iniciar teraputica
endovenosa.
Se a reteno de lquido for maior do que 20%, mantm-se essa terapia. Caso seja
menor na primeira hora observa-se mais uma hora e caso mantenha baixa optar pela
sonda nasogstrica, utilizando-se SRO, na quantidade e velocidade de 30 ml/kg/hora
nos primeiros 10 a 15 minutos, podendo aumentar para 60 ml/kg/hora, quando bem
tolerado.
A reidratao oral deve ser suspensa quando houver vmitos persistentes, convulso,
alterao do nvel de conscincia, leo paraltico, ausncia de ganho de peso aps 2
horas da instalao da teraputica.
O ganho de peso um excelente critrio de sucesso da reidratao
4.3. CRIANA COM DESIDRATAO GRAVE:
Considera-se quando: comatosa, pulso fino impalpvel, sinal da prega muito
diminudo (mais de 2 seg) olhos muito fundos, fontanela funda ou deprimida, mucosa seca,
no consegue beber ou bebe muito mal.
Inicia-se terapia endovenosa em trs fases: expanso, manuteno e reposio.
Fase de expanso:
Pesar a criana sem roupa
Iniciar a infuso de: Soro a 5% e soro fisiolgico a 0,9%, 1:1 com volume de 100ml/kg e
velocidade de 50ml/kg/hora.
Obs. Caso a criana se mantenha desidratada deve-se prescrever outra fase igual, modificando
apenas o volume: 50ml/kg, na velocidade de 25ml/kg/hora.
A fase da expanso termina quando a criana clinicamente estiver hidratada, com duas
mices claras, densidade urinria menor que 1010, associada ao bom ganho de peso sem
roupa.
Fase de manuteno:
Visa repor perdas normais de gua e eletrlitos que no proporcionais atividade metablica.
Inicia-se com Soro Glicosado 5% - 80% (80%) mais Soro Fisiolgico 0,9% (20%)
Entre 10 a 20kg = 1.000ml+50ml/kg por cada quilo que passe, at (10 quilos).
Acima de 20kg = 1.500 = 20ml/kg que passe.
Fase da reposio:
Visa repor as perdas anormais no caso de diarria, a reposio deve cobrir perdas fecais de
gua e eletrlitos.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Repor: 50ml/kg em partes iguais de Soro Glicosado 5% e Soro Fisiolgico a 0,9%. Pode ser
aumentado para 100, 150 ou at 200ml/kg. Quando a criana necessitar de grandes volumes
de lquidos.
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM NAS DOENAS PREVALENTES NA INFNCIA
1. ESCABIOSE (SARNA)
A escabiose ou sarna uma doena parasitria, causada pelo caro Sarcoptes scabiei.
uma doena contagiosa transmitida pelo contato direto interpessoal ou atravs do uso de
roupas contaminadas. O parasita escava tneis sob a pele onde a fmea deposita seus ovos que
eclodiro em cerca de 7 a 10 dias dando origem a novos parasitas.
Manifestaes clnicas
A doena tem como caracterstica principal o prurido intenso que, geralmente, piora
durante a noite. A leso tpica da sarna um pequeno trajeto linear pouco elevado, da cor da
pele ou ligeiramente avermelhado e que corresponde aos tneis sob a pele. Esta leso
dificilmente encontrada, pois a escoriao causada pelo ato do prurido a torna
irreconhecvel. O que se encontra, na maioria dos casos, so pequenos pontos escoriados ou
recobertos por crostas em conseqncia do prurido. possvel a infeco secundria destas
leses com surgimento de pstulas e crostas amareladas.
As leses atingem principalmente os seguintes locais: abdmen, flancos, baixo ventre,
umbigo, pregas das axilas, cotovelos, punhos, espaos entre os dedos das mos e sulco entre
as ndegas.
A escabiose, raramente, atinge a pelo do pescoo e da face, exceto nas crianas, em
quem estas regies podem tambm ser afetadas.
Tratamento
O tratamento da sarna consiste na aplicao de medicamentos sob a forma de loes
na pele do corpo todo, do pescoo para baixo, mesmo nos locais onde no aparecem leses ou
coceira. Aps terminada a primeira srie do tratamento, este deve ser repetido uma semana
apes, para atingir os parasitas que estaro deixando os ovos. Medicamentos para o alvio da
coceira devem ser utilizados, porm no so responsveis pela cura.
O tratamento tambm pode ser realizado via oral, sob a forma de comprimidos
tomados em dose nica. Pode ser necessria a repetio aps 1 semana. Em casos resistentes
ao tratamento, pode-se associar os tratamentos oral e local.
As roupas de uso dirio e as roupas de cama devem ser trocadas todos os dias,
colocadas para lavar e passar a ferro. Todas as pessoas da casa que tiverem qualquer tipo de
coceira devem se tratar ao mesmo tempo, para evitar a recontaminao. As unhas devem ser
escovadas com sabonetes apropriados para a retirada de parasitas ali depositados pelo ato de
coar. Para evitar a doena no use roupas pessoais, roupas de cama ou toalhas emprestadas,
evite aglomeraes ou contato ntimo com pessoas de hbitos higinicos duvidosos.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Em pessoas com bons hbitos higinicos, a sarna pode ser confundida com outras
doenas que causam coceira, devendo o diagnstico correto ser realizado por um mdico
dermatologista que indicar o tratamento ideal para cada caso.
2. PEDICULOSE DA CABEA (PIOLHOS)
A pediculose da cabea uma doena parasitria, causada pelo Pediculus humanus
varcapitis, vulgarmente chamdado de piolho. Atinge principalmente crianas em idade
escolar e mulheres e transmitida pelo contato direto interpessoal ou pelo uso de utenslios
como bons, escovas ou pentes de pessoas contaminadas.
Manifestaes clnicas
A doena tem como caracterstica principal caracterstica o prurido intenso no couro
cabeludo, principalmente na parte de trs da cabea e que pode atingir tambm o pescoo e a
regio superior do tronco, onde se observam pontos avermelhados semelhantes a picadas de
mosquitos. Com o prurido das leses pode ocorrer a infeco secundria por bactrias,
levando inclusive ao surgimento de glnglios no pescoo.
Geralmente a doena causada por poucos parasitas, o que torna difcil encontr-los,
mas em alguns casos, principalmente em pessoas com maus hbitos higinicos, a infestao
ocorre em grande quantidade. Achado comum que fecha o diagnstico de pediculose so as
lndeas, ovos de cor esbranquiada depositados pelas fmeas nos fios de cabelo.
Tratamento
O tratamento da pediculose da cabea consiste na aplicao nos cabelos de
medicamentos especficos para o extermnio dos parasitas e deve ser repetido aps 7 dias.
Existe tambm um tratamento atravs de medicao via oral, sob a forma de comprimidos
tomados em dose nica. Em casos de difcil tratamento, os melhores resultados so obtidos
com a associao dos tratamentos oral e local.
A lavagem da cabea e utilizao de pente fino ajuda na retirada dos piolhos. As
lndeas devem ser retiradas uma a uma, j que os medicamentos muitas vezes no eliminam
os ovos. Para facilitar a retirada das lndeas, pode ser usada uma mistura de vinagre e gua
em partes iguais, embebendo os cabelos por meia hora antes de proceder a retirada.
Em crianas que freqentemente aparecem com piolhos, recomenda-se manter os
cabelos curtos e examinar a cabea em busca de parasitas, usando o pente fino sempre que
chegarem da escola que , geralmente, o principal foco da infeco. As meninas de cabelos
compridos devem ir aula com os cabelos presos. A escola deve ser comunicada quando a
criana apresentar a doena para que os outros pais verifiquem a cabea de seus filhos, de
modo que todos sejam tratados ao mesmo tempo, interrompendo assim o ciclo de
recontaminao.
3. IMPETIGO
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
uma infeco de pele e que tambm tem os nomes de piodermite, pereba ou broto.
causada pela penetrao de micrbios na pele aberta por machucados, feridas, coceiras ou
picadas de inseto.
Essas infeces podem comear como um pontinho de pus ou uma feridinha
avermelhada, que aumenta de tamanho, fica um pouco inchada e dolorosa e que tem a
tendncia a formar crostas. s vezes a infeco bem superficial, deixando a pele descamada,
mida e vermelha, parecendo que foi queimada com um toque de cigarro aceso ou fogo. s
vezes a infeco mais pronfunda, dolorosa e quente, como nos furnculos.
O tratamento as infeces de pele feita com a limpeza das feridas, remoo as cascas
e secrees com gua fervida morna, na qual pode ser dissolvido um desinfetante, como o
permanganato de potssio (dissolve-se um pacotinho ou um comprimido em um litro de gua
gua fica arroxeada). Pode ser usado depois um creme ou pomada de antibitico creme .
Quando as infeces so mais profundas, tipo furnculo, a aplicao de compressas quentes e
midas facilita a cura.
Quando as infeces so muitas, quando continuam a aparecer apesar do tratamento
ou quando h nguas, geralmente h necessidade de usar antibitico por via oral ou injetvel,
que ser receitado no centro de sade, geralmente um tipo de penicilina.
Um tipo especial de infeco de pele a das plpebras, chamada terol ou hordolo,
conhecida popularmente com o nome de bonitinha. Deve ser tratatada com um creme
especial que possa ser usado nos olhos, com orientao do Centro de Sade. (Leia tambm
terol).
4. DERMATITE SEBORRICA
Afeco crnica e recorrente no contagiosa comum nos dois ou trs meses de vida,
caracterizando-se pelo acmulo de escamas seborricas e crostas amareladas descamativas e
oleosas no couro cabeludo. Pode afetar plpebras, canal auditivo externo, pregas nasolabiais e
regio inguinal.
Etiologia
obscura. Acredita-se que exista uma predisposio constitucional para a doena
(metablica, nutricional e endcrinas).
Medidas teraputicas e conduta de enfermagem
Remoo das crostas com leo.
Lavar a cabea com mais freqncia a fim de evitar o acmulo, repetir o
procedimento at resolver o problema.
5. CANDIDASE (MONILASE ORAL OU SAPINHO)
uma infeco causada por fungo do gnero cndida, geralmente, Cndida albicans.
Se a pele do beb ficar mida por muito tempo, ela estar suscetvel a assaduras causadas
por lvedo, o tipo de assadura mais persistente. Grandes quantidades de antibitico podem
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
causar diarria, o que pode dar incio s assaduras causadas por lvedo. Este tipo de assadura
pode ser identificado pelas feridas intumescidas, rosadas ou com pus branco ao redor de uma
mancha vermelha na rea coberta pela fralda. O beb pode ter as manchas na boca tambm e
pode ser que seus seios fiquem sensveis caso esteja amamentando. Se esta condio persistir,
consulte o pediatra assim que possvel para comear um tratamento antigngico.
Etiologia
A contaminao pode ocorrer durante a passagem da criana pelo canal de parto.
Pelo contato direto com outras crianas contaminadas ou com pessoas que cuidam da criana.
Por m nutrio.
Durante o uso de corticides
Antibiticos
Diabetes
Neoplasias
Manifestaes Clnicas
Placas brancas, semelhante a cogulo de leite na mucosa da boca, de gengivas e da lngua.
Mucosa vermelha.
Tratamento
Aplicar fungicida na cavidade oral, gerlamente Nistatina 1 ml 4 x ao dia de 6/6 horas.
Pincelar a rea com violeta de genciana.
Anfotericina B, clotrimazol, fluconazol ou Miconazol.
Condutas de enfermagem
Lavar as mos ao manusear a criana.
Higienizar chupetas, bicos de mamadeiras, seio materno.
Realizar higiene oral (gua boricada 1 colher de sopa de bicarbonato/ 1 litro
de gua)
Remover as placas por meio da higiene oral.
Alimentar adequadamente a criana.
Administrar medicamentos conforme prescrio mdica
6. GLOMERULONEFRITE DIFUSA AGUDA (GNDA)
Glomerulonefrites ou glomerulopatias so afeces que acometem o glomrulo,
estrutura microscpica formada por um emaranhado de capilares semelhantes a um novelo de
l. a principal estrutura renal responsvel pela filtrao do sangue.
Causas
As doenas glomerulares so conseqncia de uma ampla variedade de fatores:
distrbios imunolgicos, doenas vasculares, doenas metablicas e algumas entidades
hereditrias. As glomerulopatias que aparecem isoladamente so classificadas como
primrias, e quando esto associadas a doenas sistmicas (Lupus, diabetes, etc.) so
classificadas como secundrias.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Classificao
Histologicamente, classificamos em vrias entidades, mas uma mesma
glomerulonefrite pode ter diversas apresentaes clnicas. Raramente essas patologias
evoluem para insuficincia renal terminal em questo de semanas; geralmente sua evoluo
mais lenta. Quando ocorre piora rpida da funo renal, elas so classificadas como
glomerulonefrites rapidamente progressivas, independentemente do tipo histolgico
Quadro Clnico
As conseqncias da agresso glomerular so basicamente: proteinria, hematria,
queda da filtrao glomerular, reteno de sdio e hipertenso. Dependendo da intensidade e
do tipo da agresso, pode haver predomnio de um sinal sobre outro, dando origem a
diferentes apresentaes clnicas: sndrome nefrtica, sndrome nefrtica, no-nefrtica e nonefrtica. A sndrome nefrtica definida como o aparecimento de edema, hipertenso arterial
e hematria (geralmente macroscpica). Sndrome nefrtica caracterizada por proteinria de
24 horas maior que 3,5 gramas, edema, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia.
A glomerulonefrite ps-estreptoccica uma glomerulonefrite difusa aguda (GNDA)
que se desenvolve aps uma infeco por Streptococcus.
Em geral, 1 a 3 semanas aps uma infeco de garganta ou de pele, o indivduo
comea a apresentar urina escura (cor de ch), inchao e diminuio do volume urinrio. Ao
ser examinado, freqente constatar-se hipertenso arterial sistmica e os exames de
laboratrio nessa ocasio revelam hematria. Proteinria varivel e dficit de funo renal
comum.
Quando constatadas as primeiras manifestaes renais, comumente a infeco que a
antecedeu no mais est presente.
O tratamento desta glomerulonefrite eminentemente sintomtico, pois seu curso de
um modo geral auto-limitado, e corresponde a cuidados com a reteno excessiva de
lquidos pelo corpo, que leva a inchao, hipertenso arterial e eventuais outras complicaes.
Esta glomerulonefrite usualmente tem boa evoluo, em geral no evolui para
insuficincia
7. CRISE CONVULSIVA
Convulso: Descarga bio-energtica emitida pelo crebro que provoca contraces
musculares gerais e generalizadas.
Ataque episdico, que resulta da alterao fisiolgica cerebral e que clinicamente se
manifesta por movimentos rtmicos involuntrios e anormais, que so acompanhados de
alteraes do tnus muscular, esfncteres e comportamento.
Crise convulsiva:
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Termo usado para designar um episdio isolado.
Crise convulsiva um quadro caracterizado pela contratura involuntria da
musculatura com movimentos desordenados, generalizados ou localizados, acompanhada de
perda dos sentidos.
Distrbio convulsivo:
um distrbio crnico e recorrente.(epilepsia).
Fisiopatologia Das Convulses
Seja qual for a causa, ou o tipo de crise convulsiva, o mecanismo bsico o mesmo.
H descargas eltricas:
- De origem nas reas centrais do crebro (afetam imediatamente a conscincia);
- De origem numa rea do crtex cerebral (produzem caractersticas do foro anatmico
em particular);
- Com incio numa rea localizada do crtex cerebral e alastrando-se a outras pores
do crebro.
- Manifestaes Clnicas
Esto relacionadas com o tipo de convulso, e iro ser abordadas ao longo do trabalho.
- Avaliao De Diagnstico
O diagnstico tem dois objetivos principais que so:
- Definir o tipo de crise convulsiva;
- Compreender a causa.
O diagnstico das convulses faz-se atravs de:
- Histria completa;
- Exame fsico e neurolgico completo;
-Exames laboratoriais ( hemograma completo, glicemia, clcio, uria, liquido cefaloraquidiano, etc.);
- E.E.G
- Cintigrafia cerebral;
- T.A.C.;
- Ressonncia magntica;
1.0. Convulses Neonatais
INCIDNCIA
Existem numerosas manifestaes clnicas, que podem ser equivalentes a convulses, no
entanto, no so reconhecidas como tal. 0,2 a 0,8% das convulses aparecem nos dez
primeiros dias de vida, sendo a sua maioria na primeira semana (29 e 32 dia de vida).
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
SINTOMATOLOGIA
de difcil observao, resumindo-se s vezes, a apenas um piscar de olhos, uma recusa
alimentar, alteraes do tnus, apnia ou espasmos dispnicos. Assim, as crises tnicoclnicas so raras no Recm Nascido, sendo mais frequentes as manifestaes tnicas ou
clnicas isoladas.
Sinais de crise no Recm Nascido:
Movimentos de rotao da cabea, olhar fixo e respirao irregular;
Espasmos tnicos das extremidades;
Tremores, finos e prolongados das extremidades;
Movimentos de pedalagem dos membros;
Perodos de hipotonia acentuada em fase ps critica;
Hiperatividade e alteraes do sono;
Reflexo de moro expontneo;
Alteraes da respirao;
Alteraes da deglutio;
ETIOLOGIA
As causas so mltiplas.
Cerca de 90% das convulses no Recm Nascido so devidas a:
- Hipoglicemia - nas primeiras 48 horas de vida;
- Hipoxia - nas primeiras 48 horas de vida;
- Traumatismos de parto - nas primeiras 48 horas vida;
- Hipocaliemia ou hipomagnesemia - nas primeiras 72 horas de vida;
Depois da primeira semana de vida as infeces e problemas genticos so as principais
causas de convulso.
TRATAMENTO
O tratamento, baseia-se essencialmente na correo da perturbao causal, e
secundariamente na administrao de anticonvulsivantes.
2.0 - Crises No Epiltpicas
Esto relacionadas com certas situaes - sindromes especiais.
2.1 - Convulses febris
So distrbios transitrios associados febre.
- Afetam 3 a 5% das crianas;
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- Afeta normalmente crianas entre os 6 meses e os 5 anos;
- Suposta predisposio familiar;
- Na maioria dos casos acontece quando h uma elevao rpida da temperatura
acima dos 38,9C;
- Apenas 25% das crianas voltam a ter uma futura convulso febril;
- Normalmente no h compromisso neurolgico. O tratamento faz-se atravs do
controle da febre (antipirticos), da convulso (diazepam ou fenobarbital), e
posteriormente faz-se o tratamento das infeces.
2.2 - Episdios de suspenso da respirao
mais frequente em crianas com idades compreendidas entre os 6 e 18 meses.
Precipita-se por medo, frustrao ou raiva, e caracteriza-se por choro violento e cessao da
respirao.
3.0. Convulses Generalizadas
Estas convulses ocorrem em qualquer idade, em qualquer momento. O intervalo entre
as crises varia bastante.
3-1 - Convulses de grande mal (motoras principais) :
Caracterizam-se por duas fases completamente distintas.
Fase Clnica:
- Reviramento ocular;
- Perda imediata de conscincia;
- Contrao generalizada e simtrica de toda a musculatura corporal;
- Braos fletidos;
- Pernas, cabea e pescoo estendidos;
- Poder emitir um grito;
- Dura aproximadamente 10 a 20 segundos;
- A criana apneica pode tornar-se ciantica.
Fase Tnica:
- Movimentos violentos, rtmicos e involuntrios;
- Pode espumar pela boca;
- Incontinncia urinria.
medida que a crise vai cedendo, os movimentos tornam-se menos intensos e com
intervalos maiores. D-se um relaxamento corporal e segue-se uma fase de sonolncia.
3.2 - Pequeno mal:
Caracteriza-se por uma perda breve de conscincia. Podem passar despercebidas, o
comportamento sofre poucas alteraes. frequente entre os 5 e os 9 anos de idade. Pode
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
haver alterao do tnus muscular, e a criana deixa cair pequenos objetos, no entanto
raramente cai. No ha incontinncia.
4- AES DE ENFERMAGEM :
A enfermagem tem que ser capaz de atuar rapidamente, no entanto, tem que ser um
bom observador. Pois esta observao poder ser inicio de um diagnstico correto. H aes
que devem serem feitas imediatamente, tais como:
- Proteger a criana durante a convulso:
- Deitar a criana (caso ela esteja de p ou sentada);
- Afrouxar roupas apertadas;
- Remover objetos;
- Sustentar com delicadeza a criana.
- Manter vias areas desobstrudas:
- Aspirar secrees se necessrio;
- Administrar teraputica anti-convulsivante e chamar mdico de servio;
- Observar crise convulsiva;
- Descrever e registrar todas as observadas, tais como:
- Sequncia dos acontecimentos;
- Incio da crise;
- Durao da crise;
- Eventos significativos anteriores crise;
- Verificar se h incontinncia urinria ou fecal;
- Verificar se h fase clnica ou tnica.
- Observar aps a crise,
- Descrever e registrar:
. Forma de cessao da crise;
- Nvel de conscincia;
- Orientao;
- Capacidade motora;
- Fala.
- Promover repouso;
- Deixar a criana confortvel;
- Permitir que a criana repouse aps a crise;
- Reduzir estimulao sensorial ( luzes, barulho, etc. );
- Reduzir ansiedade dos pais:
- Promover atmosfera calma;
- Explicar propsitos de enfermagem;
-Oferecer apoio emociona
8.SEPTICEMIA
Definio:
A septicemia a presena de bactrias no sangue (bacteremia) e associada a doena
grave.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Causas, incidncia e fatores de risco:
A septicemia uma infeco grave, com progresso rpida e de alto risco que pode
aparecer secundria a infeces localizadas do trato respiratrio, genitourinrio e
gastrointestinal ou da pele. Pode preceder ou coincidir com infeces do osso (osteomielite),
do sistema nervoso central (meningite) ou outros tecidos. A septicemia pode conduzir
rapidamente a um choque sptico e morte. O incio da septicemia marcado por febre forte
e calafrios, respirao e freqncia cardaca aceleradas, aparncia externa de estar seriamente
doente (txico) e uma sensao eminente de morte. Estes sintomas progridem rapidamente
para choque com diminuio da temperatura corporal (hipotermia), queda na presso
sangnea, confuso ou outras alteraes no estado mental e anormalidades na coagulao
evidenciadas por leses hemorrgicas na pele (petquia e equimose).
Sintomas:
febre (incio repentino, normalmente com picos)
calafrios
aparncia txica (aparncia de gravemente doente)
alteraes no estado mental
o irritvel
o letrgico
o ansioso
o agitado
o indiferente
o comatoso
choque
o frio
o viscoso
o plido
o ciantico (azul)
o indiferente
sinais na pele associados a anormalidades de coagulao
o petquias
o equimose (normalmente leses grandes, planas, de colorao roxa que no
clareiam quando pressionadas)
o gangrena (alteraes iniciais nas extremidades que sugerem a diminuio ou
ausncia de fluxo sangneo)
reduo ou ausncia da produo de urina
Sinais e exames:
Um exame fsico pode demonstrar:
presso sangnea baixa (hipotenso)
temperatura corporal baixa (hipotermia)
sinais de doena associada (meningite, epiglotite, pneumonia, celulite ou outros)
Os exames que confirmam a infeco incluem:
hemocultura
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
cultura de urina
cultura de LCR
cultura de qualquer leso cutnea suspeita
hemograma completo
contagem plaquetria
estudos de coagulao
o TP
o TTP
o nveis de fibrinognio
gases sangneos
Tratamento:
Esta doena deve ser tratada em hospital, normalmente com admisso em uma unidade
de terapia intensiva.
So administrados lquidos intravenosos (IV) para manter a presso sangnea.
Medicamentos fortes via IV, denominados simpatomimticos, normalmente so necessrios
para manter a presso sangnea. Uma terapia com oxignio iniciada para manter a
saturao de oxignio.
A infeco tratada com antibiticos de amplo espectro (aqueles que so eficientes
contra uma grande quantidade de microorganismos) antes de o microoorganismo a ser
identificado. Uma vez que as culturas tenham identificado o microoorganismo especfico
responsvel pela infeco, inicia-se o tratamento com os antibiticos especficos para o
tratamento daquele organismo.
O plasma ou outro tratamento pode ser necessrio para a correo das anormalidades
de coagulao.
Expectativas (prognstico):
O choque sptico tem uma taxa de mortalidade alta dependendo do tipo de organismo,
chegando a ultrapassar os 50%. O organismo envolvido e a hospitalizao imediata
determinaro a recuperao.
Complicaes:
choque irreversvel
sndrome de Waterhouse-Friderichsen
sndrome da angstia respiratria adulta (SARA)
Solicitao de assistncia mdica:
A septicemia no comum mas devastadora, e o diagnstico logo no incio pode prevenir a
progresso para choque.
uma criana com febre, calafrios com tremores e com uma aparncia gravemente
doente deve ser imediatamente tratada como uma emergncia
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
uma criana com evidncia de sangramento na pele deve ser imediatamente tratada
como uma emergncia
uma criana que esteja doente e tenha alteraes no estado mental deve ser
imediatamente tratada como emergncia
Solicite assistncia mdica se a criana no estiver em dia com a vacinao ou no tiver
sido imunizada contra a Haemophilus influenza B, normalmente chamada de vacina HIB. Se a
criana tiver um bao danificado devido a um processo de doena ou se o bao tiver sido
removido, marque uma consulta para imunizao contra a doena pneumoccica.
Preveno:
O tratamento apropriado das infeces localizadas pode prevenir a septicemia. A
vacina HIB em crianas j reduziu a incidncia de septicemia por Haemophilus (e meningite
por Haemophilus, de epiglotite e celulite periorbital) e uma parte da rotina do programa de
vacinao infantil recomendado. Crianas que tm os baos removidos ou que apresentem
doenas que danifiquem o bao (como anemia de clulas falciformes) devem receber a vacina
pneumoccica. A vacina pneumoccica no parte do programa de vacinao infantil de
rotina.
Os contatos prximos (pais, irmos, amigos) de crianas spticas com determinados
organismos, como pneumococos, menigococos e Haemophilus, podem precisar de terapia
preventiva com antibiticos, que ser prescrita pelo mdico; o tipo de antibitico ser
determinado pelo organismo envolvido
UNIDADE 11
NECESSIDADES BSICAS DA CRIANA HOSPITALIZADA
Ao lidar com crianas necessrio considerar as necessidades biolgicas
fundamentais: sede, desejo de urinar, respirar, evacuar, movimentar-se ou no, de sentir um
desconforto trmico, alm de considerar tambm as necessidades afetivas.
Dentre as necessidades bsicas da criana hospitalizada podemos encontrar: higiene;
sono e repouso; eliminaes; hidratao;alimentao; medidas de segurana e proteo (fsica,
teraputica e psicolgica) e recreao.
1.0.HIGIENE:
Desde pequena, a criana sente conforto ao ter seu corpo limpo. De 2 a 6 anos a
criana desenvolve a capacidade de controlar os esfncteres, o que deve ser ensinado com
carinho e sem castigo, alm de ser estimulada a lavar as mos antes e aps as refeies e
escovar os dentes.
O banho um procedimento exclusivo da enfermagem, devendo o enfermeiro
prescrev-lo, indicando o tipo de banho e o melhor horrio de acordo com o estado geral da
criana e , sempre que possvel, respeitando os hbitos e costumes da mesma.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Na higienizao da criana, o tcnico de enfermagem deve seguir os seguintes
procedimentos:
1. Respeitar sua individualidade, procurando realizar a higiene da criana maior em
ambiente privado.
2. Cortar as unhas da criana sempre que necessrio ( para evitar leses de pele)
3. Lavar os cabelos da criana em dias alternados de acordo com as condies higinicas
do couro cabeludo.
4. Fechar a porta ou as janelas durante o banho, evitando-se correntes de ar.
5. Sempre que possvel deixar a me ou acompanhante participar dos cuidados de
higiene do seu filho.
Objetivo: promover e proteger a sade da criana.
TIPOS DE HIGIENE:
Banho : um procedimento de rotina no momento da admisso, diariamente e sempre que
necessrio. O banho dirio indispensvel a sade, proporciona bem-estar, estimula a
circulao sangunea e protege a pele contra diversas doenas.
O momento do banho deve ser aproveitado para estimular a criana com ( ou atravs
de ) estmulos psico-emocionais ( acariciar), auditivos ( conversar e cantar) e psicomotores (
inclusive movimentos ativos com os membros)
Tipos de Banho:
Banho de chuveiro: Normalmente indicado para crianas na faixa etria prescolar, escolar e adolescente, que consigam deambular, sem exceder sua capacidade
em situao de dor.
- Incentivar a criana a banhar-se sob superviso ou, em caso de adolescente, que queiram
privacidade, permitir que tome banho sozinho.
- Quando for possvel, ao trmino, verificar a limpeza da regio atrs do pavilho
auditivo,mos, ps e genitais.
Banho de imerso ( banheira) : indicado para lactentes e pr-escolares que estejam
impossibilitados de ir ao banheiro. Sua escolha depender do estado geral da criana.
- No caso de crianas em uso de oxignio, verificar a possibilidade de outro
profissional para segurar a fonte de oxignio durante o banho.
- Sempre que possvel estimular a me ou acompanhante a participar do procedimento.
- necessrio que durante o procedimento se converse e explique para a criana,
independentemente da faixa etria, tudo o que est sendo feito, em tom de voz baixo e
tranqilo.
Banho no Leito: Refere-se ao banho da criana acamada( escolar e adolescente), sem
condies de receber o banho de imerso, seguindo todos os procedimentos anteriores.
-Deve-se lavar os cabelos antes de lavar o corpo ( evita que a criana fique com corpo
exposto durante muito tempo).
Banho Medicamentoso: usado para limpeza de pele, servindo tambm para alvio
do prurido que acompanha algumas dermatites ( banho com permanganato de
potssio, banho de luz, banho de sol etc.)
Banho do Couro Cabeludo : Deve ser feita de preferncia durante o banho, em dias
alternados, e de acordo com as condies de higiene da criana.
- Lavar o couro cabeludo com as pontas dos dedos e no com as unhas, para evitar
machucar a criana, massageando delicadamente.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- Alm da lavagem do couro cabeludo com gua e sabo, importante pentear os
cabelos, o que dar melhor aspecto criana, sendo tambm uma oportunidade para detectar
leses ou presena de pediculose.
Higiene das mos:
Muitas infeces e doenas so transmitidas atravs das mos, mas o ciclo pode ser
facilmente interrompido pela higiene adequada tanto das pessoas que cuidam das crianas, quanto
delas prprias, alm de lembrar o indispensvel cuidado com as unhas que devem ser mantidas
curtas ( diminuem o risco de leses de pele)
Higiene Oral:
a limpeza adequada da boca da criana, tendo como objetivo obter uma dentio
permanente, equilibrada e intacta. indicada nas crianas menores e/ou nas que apresentam
leses da mucosa oral, aps vmitos, crianas com sonda nasogstrica (SNG) ou em jejum.
-Nos lactentes sem dentes, deve ser realizada a limpeza da gengiva e da lngua uma vez por
dia, com gua filtrada e gaze.
-Nos lactentes com dentes, pr-escolares, escolares e adolescentes, dever ser realizada com
auxlio de dentifrcio ( preparado que serve para limpar os dentes) com flor e escova com cerdas
macias, realizando movimentos circulares em todos os dentes, individualmente, e por ltimo a
lngua, em movimento nico de dentro para fora.
Higiene do Coto Umbilical:
Tem como objetivo prevenir infeces e hemorragias, alm de acelerar o processo de
cicatrizao.
-Manter o coto posicionado para cima, evitando contato com fezes e urina; efetuar higiene na
insero e em toda extenso do coto umbilical, evitando que o excesso de lcool escorra pelo
abdmen.
-Fazer curativo com lcool a 70% at a queda do coto umbilical ou de acordo coma rotina da
unidade.
-Observar e registrar as condies do coto ( presena de secreo ou sangramento) e regio
periumbilical ( hiperemia e calor)
Higiene Perineal:
um procedimento importante que permite observar o aspecto e a consistncia das
eliminaes da criana e as condies da pele da criana. A criana hospitalizada necessita, na
maioria das vezes, de controle de diurese, sendo assim, a fralda descartvel tem maior utilidade,
pois alm de oferecer menos riscos de assadura, mais fidedigno, porque a urina fica
armazenada, ocorrendo menos vazamento.
- Para trocar a criana aps evacuao, necessrio lavar a regio gltea ( anal) com gua e
sabonete com PH neutro.
Obs 1: nas meninas deve-se afastar os grandes lbios e limpar com movimentos longitudinais
nicos e sentido ntero-posterior.
Obs2: nos meninos, quando for possvel, deve-se retrair a glande delicadamente.
Obs3: importante que depois da limpeza a criana esteja com os glteos, a virilha e os genitais
externos secos para colocao da fralda limpa.
- O uso de hidratante aconselhado para manter a resistncia da pele.
-Quando a criana pode deambular, supervisionar a higienizao dos genitais e regio anal
aps mico e evacuao.
- A criana acamada com controle esficteriano deve ser orientada quanto ao uso de papagaio
e/ou comadre.
Higiene Nasal :
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
a remoo de muco acumulado nas narinas com o objetivo de facilitar a respirao
da criana.
-Fazer higiene com cotonete embebido em SF 0,9% ou gua destilada, observar e
registrar o aspecto de secreo retirada.
Higiene Auricular:
a remoo de excesso de secreo (cermen) do conduto auditivo externo e a
remoo da sujeira do pavilho auricular.
- Fazer higiene com cotonete embebido em SF 0,9% ou gua destilada, observar e registrar o
aspecto da secreo retirada.
Higiene Ocular:
a retirada de secrees localizadas na face interna do globo ocular.
-Fazer higiene ocular com SF 0,9 % ou gua destilada, observar e registrar o aspecto da
secreo retirada.
-Proceder a limpeza do ngulo interno do olho ao externo, utilizando o lado do cotonete
somente uma vez.
Vesturio: Fazer uma seleo da roupa adequada temperatura ambiente, evitando frio,
superaquecimento ou sudorese excessiva. A mesma no deve provocar irritaes cutneas.
2.0.SONO E REPOUSO:
O sono e repouso consiste no tempo de recuperao e de reconstruo necessrios a
cada indivduo, para que se sinta bem. Durante a hospitalizao, comum que a criana saia
da sua rotina de repouso devido a mudana de ambiente, agitao da unidade de internao ou
constantes manipulaes. importante que o enfermeiro pergunte a me e/ou responsvel
todos os hbitos da criana, inclusive os de sono e repouso ( escrever na ficha de admisso
para que todos tenham acesso).
Durante o sono, ocorre aumento da secreo do hormnio de crescimento e por isso a
criana precisa dormir o necessrio para ter um desenvolvimento adequado.
Ritmo e durao do sono: O sono se estrutura progressivamente de acordo com a
faixa etria. Os sinais de apelo do sono so: bocejos, queda das plpebras, relaxamento do
pescoo, diminuio da vigilncia e busca de posio confortvel.
Para despertar uma criana, quando necessrio, acaricia-la e/ou cantar para ela em tom
suave.
IDADE
DURAO TOTAL
NOTURNO
DIURNO
Nascimento
15 a 19 horas
10 horas
6 a 7 horas
Um ms
15 a 17 horas
9 a 10 horas
3 horas
6 meses
+/- 14 horas
10 horas
2 horas
1 ano
+/- 13 horas
10 horas
1 hora
2 anos
12 a 13 horas
10 horas
1 hora
3 a 5 anos
12 horas
10 horas
6 a 9 anos
11 a 13 horas
11 horas
10 a 14 anos
9 a 10 horas
9 horas
15 anos
8 a 9 horas
8 horas
Assistncia de Enfermagem;
O sono no deve ser associado a idias negativas como castigo;
Promover a companhia do familiar, oferecendo apoio, carinho e calor humano, para
facilitar o adormecer;
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Procurar fazer com que a criana encontre a sua posio de nidao (posio
confortvel para dormir)
Respeitar o despertar natural e calmo da criana;
Quando a necessidade de sono e repouso no for satisfeita, procurar investigar suas
causas para corrigi-las.
Os distrbios mais freqentes so: dificuldade de adormecer, sono agitado ou intranqilo,
sono excessivo ou insuficiente, pesadelos, terror noturno, sonambulismo, bruxismo, falar
durante o sono ( siniloquia)
3.0.ALIMENTAO:
A alimentao consiste na ingesto de substncias minerais e orgnicas destinadas
formao e reparao dos tecidos do organismo. A alimentao a condio essencial
sade, crescimento e desenvolvimento da criana.
A alimentao natural de muita importncia para a vida das crianas, pois alm de
atender as necessidades nutritivas e energticas, auxiliam no desenvolvimento sadio de uma
personalidade.
Alimentao natural:
O leite materno o alimento mais perfeito e ideal para o RN, tanto do ponto de vista
nutritivo quanto afetivo e imunolgico. Contm as quantidades suficientes de todos os
componentes essenciais para sua alimentao ( gua, protenas totais, casena, aminocidos,
lactoalbumina, gorduras, sais minerais e vitaminas).
O aleitamento materno previne o aparecimento de vrias doenas na vida adulta.
Vantagens da Amamentao:
- Mais cmodo
- Menos trabalhosa;
-Mais econmico
-Temperatura adequada;
-Fcil digesto;
- Maior aproximao entre me e filho;
-Maior imunidade
- Mais inteligncia;
-Sem risco de infeco ou contaminao para criana;
Colostro: Leite materno que contm clulas linfides vivas e funcionais, com capacidade
imunolgica e de produo de anticorpos e de colonializao adequada, evitando invaso de
bactrias, como a Escherischia coli.
Assistncia de Enfermagem:
- Orientar a me a lavar as mos antes de amamentar e lavar as mamas somente durante o
banho;
- Orientar a me a fazer uma dieta balanceada ( sobre a orientao do nutricionista) para evitar
que o beb apresente clicas;
- Amamentar em local calmo e agradvel;
- A criana deve estar acordada, limpa e vestida de modo adequado, antes de iniciar a
amamentao;
- Deixar a criana mamar at sentir-se satisfeita;
- Orientar a me para fazer a criana eructar durante e aps as mamadas;
Aps a mamada deitar a criana em decbito lateral direito e um pouco elevado ( facilitando o
esvaziamento do estmago e diminuindo o risco de regurgitao)
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- Orientar a me a oferecer as duas mamas em cada mamada. S passar para a seguinte
quando a primeira estiver vazia, e que sempre deve-se comear pela ltima mama que foi
oferecida na mamada anterior ( permite maior produo d leite e a criana recebe a quantidade
adequada de gorduras em todas as mamadas)
Alimentao Especial:
a) Nutrio enteral : Consiste na administrao de vrios tipos teraputicos nutricional,
utilizando o trato gastrintestinal como via de entrada introduzindo-se uma sonda pela boca ou
narina da criana, passando pela faringe e pelo esfago, at os estmago, duodeno ou jejuno,
atravs da prpria locao da sonda ou por movimentos peristlticos.
Indicaes: Insuficincia respiratria, prematuridade, desnutrio grave, diarrias crnicas,
doenas inflamatrias do trato gastrintestinal e comas.
Vias mais utilizadas: Oral, naso ou orogstrica, nasojejunal ou nasoduodenal e gastrostomia.
b) Nutrio Parenteral ( NP): Consiste na infuso endovenosa de nutrientes ( aminocidos,
carboidratos, vitaminas, eletrlitos etc), necessrios nos processos metablicos que ocorrem
normalmente no organismo.
Indicaes: Nos casos em que a via digestiva se encontra parcial ou totalmente interditada em
decorrncia de doenas locais ou generalizadas ( diarrias prolongadas, fstulas, peritonites,
desnutrio, neoplasias, coma e outras).
4.0.HIDRATAO
o estado de se ter um contedo lquido adequado ao corpo. A gua o principal
componente do corpo humano, papel fundamental nos processos metablicos por ser o
substrato de todas as solues orgnicas.
Vias de eliminao da gua: A eliminao da gua no organismo humano se faz atravs dos
rins, pele, intestinos, secreo lacrimal e glndulas mamrias ( lactao)
Tipos de Hidratao:
a) Oral: ( boca, sonda nasogtrica (SNG), sonda orogstrica(SOG). a via prefervel nos
casos de desidratao leve.
TRO ( terapia de reidratao oral)
Objetivos;
Reduzir a morbidade e a mortalidade pela diarria;
Reduzir custos das hidrataes em massa;
Reduzir as internaes;
Corrigir as perdas de guas e eletrlitos.
b) Parenteral : Via utilizada nas doenas severas com vmitos graves, diarria, desidratao
grave, perda de sangue e perda da conscincia.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Assistncia de Enfermagem no controle da hidratao da criana:
* Certificar-se dos lquidos prescritos para serem administrados pelas vias oral e parenteral;
* Orientar a me ou acompanhante para oferecer lquidos prescritos ( gua ou ch) a criana
nos intervalos da alimentao;
*Administrar os lquidos via parenteral no tempo prescrito;
* Controlar rigorosamente o gotejamento do soro;
* Anotar toda a administrao de lquidos pelas vias parenteral e oral;
* Anotar as eliminaes de urina, fezes, vmitos, drenagens etc, descrevendo a quantidade e o
aspecto.
5.0.ELIMINAES:
As eliminaes so feitas atravs da pele( suor), pulmes (ar) e principalmente atravs
dos aparelhos urinrios ( urina) e intestinal ( fezes). O controle das eliminaes um cuidado
importante de enfermagem indica o funcionamento dos sistemas excretores da criana e
auxiliam no seu diagnstico.
Objetivos: Livrar o organismo dos restos de materiais em excesso para as necessidades
orgnicas e eliminar os resduos de substncias txicas do corpo para manter seu
funcionamento normal
- Eliminao Urinria:
O sistema urinrio desempenha papel importante na eliminao de resduos e no
equilbrio hidroeletroltico do organismo. Algumas doenas de baixo volume urinrio (
oligria) deixam a urina mais concentrada e de cor mais escura.
Algumas medicaes e o aumento da ingesta lquida provocam o maior volume de
urina tornando-a mais lquida e clara.
Alguns alimentos e drogas alteram o odor e o aspecto da urina.
- Eliminao Instestinal:
O aparelho intestinal elimina as substncias , que no so mais aproveitadas pelo
organismo atravs das fezes que so compostas, principalmente, por resduos alimentares e
gua ( 60 a 80%).
- Caractersticas das fezes:
Mecnio : Primeiras fezes ( produto da degradao do lquido aminitico e bile); de
cor verde escuro, quase preto, pegajosa e inodoro ( desaparece aproximadamente no 3
dia de vida)
Fezes lcteas: so caracterizadas pelo tipo de leite que a criana ingere.
-Leite Materno : as fezes so lquido-pastosas, de cor amarelo-ouro ( eliminadas de 2 a 5
vezes por dia)
-Leite Artificial: so caracterizadas por fezes endurecidas, mais claras excretadas com menos
freqncia ( eliminadas entre 2 a 3 vezes ao dia)
A medida que a criana cresce as caractersticas das fezes so mais semelhantes as do
adulto, tornando-se de consistncia pastosa e cor marrom ou castanho.
So esverdeadas quando o peristaltismo ativo.
So amareladas quando o alimento permanece por mais tempo no intestino
- Vmitos:
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
a eliminao do contedo gstrico pela boca. muito freqente em crianas,
podendo estar ou no associado a doenas.
- Caractersticas dos vmitos:
As caractersticas dos vmitos so importantes para definir sua causa e auxiliar no
diagnstico da criana. Deve-se observar o volume, a freqncia e o tipo de material
eliminado.
Vmitos com alimentos coagulados e acidificados, indicam que os alimentos
permanecem no estmago;
Vmitos com alimentos quase ou totalmente inalterados indicam que o alimento no
alcanou o estmago e permaneceu pouco tempo no esfago.
Vmitos com sangue ( hematmese) : a eliminao de sangue vivo pela boca, que
no sofreu ao dos cidos do estmago
Vmitos de aspectos de borra de caf: a eliminao de sangue, pela boca, que j
sofreu ao dos sucos gstricos no estmago;
Vmitos biliosos: a presena de bile nos vmitos
Vmitos de aspecto fecalides: a eliminao de fezes pela boca geralmente
ocasionada por obstrues intestinais.
Assistncia de Enfermagem:
* A equipe de enfermagem responsvel direta pela obteno dos dados relacionados s
eliminaes. A preciso e objetividade destas informaes. Muitas vezes permitem identificar
a causa do choro e da inquietao da criana.
* A observao e o registro preciso do aspecto das eliminaes urinrias e intestinais auxiliam
a enfermeira a avaliar o funcionamento do aparelho intestinal, assim como ao mdico a
formular um diagnstico.
* Caso no haja contra-indicaes, o tcnico de enfermagem deve estimular, fornecer e
administrar lquidos a criana.
* A cada eliminao deve ser feita anotao sobre as caractersticas seja vmito, fezes ou
urina. Comunicando as anormalidades e observando as caractersticas.
6.0.MEDIDAS DE SEGURANA E PROTEO:
Todos os elementos das equipes de sade e hospitalar ( desde o porteiro, funcionrios
da limpeza, copeiros etc) so responsveis pela segurana e bem-estar da criana
hospitalizada.
Os pequenos acidentes podem ser considerados, at certo ponto, como um
acontecimento normal dentro da evoluo da criana. Eles auxiliam no desenvolvimento de
sua auto segurana e auto- confiana. So pequenas experincias traumticas que, de
alguma forma, tornam a pessoa mais capaz de enfrentar, evitar ou proteger-se dos riscos e
dificuldades da vida.
Nossa preocupao deve ser, portanto, a de evitar os acidentes maiores e trgicos que
colocam em risco a sade e a vida da criana. No hospital, a equipe de enfermagem a maior
responsvel por prevenir acidentes criana hospitalizada, pois permanece as 24 horas do dia
junto a ela. As repercusses da negligncia na proteo e segurana fsica, teraputica e
psicolgica da criana hospitalizada, tem dimenses morais e sociais desastrosas.
- Medidas de proteo e segurana fsica:
As grades do bero precisam ser mantidas suspensas e seguramente presas em todas as
ocasies;
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
O bero deve ficar afastado de unidades de aquecimento ou de cordes pendentes;
Quando colocar a criana em cadeirinhas prprias para alimentao ou em assentos de
bebs, prender a criana para evitar queda ou deslizamento;
Ao ser colocada em balana ou mesa para exames, deve ser constantemente protegida
de quedas
Os armrios de medicamentos precisam ser mantidos fechados e os remdios no
devem ser deixados sobre a mesinha de cabeceiras;
As medicaes ou alimentos oferecidos, no devem ser forados quando a criana
recusa ( h perigo de aspirao)
Os termostatos e interruptores devem permanecer cobertos e longe do alcance da
criana;
Antes de iniciar o banho, testar a temperatura da gua (evitar queimaduras ou
resfriados).
- Medidas de proteo e segurana teraputica:
- Medicao:
Observar e seguir rotinas de preparo, diluio e administrao;
Verificar rigorosamente o nome e a dose correta antes de administrar a medicao;
Evitar ultrapassar junto criana enquanto ele ingere medicamentos orais;
Controlar rigorosamente o gotejamento do soro ( volumes excessivos em curtos
perodos podem provocar srios distrbios circulatrios, hepticos e renais)
- Procedimentos teraputicos:
Oxignio com alta concentrao ao recm-nascido na incubadora por longo tempo
pode ocorrer retrofibroplasialental( cegueira)
Aspirao naso ou orotraqueal deve ser feita rapidamente e com intervalos ( se
demoram provocam obstruo das VVSS)
Proteger os olhos da criana nas aplicaes quentes e frias ( ( bolsa revestida com
toalha)
Uma simples administrao incorreta da mamadeira pode resultar em aspirao,
deixando a criana com broncopneumonia (BCP), pneumonia e parada
cardiorespiratria.
- Exames:
Exames em jejum ( choro e desespero) dar cuidado especial como : higiene,
segurana, conforto e carinho.
- Cirurgias:
Nas cirurgias os riscos maiores, podem ocorrer seco de rgo, queimaduras e
choques de origens diversas.
Medidas de proteo e segurana psicolgica:
Vrias situaes ameaam a segurana psicolgica da criana durante a hospitalizao:
- Internaes sem acompanhantes;
- Horrios rgidos e fixos de visitas;
- Sensaes de dor, ansiedade e medo decorrentes da doena e dos procedimentos
teraputicos;
-Indiferena dos profissionais de sade na assistncia, os quais afetam pais e filhos.
Recreao:
Recrear utilizar o tempo disponvel da maneira mais agradvel : brincando, lendo,
jogando, bordando, ouvindo msica, etc.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
O brinquedo uma necessidade inata da criana. Representa a oportunidade para o
aprendizado e desenvolvimento de suas habilidades. A recreao funciona para criana como
um apoio em suas novas relaes humanas, alm de ajud-las a lidar com o medo e a
ansiedade causados pela hospitalizao.
Brinquedos:
Os brinquedos no precisam ser caros, devem ser simples, inofensivos, atraentes e
durveis;
O adulto precisa encarar o brinquedo com simpatia e seriedade
A brincadeira no deve ser interrompida at o desinteresse final da criana;
Ao trmino, a criana dever ser convidada a ajudar a organizar o ambiente;
UNIDADE 12
O HOSPITAL PEDITRICO
1.0-Definio: o local destinado internao de crianas, cuja idade pode variar de 0 a 15
ano, equipado para atender as necessidades globais do indivduo nas diferentes faixas etrias
de crescimento, do nascimento at a adolescncia.
2.0-Objetivos do Hospital Peditrico:
Assistir a criana doente, para diagnstico e tratamento;
Controlar situaes j diagnosticadas;
Fazer acompanhamento ps alta;
Servir de centro de pesquisa cientfica na rea de sade;
Servir de centro de orientao sanitria;
Servir de campo de ensino para diversos profissionais na rea de pediatria.
3.0-Caractersticas do Hospital Peditrico:
3.1-Unidade de Berrio:
Definio: Unidade destinada internao de recm nascido de 0 a 28 dias de vida, durante
sua permanncia no hospital.
Objetivo: Possibilitar a funo respiratria, evitar infeces, ministrar alimentao adequada e
manter temperatura.
Organizao: Deve ser subdividido em : sala normais , sala de prematuros, sala de infectados
e sala de observao ( RN suspeitos de infeco).
Normas: Antes de entrar no recinto do berrio, necessrio retirar jias, proceder
escovao das mos e vestir o avental de uso exclusivo no berrio. Na sala de
isolamento dever ser usado um avental para cada recm-nascido.Essas normas
dependem da Comisso de Controle de Infeco Hospitalar (CCIH) de cada
instituio.
3.2 Unidade Peditrica:
Definio: Local destinado internao, diagnstico e tratamento de crianas, com idade que
pode variar de 0 a 15 anos.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Estrutura Fsica: Sala de admisso; enfermarias conforme as patologias e idades; refeitrio e
sala de recreao; banheiros com banheira, chuveiro, sanitrios para crianas; posto de
enfermagem; isolamento; expurgo e ambiente para mes.
OBS: Em comparao com outras unidades, a unidade peditrica possui setores especiais,
indispensveis e deve ser equipada adequadamente para atender as diversas faixas etrias.
3.3 Lactrio:
Definio: Unidade do hospital destinada ao preparo e distribuio do leite ou qualquer
substituto do recm nascido e/ou paciente da pediatria.
Localizao: Varia em funo do tipo e tamanho do hospital; evitar proximidade de reas
infecto-contagiosas e de circulao de pessoal, pacientes e visitantes; ter maior proteo
contra a contaminao do ar; ser o mais prximo possvel do servio de nutrio e diettica,
para facilitar a superviso e abastecimento.
REQUISITOS BSICOS PARA A ENFERMAGEM PEDITRICA
Ter sade fsica e mental;
Ter capacidade de observao e pacincia;
Saber manter um humor agradvel;
Ter noes de higiene para poder transmitir para as crianas;
Gostar de crianas;
Ter responsabilidade.
4.0 Caractersticas do Hospital Amigo da Criana:
O hospital amigo da criana a instituio que segue os dez passos determinados pela
UNICEF ( Fundo das Naes Unidas para Infncia):
1) Ter uma norma escrita sobre o aleitamento, que dever ser rotineiramente transmitida
a toda a equipe se cuidados de sade.
2) Treinar toda a equipe de cuidados de sade, capacitando-a para implementar esta
norma;
3) Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento;
4) Ajudar as mes a iniciar o aleitamento na primeira meia hora aps o nascimento;
5) Mostrar s mes como amamentar e como manter a lactao, mesmo se forem
separadas dos filhos;
6) Evitar dar ao recm-nascido nenhum outro alimento o bebida alm do leite materno, a
no ser que tal procedimento seja indicado pelo mdico.
7) Praticar o alojamento conjunto permitir que as mes e bebs permaneam juntos 24
horas por dia;
8) Encorajar o aleitamento sob livre demanda;
9) Evitar dar bicos artificiais ou chupetas a crianas amamentadas ao seio;
10) Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, para onde as mes
devero ser encaminhadas, por ocasio da alta do hospital ou ambulatrio.
4.1 Vantagens para um Hospital Amigo da Criana
A otimizao das condutas pr aleitamento natural resultar em:
- Reduo dos custos com internao, medicamentos, material de consumo hospitalar e
pessoal, aumento do espao fsico com a eliminao dos berrios, etc.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- Reduo em at 90% das infeces clnicas do beb e, consequentemente, dos custos dela
decorrentes.
A HOSPITALIZAO E SEUS EFEITOS SOBRE A CRIANA
Normalmente, os problemas que a criana ter de enfrentar ao adoecer e hospitalizar-se so:
Perda relativa de autonomia e competncia, percepo de fragilidade e de estar
vulnervel;
Quanto maior o tempo de hospitalizao, menores as oportunidades de
desenvolvimento normal para a criana.
Se a hospitalizao implica em separao total ou parcial do familiar significativo
para a criana acima de 3 meses, e esta no receber assistncia psico-afetiva
adequada, os efeitos nocivos da hospitalizao podero ser severos, e acima de
cinco meses irreversveis.
RECM NASCIDOS E LACTENTES:
Estes apresentam aparncia geral de infelicidade, apetite indiferente e dificuldade de
ganhar peso, choro freqente, apatia, respostas fracas aos estmulos, acelerao do trnsito
intestinal e sono agitado ( hospitalismo).
Assistncia de enfermagem:
- Incluir e estimular a me nos cuidados com a criana;
- Evitar permitir que a criana chore por perodos prolongados sem providenciar conforto e
tentar satisfazer suas necessidades;
- Desenvolver relacionamento com a criana e com a me para evitar que a mesma no tenha
a sensao de abandono ou solido;
OBS: a idade em que a hospitalizao provoca maior sofrimento para criana entre 18
meses e 5 anos
CRIANAS DE DOIS A CINCO ANOS:
Para criana separadas total ou parcialmente, do familiar significativo, comum a
reao de separao constituda de trs fases ( vivenciadas no todo ou em parte).
1) Angstia ou protesto: O sintoma dominante desta fase a ansiedade aberta. A criana
se apresenta inquieta, recusa alimentao ou aceita com avidez e vomita, chora muito,
pede pela me, tem dificuldade de dormir, aponta para entradas e sadas dos
enfermeiros.
2) Resignao ou depresso: Se persistir a privao, a criana se torna mais tranqila
aparentemente adaptada situao. Ela j no acredita que possa mudar a situao.
Sente que seus esforos so inteis. A expresso pode ser resignada, triste ou
indiferente. No expressa medo e carece de vitalidade e energia. Pode demonstrar
desespero presena da me ou quando deixada por algum com quem estabeleceu
vinculao.
3) Defesa: No rejeita ateno; pode se apegar a algum, mas se ocorre troca constante
de pessoal que a assiste, apega-se a brinquedos ou a comida; o desapego reao
perda. Aceita sem protesto alimentos e brinquedos. Pode sorrir e ser socivel.
Aparentemente vai tudo bem. Quando a me visita reage indiferena ou pode estar
aptica, rancorosa e briguenta. Essa maneira de se desligar pode ser indicativo de
psicopatias.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Assistncia de enfermagem:
- Realizar procedimentos teraputicos em forma de brincadeira ( faz-de-conta)
- Incentivar a criana a brincar e expressar sua reao s experincias;
- Ordens e restries podem precipitar raiva, rebeldia e agresso.
CRIANAS DE SEIS A DEZ ANOS:
Podem apresentar reaes de ansiedade da separao, sem as manifestaes de pnico
comuns a idade pr-escolar.
As fantasias de mutilao, nsias de castrao e preocupaes exageradas com a
privacidade, molstia e, com a escola so frequentemente detectadas.
Temor de perder habilidades j adquiridas, depresso, apatia e fobia ( medo do escuro,
de pessoas e procedimentos teraputicos)
Assistncia de enfermagem:
- Encorajar a criana a executar as atividades do dia-a-dia e a participar dos
procedimentos necessrios ao seu tratamento.
- A criana deve ser adequadamente preparada para as experincias teraputicas, de
maneira clara e honesta;
- De preferncia, crianas do mesmo sexo devem ficar na mesma enfermaria.
ADOLESCENTES:
As reaes apresentadas nesta faixa etria so ansiedade, insegurana, rejeio dos
procedimentos, inclusive os j aceitos, raiva, depresso, rejeio afetiva, inclusive dos pais,
masturbao etc.
Assistncia de enfermagem:
- Proporcionar privacidade;
- Tentar desviar construtivamente as manifestaes de rebeldia ou agressividade.
- Oferecer , se possvel, alguma forma de terapia ocupacional.
ALGUMAS SEQUELAS DA HOSPITALIZAO ( Temporrias e/ou Permanentes)
o Deteno ou regresso do desenvolvimento emocional: retorno a dependncia
materna, incapacidade de relacionamento;
o Distrbios relativos de conduta: hostilidade, agressividade, destrutibilidade,
desonestidade, delinqncia, evaso da responsabilidade e passividade;
o Comportamentos regressivos: erros de linguagem, perda de controle esfincteriano,
principalmente vesical, masturbao, terror noturno, chupar dedo e roer unha.
Comportamentos apresentados pela criana internada sem a me:
1) Pertubaes no relacionamento com a me:
Exagerado apego me;
Agressiva com a me;
Rejeita os cuidados com a me;
No atende ordens dos pais;
Apresenta-se exigente e ressentida
2) Regresso
Chupa o dedo;
Alimenta-se com mamadeira ( quando antes j havia deixado)
Enurese ( urina na cama)
Perturbao da fala e da alimentao
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
3) Dependncia
Dorme com os pais
Quer colo
Quer ser vestida e higienizada
OS PAIS DA CRIANA HOSPITALIZADA
Medo do realstico ou irrealstico da doena e do desconhecido;
Sentimentos de culpa e/ou de ambivalncia para com a criana.
Insegurana e ausncia de controle sobre o ambiente hospitalar, pessoas, rotinas,
procedimentos e equipamentos;
Medo de perder o afeto do filho;
Padres comportamentais solicitados aos pais, diferentes dos habituais.
Desta forma, trabalhar com crianas implica em trabalhar com seus pais, especialmente com
sentimentos e atitudes.
A EQUIPE ASSISTENCIAL HOSPITALAR:
Trabalhar com a criana e seus pais no uma tarefa fcil. Vrios so os problemas
que a equipe tende a enfrentar;
- Ansiedade dos pais, que os torna inseguros, agressivos, exigentes, com dificuldades de
compreenso e memorizao.
- Ansiedade da criana, que se mostra revoltada ou infeliz, tem dificuldade de cooperar com o
tratamento, responde mal teraputica.
- Atitudes dos familiares : desconfiana, agressividade direta, ameaas veladas, cobranas,
resolues imediatas.
Estes problemas e reaes so previsveis. A equipe deve estar preparada e estruturada
para tratar com os pais e crianas, realizando um trabalho educativo, de apoio e curativo.
UNIDADE 13
HUMANIZAO DA ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM NA HOSPITALIZAO DA
CRIANA
O QUE HUMANIZAO?
Humanizar no tcnica, nenhuma arte e muito menos um artifcio, e sim um
processo vivencial que permeia toda a atividade do local e das pessoas que ali trabalham,
procurando realiz-lo e dando ao paciente o tratamento que merece como pessoa humana,
dentro das circunstncias peculiares que se encontrarem cada momento do hospital.
Assistncia De Enfermagem Humanizada:
- Quando separao dos pais for inevitvel, procurar faz-la de modo gradual para minimizar
suas conseqncias;
- Quando a criana estiver sem acompanhante, convidar e estimular as outras mes que esto
na enfermaria a dar carinho e ateno a esta criana;
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- Dar carinho e ateno a todas as crianas, principalmente as que correm maior risco de
carncia afetiva: as desacompanhadas, as com doena grave, as inconscientes, as que esto em
isolamento, etc.
- Quando se observar que a me ou pessoa significativa rejeita a criana, tentar ajuda-la
atravs de sugestes ou encaminhamentos.Nunca deve hospitalizar a me, pois geralmente ela
est emocionalmente sobrecarregada e as crticas e acusaes s vo agravar ainda mais a
situao;
- Evitar que a criana oua mensagens ou termos que, por sua imaturidade, incapaz de
compreender o significado, podendo sentir medo ou angstia;
- Evitar restries, proibies, padronizao de cuidados;
- Evitar mentir para criana sobre a dor e o medo, nem pedir para que aceite passivamente
aquilo que teme. Ex : No chore porque no vai doer nada .
- Criar oportunidades de brincadeiras e explorar a capacidade da criana. So
desaconselhveis atividades passivas, como assistir TV e o excesso de atividades.
Direitos da Criana e do Adolescente Hospitalizados
1) Direito proteo, vida e a sade com absoluta prioridade e sem qualquer forma de
descriminao;
2) Direito a ser hospitalizado quando for necessrio ao seu tratamento, sem distino de
classe social, condio econmica, raa ou crena religiosa.
3) Direito de no ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razo
alheia ao melhor tratamento da sua enfermidade.
4) Direito a ser acompanhado por sua me, pais ou responsveis, durante todo o perodo
de hospitalizao, bem como receber visitar.
5) Direito de no ser separada de sua me ao nascer.
6) Direito de receber aleitamento materno sem restries.
7) Direito de no sentir dor, quando exitiam meios para evit-los.
8) Direito de ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados teraputicos e
diagnsticos, a serem utilizados, do prognstico, respeitando sua fase cognitiva, alm
de receber amparo psicolgico quando se fizer necessrio..
9) Direito de desfrutar de alguma forma de recreao, programas de educao para a
sade, acompanhamento do currculo escolar durante sua permanncia hospitalar;
10) Direito a que seus pais ou responsveis participem ativamente do seu diagnstico,
tratamento e prognstico, recebendo informaes sobre os procedimentos a que ser
submetido.
11) Direito de receber apoio espiritual/religioso, conforme a prtica de sua famlia.
12) Direito de no ser objeto de ensaio clnico, provas diagnsticas e teraputicas, sem o
consentimento informado de seus pais ou responsveis e o seu prprio, quando tiver
discernimento para tal;
13) Direito de receber todos os recursos teraputicos disponveis para sua cura,
reabilitao e/ou preveno secundria e terciria.
14) Direito proteo contra qualquer forma de discriminao, negligncia ou maustratos;
15) Direito ao respeito sua integridade fsica, psquica e moral;
16) Direito preservao de sua imagem, identidade, autonomia de valores, dos espaos e
objetos pessoais;
17) Direito de no ser utilizado pelos meios de comunicao de massa, sem expressa
vontade de seus pais ou responsveis ou a sua prpria vontade, resguardando-se a
tica.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
18) Direito confidncia dos seus dados clnicos, bem como direito de tomar
conhecimentos dos mesmos, arquivados na instituio pelo prazo estipulado em lei.
19) Direito de ter seus direitos constitucionais e os contidos no Estatuto da Criana e do
Adolescente respeitados pelos hospitais integralmente.
20) Direito de ter morte digna, junto a seus familiares, quando esgotados todos os recursos
teraputicos disponveis.
UNIDADE 14
ADMISSO E ALTA DACRIANA
ADMISSO:
A admisso da criana na unidade de internao peditrica um dos momentos mais
crticos na hospitalizao, pois, pode ser considerada como uma experincia traumtica e
geralmente estressante para as crianas e seus pais, na maioria das vezes causando ruptura nos
vnculos afetivos entre crianas e pais, e at com o prprio meio em que vive.
A criana pode perceber a hospitalizao como um abandono por parte dos pais ou
uma punio pelos seus erros , e tambm apresenta medos e fantasias relacionados ao
hospital, gerando ansiedade, e manifestando reaes emocionais e comportamentais
regressivos.
Considerando a admisso uma atividade complexa que requer conhecimentos
cientficos relativos s necessidades decorrentes do processo de crescimento e
desenvolvimento da criana, a dinmica familiar e ao prprio processo da admisso,alm de
capacitar para o processo do diagnstico de enfermagem, a prtica da admisso deve ser
realizado pelo enfermeiro.
O tcnico de enfermagem entrevista a me ou a pessoa responsvel pela criana,
procurando obter o maior nmero possvel de informaes que possam auxiliar na sua
adaptao e tratamento.
A criana e a me bem recebidos e orientados tero mais facilidade para aceitar e
colaborar com as condutas e procedimentos diagnsticos e teraputicos. importante
salientar a necessidade de se ter para com a criana uma atitude maternal e gentil, sem,
entretanto, mima-la em excesso, assim como mentir para criana.
PROCEDIMENTOS:
1- RECEBER a criana e a me gentilmente, identificando-se e permitindo que elas se
identifiquem.
2- APRESENTAR os profissionais da equipe que estiverem presentes no momento;
aos companheiros da unidade; toda a rea fsica, orientando quais os locais em que
podero transitar e as reas reservadas apenas para os profissionais; a unidade da
criana, inclusive banheiros e instalaes sanitrias.
3- EXPLICAR a me e a criana sobre as rotinas da unidade; horrios;
vesturio;ordem e higiene da unidade;higiene da criana;higiene do
acompanhante;proibio de fumar; alimentao;recreao;uso do telefone;visitas e
reunies educativas.
4- ORIENTAR sobre a importncia da presena da me ou pessoa significativa para a
criana durante a hospitalizao.
5- ESTIMULAR a participao e colaborao da me na assistncia criana
6- IDENTIFICAR com o carto no bero, nome e todos os dados da criana.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
7- VERIFICAR e anotar no relatrio de enfermagem o nome da criana, idade, sexo,
procedncia, nome da me e endereo, queixa principal, peso, estatura, permetro
ceflico (PC), permetro torcico(PT) e permetro abdominal( Pabd),hiptese
diagnstica, outros dados que achar importante ( feridas, escabiose, pediculose,
sangramento, higiene, etc) e anotar os procedimentos realizados ( ex: coletor de
urina, coleta de exames, soro oral, medicao administrada, aspirao, higiene,
etc).
8- ENCAMINHAR a criana ao banho acompanhado da me.
9- ORIENTAR a me a quem dever dirigir-se em caso de dvidas ou outros
problemas de ordem social
chocante para criana qualquer comentrio sobre sua permanncia no hospital aps a
alta, pois ela passa a sentir-se abandonada pela famlia e isso causa insegurana e sofrimento.
Porm, h casos de crianas que ficam hospitalizados durante meses e nunca so visitadas
pelos familiares; acostumam-se ao hospital e no querem voltar para casa. No entanto, esses
devem ser avisadas com antecedncia e preparadas para aceitarem alta e o retorno ao lar.
Na comunidade, de maneira geral, desconhece que a hospitalizao devido doena
constitui um dos perigos mais comuns e mais graves para a acriana pequena.
A criana sentindo-se abandonada pela me, manifesta grande ansiedade e apresenta
comportamentos estranhos, mesmo muitos anos aps ter sido hospitalizada.
ALTA:
A alta da criana, devido a implicaes legais, deve ser dada por escrito pelo mdico.
Em geral a criana hospitalizada est sempre ansiosa para voltar para casa, e sua ansiedade
aumenta em saber que se aproxima o momento da alta. Da a necessidade de evitar que ela
tome conhecimento desse fato, at que se tenha certeza de que a famlia est avisada e vir
busc-la.
Assistncia de enfermagem na alta hospitalar:
Procedimentos:
Certificar-se da alta;
Administrar medicamentos, se houver;
Orientar a me a sobre a continuidade do tratamento e uso de medicamentos, se
houver;
Registrar a sada da criana no relatrio de enfermagem: horrio, estado da criana,
tempo de permanncia no hospital, hipstese diagnstica, pessoa que a acompanhou
na sada.
MODELO DA EVOLUO DE ADMISSO HOSPITALAR
Realizado pelo Tcnico de Enfermagem na ausncia do Enfermeiro
DATA
HORA
OBSERVAO/EVOLUO
ASS
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
15/02/08
DATA
19/02/08
17:00
Idade : 5 meses
Lactente admitido na clnica peditrica procedente
da cidade de Teixeira-PB,acompanhado de sua me
Maria Dioclcia dos Santos, residente a rua So
Domingos,n 86, bairro das Malvinas, com histria
de fezes lquidas verde com muco sanguinolento e
febre a mais ou menos 3 dias.
HD: Diarria + desidratao
Conduta:
Verificado:
Peso: 8kg
Estatura: 56 cm
PC: 40.7cm
PT: 40.6cm
Pabd: 51 cm
SSVVFC: 96bpm
FR: 30irpm
T: 36C
PA:
70x50mmHg
- Realizado higiene corporal e oral;
Instalado coletor de urina
Instalado venclise perifrica no couro cabeludo
Controlado gotejamento em 20 micgts/min.
Tec. Enf.
AretusaDelfino
MODELO DA EVOLUO DE ALTA HOSPITALAR
pelo Tcnico de Enfermagem na ausncia do Enfermeiro
HORA
OBSERVAES/EVOLUO
ASS
08:00 Idade: 5 meses
Lactente em bom estado geral, recebeu alta hospitalar
aps 3 dias de internao para tratamento de diarria
+ desidratao. Saiu acompanhado por sua me Maria
Dioclcia dos Santos, a qual foi orientada quanto ao
tratamento e uso de medicao.
Peso de admisso: 8kg
Peso Atual: 7.480kg
Diferena:520g
Tec. Enf.
SSVV: FR: FC:
T:
PA:
AretusaDelfino
VALORES DE REFERNCIA PARA SSVV EM PEDIATRIA
RN
Lactente
Pr-escolar
Escolar
Adolescente
FREQUNCIA RESPIRATRIA (FR)
Idade
Freqncia Respiratria (irpm)
30-60
24-40
22-34
18-30
12-16
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Idade
RN
Lactente
Pr-escolar
Escolar
Adolescente
Idade
0-3 meses
3 6 meses
6 9 meses
9 12 meses
1 a 3 anos
3 a 5 anos
5 a 7 anos
7 a 9 anos
9 a 11 anos
11 a 13 anos
13 a 14 anos
FREQUNCIA CARDACA (FC)
Freqncia Cardaca (bpm)
120-160
90-140
80-110
75-100
60-90
PRESSO ARTERIAL ( PA)
Mdia valores Sstole/Distole
75/50 mmHg
85/65 mmHg
85/65 mmHg
90/70 mmHg
90/65 mmHg
95/60 mmHg
95/60 mmHg
95/60 mmHg
100/60 mmHg
105/65 mmHg
110/70 mmHg
Oral
TEMPERATURA (T)
35,8 - 37,2 C
Retal
36,2 C 38 C
Axilar
35,9 C 36.7 C
UNIDADE 15
CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA ASSISTNCIA DA CRIANA NO PR TRANS E
PS OPERATRIO
A cirurgia peditrica , sem dvida alguma, um dos mais importantes campos da
medicina, no apenas hoje em dia, mas atravs de toda a histria dessa cincia. Crianas
podem ser muito frgeis no que se refere a sua sade, ento a cirurgia peditrica um campo
complicado, envolvendo questes que diferem drasticamente da cirurgia em adultos. Como
um famoso cirurgio peditrico declarou uma vez, uma criana com uma leso cirrgica no
, nem de perto, somente uma pessoa pequena..
A cirurgia peditrica lida com todos os outros campos da cirurgia relacionados com
problemas em crianas desde o nascimento at a idade de 21 anos. Voc pode encontrar
cirurgies especializados que lidam com os mais variados problemas de sade que ocorrem
com crianas, como cirurgia traumtica, oncologia, neurologia e outros problemas menos
especficos. Atualmente, a cirurgia peditrica chegou a seu pico de avanos na rea. Ela se
tornou uma cincia to avanada que possvel realizar uma cirurgia em uma criana mesmo
antes de seu nascimento. Alguns problemas pr-natais que so detectveis atravs de exames
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
detalhados so possveis de serem tratados com complicadas e surpreendentes cirurgias intrauterinas. Problemas de corao so os problemas mais comuns tratados nessas cirurgias. A
cirurgia peditrica em neonatais tambm um campo muito desenvolvido, tratando condies
que afetam bebs depois do nascimento e graas a essa especialidade mdica no representam
problemas para a vida futura do beb.
Graas aos avanos feitos nos ltimos 10 anos no campo da cirurgia peditrica,
problemas que eram anteriormente uma verdadeira sentena de morte para a criana agora so
tratveis, algumas vezes com simples procedimentos cirrgicos. esperado que no futuro,
avanos no campo da gentica tornaro possvel diagnosticar problemas at mesmo logo
depois da concepo, abrindo muitas portas para a cirurgia peditrica se desenvolver em uma
cincia ainda mais importante e complexa.
Aps as primeiras consideraes podemos concluir que a criana internada para se
submeter a uma cirurgia deve ser vista no seu aspecto global e a equipe de enfermagem cabe a
responsabilidade de ampliar a assistncia para alm do fator cirrgico, investigando e
cuidando como um todo da criana.
1.0.CUIDADOS PR- OPERACIONAIS
O preparado adequado da criana no pr-operatrio considerado como a primeira e a
mais importante etapa do tratamento ps-operatrio. Para que esse preparo se torne efetivo e
eficaz certos aspectos devero ser considerados no planejamento da assistncia :
a) Idade e hbitos da criana;
b) Condies psicolgicas frente a hospitalizao
c) Condies fsicas para a cirurgia: condies nutricionais, de hidratao,
pulmonares,hepticas, cardiovasculares e renais;
d) Natureza da cirurgia:emergncia,urgncia, eletiva ou opcional.
e) Extenso da cirurgia: depender do grau de espoliao do organismo atravs da leso
dos tecidos, e o tempo da anestesia;
f) Cuidados necessrios no ps-operatrio
g) Tempo de hospitalizao
h) Presena ou no de acompanhante e suas condies ficas e psicolgicas;
i) Condies socioeconmicas e culturais da famlia.
2.0.CUIDADOS NO PR OPERATRIO MEDIATO:
Este perodo poder variar de horas e dias antes da cirurgia, dependendo do preparo
necessrio e do tempo que se dispe.
Como cuidados mediatos citam-se:
Admisso da criana na unidade;
Evitar contato com as pessoas portadoras de infeces;
Fazer preparo psicolgico
Manter jejum;
Encaminhar para exames necessrios e/ou colher material para exames laboratoriais;
Ensinar a criana a evacuar e urinar na comadre, papagaio, vidro, na posio
horizontal ou acamada.
Ensinar fisioterapia respiratria;
Ensinar exerccios com membros, de extenso e flexo, troca de decbito e
deambulao precoce.
Orientar e supervisionar repouso relativo;
Implementar outros cuidados especficos.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
3.0.CUIDADOS NO PR OPERATRIO IMEDIATO:
Considerando que o paciente chamado para o BC uma hora antes da cirurgia, esse
perodo dever ser de uma a duas horas antes desse chamado.
Observar as condies da criana
Estimular eliminaes urinria e intestinal
Fazer tricotomia
Fazer ou auxiliar na higiene corporal;
Fazer ou auxiliar na higiene oral;
Pesar a criana
Verificar SSVV
Observar constantemente se a criana recebeu pr-anestsico
Colocar pulseira de identificao
Preparar a maca para transportar o paciente para o BC
Aguardar o chamado do BC
Preparar o leito para o ps-cirrgico
CUIDADOS PS-OPERATRIOS NA SALA DE RECUPERAO PSANESTSICA:
Ao trmino do ato cirrgico o paciente permanece na sala de recuperao ps
anestsica at que esteja em condies para retornar unidade ou transferido logo aps para
a unidade de tratamento intensivo, dependendo das suas condies e caractersticas da
cirurgia.
O perodo de recuperao ps anestsica poder variar em nmero de horas.os
objetivos da assistncia, neste perodo, so: prevenir e detectar precocemente os problemas
ps-operatrios, bem como auxiliar na recuperao mais rpida da anestesia.
Lidar com a criana evitando movimentos bruscos;
Posicion-la em decbito horizontal, com a cabea lateralizada.
Colocar compressas ou toalhas no leito, junto ao seu rosto
Aspirar secrees orais ou orotraqueais
Fazer higiene oral
Verificar SSVV
Observar estado de conscincia
Fixar sondas e drenos
Controlar drenagens
Fazer medicao prescrita e observar seus efeitos colaterais;
Contolar fluidoterapia: quantidade, gotejamento e o local da infuso
Observar condies do curativo
Manter o tubo orofaringiano, que impede a obstruo orofaringeana pela lngua, at
que o paciente esteja consciente
Fazer troca de decbito de uma em uma hora
Estimular os exerccios respiratrios de uma em uma hora
Fazer exerccios de flexo e extenso com os membros de uma em uma hora
Oferecer gaze umidificada ou umedecer a mucosa oral de uma em uma hora
Observar, em todos os momentos, sinais de complicaes ps operatrias: hemorragia
e choque, principalmente.
Permitir a presena da me ou do acompanhante junto criana to logo seja
possvel;orientar acompanhante quanto a conduta que dever manter no ambiente da
sala de recuperao e supervisionar
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
O anestesista dar alta da URPA se o paciente estiver apresentando sinais vitais
estveis, dbito urinrio satisfatrio, ausncia de sinais de hemorragia ou outros sinais de
anormalidade e somente aps ter recuperado a conscincia.
1.0.CUIDADOS NO PS OPERATRIO IMEDIATO
Este perodo compreende os primeiros 30 minutos aps a alta da sala de recuperao
Pos Anestsica.
Transportar o paciente para a unidade de internao
Receber o paciente na unidade
Posicionar a criana no leito
Verificar SSVV
Agasalhar a criana aps avaliao da temperatura corporal, conforme necessidade
Manter cuba rim e tolha junto ao paciente para o caso de vir apresentar vmito e
necessidade de expelir secrees orais
Manter aspirador junto cabeceira do paciente
Fixar sondas e drenos no leito
Trocar roupas da criana caso estejam sujas
Fazer anotaes sobre o recebimento do paciente na unidade, constando: nvel de
conscincia, queixas, condies do curativo, fluidoterapia,SSVV, drenagens e a
conduta imediata.
2.0.CUIDADOS NO PS OPERATRIO MEDIATO
Fazer ou auxiliar na higiene oral
Oferecer ou auxiliar na alimentao
Estimular exerccios respiratrios
Estimular e auxiliar na deambulao
Fazer ou auxiliar na troca de decbito
Fazer ou auxiliar na higiene corporal no leito, at que tenha condies fsicas para ir
ao banheiro.
Controlar fluidoterapia e restries fsicas periodicamente]estimular recreao atravs
de brinquedos no leito, levando outras crianas para conversar ou para joguinhos,
leitura, at que possa participar da recreao em grupo.
Observar caractersticas do curativo
Prestar ateno emocional a criana em todos os momentos
Observar sinais de complicaes ps operatrias
Preparar para alta hospitalar
Encaminhar a famlia para o servio social, psicolgico e outros profissionais
disposio da instituio, caso haja necessidade
Encaminhar aos servios de sade pblica
UNIDADE 16
ASSISTNCIA DE ENFERMAGEM A FAMLIA E A CRIANA COM DOENA
TERMINAL
Definies:
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Tanatologia: palavra que vem do grego ( Thanatos = morte e Logos = tratado ) e significa
estudo da morte.
Doente Terminal : aquele paciente portador de uma doena incurvel que o levar, num
prazo mais ou menos curto, morte.
Morte: o fim da vida animal ou vegetal . Cessao da funo cerebral
Morrer: perder a vida. o ato atravs do qual ocorre a morte.
Muitos so os fatores determinantes da falta de aceitao da morte, produzidos pela
nossa cultura, em especial se ocorrida na infncia. Mas a criana, que representa a esperana,
o futuro, tambm sofre, adoece e morre.
Vrias so as etapas que podem ser vivenciadas pelo indivduo, frente morte. So as
seguintes:
Negao e isolamento : Neste estgio frases como no, eu no, no pode ser verdade, deve
ter havido algum engano, caracterizam o processo vivenciado pelo indivduo, famlia e
tambm pelos circundantes ( mdicos, enfermeiros, teens). A negao uma reao de defesa
percepo do estado mrbido. Porm temporria, sendo substituda por uma aceitao
parcial e isolamento.
Raiva ( raiva, revolta, inveja, ressentimento): Nesse perodo as frases caractersticas so :
por qu eu ? no poderia ser fulano ?. Nesta fase, mdicos, enfermeiros e familiares so
tratados com agressividade, questionados quanto a sua competncia e solidariedade; a
teraputica empregada pode ser vista como incorreta e desagradvel. Expressar a raiva
racional ou irracional fundamental para uma posterior aceitao da morte
Barganha: Neste estgio o indivduo almeja um prolongamento da vida ou dias sem dor ou
sem males fsicos. uma tentativa de adiantamento e inclui um prmio e uma promessa de
que no se pedir novo adiantamento caso o prmio seja concedido. A maioria das barganhas
feita com Deus.
Depresso: Ocorre quando o paciente percebe que no pode mais negar sua doena, devido
debilitao de seu organismo e a necessidade contnua do tratamento. Nessa fase a raiva e a
revolta cessam, dando lugar a um grande sentimento de perda.
Aceitao: o perodo em que a famlia necessita de mais ajuda que o prprio paciente.A
Aceitao no um estgio de felicidade, mas a fuga de sentimentos. um momento de paz
em que as notcias do meio exterior no tem mais importncia, as conversas no so mais
desejveis, o silncio exprime os sentimentos de forma mais significativa. H um momento
em que a morte nada mais do que um grande alvio, sendo mais fcil morrer quando se
ajudado a desapegar-se de todos os relacionamentos importantes da vida.
INTERPRETAO DA MORTE SEGUNDO AS FASES EVOLUTIVAS DA CRIANA
AT TRS ANOS:
Neste perodo a criana no tem desenvolvida a definio de tempo e outros conceitos.
Por isso no compreende a relao vida e morte. A morte para ela um fato reversvel e com
significado nulo ou escasso. No conceituada nessa etapa, j que a criana se interessa
fundamentalmente pelo seu simbolismo verbal e no sobre as razes, causas, motivos,
conexes.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Nas brincadeiras as crianas representam morte como um sono, a imobilidade. Se
doente, a criana menos de trs anos pode perceber a morte como separao iminente. Seu
medo gerado pelo temor de ser separada dos adultos que a protegem e a confortam.
DE TRS A SEIS ANOS:
Nesta idade a criana possui uma compreenso limitada do significado de morte, pela
escassez de conceitos.Pode encar-la como um estgio em que se est menos vivo, ou que
algo que acontece com os outros;pode ser temporria, reversvel e o morto pode ter
sentimentos e funcionamento biolgico similares aos vivos. H tendncia de personalizar a
morte, de que ela vem buscar algum.Tambm pode estar ligada a velhice e ser resultado de
agresso, assassinato e doena.Interpreta sua doena como um tipo de punio por erros reais
ou imaginrios;os procedimentos dolorosos reforam essa idia.
DE SETE A 12 ANOS
Compreende a permanncia de morte como um adulto, embora possa no compreendela como um fato que ocorre com pessoas que lhe so queridas.Ela quer viver, encara a morte
como sendo um obstculo para realizao de seus objetivos, independncia,
sucesso,aprimoramento fsico e auto-imagem.Ela teme morrer antes da realizao.Porm, a
morte tida como distante, alm do que o adolescente pode estar ctico quanto a questes
como cu,Deus, imortalidade etc.
Expresses de medo e ansiedade so , irritao, hostilidade, a apatia, depresso,
afastamento de seus companheiros e dos adultos.A solido pode provir do sentimento de no
ser compreendido, da rejeio ou fuga percebidos nos circundantes A ansiedade geral da
criana no observada muitas vezes pelos circundantes, quando os mesmos esto imersos
em seu pesar, receios e conflitos.
OS PAIS E A CRIANA TERMINAL
A perda de um filhos pode ser uma das mais trgicas e aniquiladoras experincias do
ser humano.A maneira pela qual o diagnstico comunicado aos pais tem importncia vital
na determinao de suas atitudes posteriores.se informados de forma abrupta ou de modo a
eliminar qualquer esperana, podero reagir a vrias situaes com extrema hostilidade.Porm
a irritao deve ser sempre esperada, como resultado das defesas paternas.
Os sentimentos de culpa reais ou imaginrios quase sempre esto presentes nos
pais.Censuram-se por desleixo, omisso ou impotncia.a morte da criana pode ser tambm
encarada, pelos pais, como forma de castigo por erros cometidos.
Na esfera comportamental os sentimentos de culpa podem ser deslocados para a
equipe assistencial, sendo expressos pela irritao, rancor, revolta, etc.
A ansiedade e os sentimentos conflituosos dos pais seguramente tm repercusses
negativas sobre a criana. no momento em que as relaes necessitam ser saneadas os pais
podem estar dominados por sentimentos de impotncia, frustrao, raiva e mgoa.Da seu
afastamento, frieza para com a criana, incapacidade de se comunicar ou hipersolicitude.Esta
conduz permissidade, gerando condutas inaceitveis da criana e transmitindo-lhe
sentimentos de desesperana.
ASSSITNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PEDITRICO TERMINAL
Prestar ateno a linguagem verbal e no verbal do paciente.
Aceitar a negao; atuar dentro de uma esfera realista;no destruir as deesas da
criana(nem da famlia)
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Aceitar a raiva e ajudar a criana a exprimi-la atravs de canais positivos.
Encorajar a famlia a completar todos os assuntos inacabados com a criana.
Ajudar a famlia a criar um contato humano, amoroso e significativo com a criana.
Ajudar a famlia a aceitar a criana que no quer falar e que rejeita ajuda, enquanto
estiver vivenciando a desiluso, a raiva. Tranqilizar a criana; demonstrar que suas
sensaes so compreendidas.
Aliviar a presso inbuda nas observaes voc corajoso, um homem no chora
etc.isto impede que a criana tenha oportunidade de queixar-se, demonstrar o seu
medo e desespero e receber a ajuda adequada.
Permitir e orientar que os familiares se revezem e descansem pois a morte no tem
hora definida para ocorrer.
Impedir o excesso de visitas quando a criana demonstrar sinais de necessidade de
isolamento.
As necessidades biolgicas devem ser amplamente satisfeitas. necessrio evitar o
sofrimento fsico ( sede, frio,fome etc)
Deve-se permitir que os irmos da criana terminal o visitem.
UNIDADE 17
TCNICAS PEDITRICAS
1.0-FOTOTERAPIA
A fototerapia uma modalidade teraputica empregada para tratamento de vrias
dermatoses. O incio de sua utilizao data da Antigidade, e sua classificao feita segundo
o tipo de irradiao utilizada (UVA ou UVB), varivel de acordo com os comprimentos de
onda.
Trata-se de opo teraputica para vrias dermatoses de evoluo crnica, como a psorase, o
vitiligo, o linfoma cutneo de clulas T, a parapsorase, os eczemas, entre outras, trazendo
resultados
muito
satisfatrios.
Alm disso, a fototerapia pode ser utilizada associada a vrios outros medicamentos
sistmicos, como os retinides, o metotrexate, a ciclosporina, visando obteno de rpido
controle
das
dermatoses
com
doses
menores
de
medicamentos.
Assim como qualquer outra modalidade teraputica a fototerapia apresenta limitaes, como o
equipamento necessrio, a disponibilidade do paciente em aderir ao tratamento e
consideraes clnicas como a dose cumulativa total dos raios UV e suas conseqncias.
A fototerapia demanda alguns cuidados e acompanhamento criterioso para que se tenha a
resposta teraputica efetiva e no apresente efeitos indesejados que eventualmente possam
ocorrer.
2.0-AEROSOLTERAPIA OU NEBULIZAO
Conceito:
a administrao de pequenas partculas de gua em oxignio ou ar comprimido, com ou sem
medicao nas vias areas superiores.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Finalidade:
- Alvio de processos inflamatrios, congestivos e obstrutivos;
- Umidificao - para tratar ou evitar desidratao excessiva da mucosa das vias areas;
- Fluidificao - para facilitar a remoo das secrees viscosas e densas;
- Administrao de mucolticos - para obter a atenuao ou resoluo de espasmos
brnquicos;
- Administrao de corticosterides - ao antiinflamatria e anti-exsudativa;
- Administrao dos agentes anti-espumantes - nos casos de edema agudo de pulmo.
Indicaes:
- Obstruo inflamatria aguda subgltica ou larngea;
- Afeces inflamatrias agudas e crnicas das vias areas;
- Sinusites, bronquites, asma brnquica, pneumonias, edema agudo de pulmo e outros;
- Ps-operatrio.
Cuidados na teraputica de nebulizao:
- Preparar o material necessrio de forma assptica;
- Anotar a freqncia cardaca antes e aps o tratamento (se uso de broncodilatador);
- Montar o aparelho regulando o fluxo de O2 ou ar comprimido com 4 a 5 litros por minuto.
- Colocar o paciente numa posio confortvel, sentado ou semi - fowler (maior expanso
diafragmtica);
- Orientar o paciente que inspire lenta e profundamente pela boca;
- Checar na papeleta e anotar o procedimento, reaes do paciente e as caractersticas das
secrees eliminadas;
- Orientar o paciente para manter os olhos fechados durante a nebulizao se em uso de
medicamentos;
- Orientar o paciente a lavar o rosto aps a nebulizao, SOS;
- Providenciar a limpeza e desinfeco dos materiais usados (aparelho);
- Usar soluo nebulizadora ou umidificadora estril.
Medicao:
1- Berotec - Antiasmtico e broncodilatador - age sobre os receptadores B-2 adrenergticos da
musculatura brnquica promovendo efeito broncoespasmoltico rpido e de longa durao;
tem como efeitos colaterais tremores dos dedos, inquietao, palpitao.
2- Fluimucil - mucoltico - estimula a secreo de surfactante e transporte mucociliar; pode
causar broncoconstrico; as ampolas quebradas s podem ser guardadas no refrigerador por
um perodo de 24 horas.
3- Muscosolvan - mucoltico e expectorante - corrige a produo de secrees
traqueobrnquicas, reduz sua viscosidade e reativa a funo mucociliar; pode causar
broncoconstrico e transtornos gastrintestinais.
3.0-GAVAGEM
Conceito: Consistem na introduo de alimentos lquidos no estmago atravs de um tubo de
polivinil colocado pelo nariz ou boca;
Indicaes:
Idade gestacional < 34 semanas.
RN com peso < 2000 g .
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
RN com desconforto respiratrio e FR entre 60 e 80 ipm com esforo respiratrio
discreto ou ausente.
RN pr-termo que se cansam muito com a suco e requerem uma combinao de
suco e gavagem.
RN que no sugam devido a encefalopatia, hipotonia ou anormalidades maxilofaciais.
Usar sonda naso ou orogstrica longa, fixa e aberta. Esta deve ser trocada a cada 3
dias.
A via orogstrica o mtodo preferencial quando o RN apresentar desconforto
respiratrio e nos RN < 2000g.
A via nasogstrica pode ser utilizada em recm-nascidos sem desconforto respiratrio,
quando os mesmos estiverem em fase de treinamento para suco via oral
4.0-BALANO HIDRICO
Procedimento:
Todo o lquido deve ser medido antes de se oferecer ao paciente e o volume registrado no
impresso de controle hdrico, na coluna correspondente a lquidos ingeridos, com o
respectivo horrio. As infuses parenterais recebidas pelo paciente devem ser anotadas na
coluna correspondente a infuses venosas.
Todo lquido eliminado pelo paciente deve ser medido e anotado na coluna correspondente.Os
lquidos eliminados correspondem a diurese,vmitos, lquidos de drenagem, diarria.
Os fluidos que no puderem ser medidos podero ser avaliados utilizando-se smbolos como:
Pequena quantidade + / regular quantidade ++ / grande quantidade +++
Procedimento:
O fechamento do BH pode ser parcial,ao final de cada turno de trabalho( 6/6 hs) ou total, ao
final de 24 horas.
Num primeiro momento deve-se somar todos os volumes administrados e ingeridos(+).
Aps somam-se todos os lquidos eliminados(-).
Se o volume de lquidos ganhos for maior que as perdas o
BH positivo.
5.0-OXIGENOTERAPIA
Conceito:
Consiste na administrao de oxignio numa concentrao de presso superior encontrada
na atmosfera ambiental para corrigir e atenuar deficincia de oxignio ou hipxia.
Consideraes Gerais:
- O oxignio um gs inodoro, inspido, transparente e ligeiramente mais pesado do que o ar;
- O oxignio alimenta a combusto;
- O oxignio necessita de um fluxmetro e um regulador de presso para ser liberado;
- A determinao de gases arteriais o melhor mtodo para averiguar a necessidade e a
eficcia da oxigenoterapia;
- podem ou no existir outros sinais de hipxia como a cianose.
Avaliao Clnica do Paciente:
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Sinais de hipxia so:
- Sinais respiratrios: Taquipnia, respirao laboriosa (retrao intercostal, batimento de asa
do nariz), cianose progressiva;
- Sinais cardacos: Taquicardia (precoce), bradicardia, hipotenso e parada cardaca
(subseqentes ao 1);
- Sinais neurolgicos: Inquietao, confuso, prostrao, convulso e coma;
- Outros: Palidez.
Mtodos de Administrao de Oxignio:
a) cnula nasal - empregado quando o paciente requer uma concentrao mdia ou baixa de
O2. relativamente simples e permite que o paciente converse, alimente, sem interrupo de
O2.
1- Vantagens:
- Conforto maior que no uso do cateter;
- Economia, n~]ao necessita ser removida;
- Convivncia - pode comer, falar, sem obstculos;
- Facilidade de manter em posio.
2- Desvantagens:
- No pode ser usada por pacientes com problemas nos condutos nasais;
- Concentrao de O2 inspirada desconhecida;
- De pouca aceitao por crianas pequenas;
- No permite nebulizao.
b) Cateter Nasal - Visa administrar concentraes baixas a moderadas de O2. de fcil
aplicao, mas nem sempre bem tolerada principalmente por crianas.
1- Vantagens:
- Mtodo econmico e que utiliza dispositivos simples;
- Facilidade de aplicao.
2- Desvantagens:
- Nem sempre bem tolerado em funo do desconforto produzido;
- A respirao bucal diminui a frao inspirada de O2;
- Irritabilidade tecidual da nasofaringe;
- Facilidade no deslocamento do cateter;
- No permite nebulizao;
- Necessidade de revezamento das narinas a cada 8 horas.
c) Mscara de Venturi - Constitui o mtodo mais segurei e exato para liberar a concentrao
necessria de oxignio, sem considerar a profundidade ou freqncia da respirao.
d) Mscara de Aerosol, Tendas Faciais - So utilizadas com dispositivo de aerosol, que
podem ser ajustadas para concentraes que variam de 27% a 100%.
Efeitos Txicos e Colaterais na Administrao de O2
- Em pacientes portadores de DPOC, a administrao de altas concentraes de O2 eliminar
o estmulo respiratrio - apnia;
- Resseca a mucosa do sistema respiratrio;
- Altas concentraes de O2 (acima de 50%) por tempo prolongado ocasionam alteraes
pulmonares (atelectasias, hemorragia e outros);
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
- Altas concentraes de O2 (acima de 100%) h ao txica sobre os vasos da retina,
determinando a fibroplasia retrolenticular.
Cuidados com o O2 e com sua Administrao
- No administr-lo sem o redutor de presso e o fluxmetro;
- Colocar umidificador com gua destilada ou esterilizada at o nvel indicado;
- Colocar aviso de "No Fumar" na porta do quarto do paciente;
- Controlar a quantidade de litros por minutos;
- Observar se a mscara ou cateter esto bem adaptados e em bom funcionamento;
- Dar apoio psicolgico ao paciente;
- Trocar diariamente a cnula, os umidificadores, o tubo e outros equipamentos expostos
umidade;
- Avaliar o funcionamento do aparelho constantemente observando o volume de gua do
umidificador e a quantidade de litros por minuto;
- Explicar as condutas e as necessidades da oxigenoterapia ao paciente e acompanhantes e
pedir para no fumar;
- Observar e palpar o epigstrio para constatar o aparecimento de distenso;
- Fazer revezamento das narinas a cada 8 horas (cateter);
- Avaliar com freqncia as condies do paciente, sinais de hipxia e anotar e dar assistncia
adequada;
- Manter vias areas desobstrudas;
- Manter os torpedos de O2 na vertical, longe de aparelhos eltricos e de fontes de calor;
- Controlar sinais vitais.
6.0-RESTRIO DE MOVIMENTOS
Material (restrio mecnica)
atadura de crepe; algodo, gaze, compressas cirrgicas; lenis; tala; fita adesiva; braadeiras
de conteno.
Procedimento
proceder a restrio no leito dos segmentos corporais na seguinte ordem: ombros, pulsos e
tornozelos, quadril e joelhos;
ombros: lencol em diagonal pelas costas, axilas e ombros, cruzando-as na regio cervical;
tornozelos e pulsos: proteger com algodo ortopdico, com a atadura de crepe fazer
movimento circular, amarrar;
quadril: colocar um lenol dobrado sobre o quadril e outro sob a regio lombar, torcer as
pontas, amarrar;
joelhos: com 02 lenis. Passar a ponta D sobre o joelho D e sob o E e a ponta do lado E
sobre o joelho E e sob o D;
Observaes
no utilizar ataduras de crepe (faixas) menor do que 10 cm;
evitar garroteamento dos membros;
afrouxar a restrio em casos de edema, leso e palidez;
retirar a restrio uma vez ao dia (banho);
proceder limpeza e massagem de conforto no local
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
7.0-ADMINISTRAO DE MEDICAMENTOS
Uma das principais dificuldades no tratamento da criana doente administrar
medicaes, principalmente no que se refere a recusa da criana. Assim, as orientaes devem
tambm conter esse aspecto. Alertar que nunca se deve mentir,dizendo que a medicao
gostosa.Isso far com que a criana perca a confiana, pois em geral no verdade.Nunca
chantage-la nem amea-la. O objetivo deve ser, construir uma situao favorvel
cooperao. Para tanto, dizer a ela que precisa tomar o medicamento, mesmo que sja um beb.
Explicar segundo sua compreenso, como isso poder ajud-la, dizendo por exemplo: vai
diminuir a tosse ou a dor de ouvido e como ela ir sentir, isto , se o remdio amargo ou
muito doce. Nunca comparar o medicamento a uma guloseima, mesmo que tenha um sabor
agradvel, pois isso pode estimular a ingesto acidental do mesmo pela criana. Oferecer uma
escolha possvel como voc quer tomar sozinha ou a titia ajuda?, depois do remdio,
voc quer tomar gua ou um pouco de suco?
Para crianas pequenas, mais fcil utilizar uma seringa do que um copo ou colher,
uma vez que permite uma administrao lenta numa regio lateral da boca, dificultando
perdas.
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
ANEXOS
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
Profa Aretusa Delfino de Medeiros
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BRANDEN, P. S. Enfermagem materno-infantil. Rio de Janeiro: Reichamn e Affonso
editores, 2000
BRASIL. Estatuto da Criana e do Adolescente. Leis Federais n. 8069, 1990, n 8242,
1991
BRASIL. Manual de Ateno Integrada as Doenas Prevalentes na Infncia AIDPI
Ministrio da Sade, Brasil - 2002
BRASIL .Manual de Assistncia ao Recm-Nascido Ministrio da Sade 1994
BRASIL. Manual de Sade da Criana Acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil , Ministrio da Sade 2002
BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Mdico Cirrgica -10 edio
Guanabara Koogan. Rio de janeiro, 2006.
LIMA, Idelmira Lopes de . Manual do Auxiliar e Tcnico de Enfermagem 7 edio
Goinia : Editora AB , 2006.
SCHMITZ, Edilza Maria. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura 1 edio So
Paulo: Editora Atheneu, 2005.
Manual de Normas para Sade da Criana na Ateno Bsica Secretaria do estado do
Par 2004
SILVA, A . C. S. ET al. Manual de Urgncias em Pediatria. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.
WONG, D.L. Enfermagem Peditrica: elementos essenciais interveno efetiva. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.
Você também pode gostar
- O Pediatra Instruindo a Família: Um guia para pais e profissionais sobre os cuidados com a gravidez e o bebêNo EverandO Pediatra Instruindo a Família: Um guia para pais e profissionais sobre os cuidados com a gravidez e o bebêAinda não há avaliações
- Segurança do Paciente na Internação Hospitalar Psiquiátrica: Mapeamento de Eventos AdversosNo EverandSegurança do Paciente na Internação Hospitalar Psiquiátrica: Mapeamento de Eventos AdversosAinda não há avaliações
- Triagem NeonatalDocumento29 páginasTriagem NeonatalAline100% (2)
- Efeitos Maternos do Clampeamento Tardio do Cordão UmbilicalNo EverandEfeitos Maternos do Clampeamento Tardio do Cordão UmbilicalAinda não há avaliações
- 2019-Cuidado Com RNDocumento23 páginas2019-Cuidado Com RNLetícia LemosAinda não há avaliações
- Resultado0040675 20220615105805Documento16 páginasResultado0040675 20220615105805ricardoAinda não há avaliações
- Cartilha Uti Neontal USFDocumento11 páginasCartilha Uti Neontal USFAnaVendrametto22Ainda não há avaliações
- Hipoglicemia NeonatalDocumento3 páginasHipoglicemia NeonatalVagner LucianoAinda não há avaliações
- Protocolo de Puericultura - Consulta PublicaDocumento40 páginasProtocolo de Puericultura - Consulta PublicaDjanildo VieiraAinda não há avaliações
- Assistência Pré-Natal de Risco HabitualDocumento16 páginasAssistência Pré-Natal de Risco HabitualJúlia Abreu DornelesAinda não há avaliações
- Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno: a importância das Salas de Apoio à Amamentação para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento SustentávelNo EverandPromoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno: a importância das Salas de Apoio à Amamentação para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento SustentávelAinda não há avaliações
- Aula 17-Alojamento Conjunto e AmamentaçãoDocumento51 páginasAula 17-Alojamento Conjunto e AmamentaçãoElaine Felipe ThomazAinda não há avaliações
- Infecções Respiratórias Agudas (Esboço)Documento15 páginasInfecções Respiratórias Agudas (Esboço)Fernanda Soares100% (2)
- Resumos AHADocumento10 páginasResumos AHABruna Lima100% (1)
- Aula 3 - Doenças Na GestaçãoDocumento49 páginasAula 3 - Doenças Na GestaçãoFagner Nogueira PerettaAinda não há avaliações
- Ictericia NeonatalDocumento21 páginasIctericia NeonatalJoão AcupunturistaAinda não há avaliações
- Sindrome Hipertensivas GestacionaisDocumento15 páginasSindrome Hipertensivas Gestacionaisjames costa100% (1)
- Aula PRE NATALDocumento120 páginasAula PRE NATALKelly Reis de Menezes100% (1)
- Protocolo Obstetrícia - HC-UFMG Versão 2014Documento71 páginasProtocolo Obstetrícia - HC-UFMG Versão 2014viniducaAinda não há avaliações
- PDF Assistencia em UTI A Crianca e Ao Adolescente A5 AltDocumento18 páginasPDF Assistencia em UTI A Crianca e Ao Adolescente A5 AltFelipe AraujoAinda não há avaliações
- Protocolo operacional padrão: assistência de enfermagem ao idoso com dependência em domicílioNo EverandProtocolo operacional padrão: assistência de enfermagem ao idoso com dependência em domicílioAinda não há avaliações
- Capacitação de Leitura de Hemograma Na Prática de EnfermagemDocumento6 páginasCapacitação de Leitura de Hemograma Na Prática de EnfermagemVanessa Fernandes De SáAinda não há avaliações
- DesnutricaoDocumento18 páginasDesnutricaoAnna Carolina MeloAinda não há avaliações
- Beta-Hcg QuantitativoDocumento1 páginaBeta-Hcg QuantitativoBrenda Mesquita100% (1)
- Relato de Experiência em Saúde Da Criança e Do AdolescenteDocumento2 páginasRelato de Experiência em Saúde Da Criança e Do AdolescenteAlexandra Queiroga GairaAinda não há avaliações
- Vias de Alimentação RN Pós CirurgicoDocumento20 páginasVias de Alimentação RN Pós CirurgicoMonica Rodrigues100% (1)
- Saúde Da Criança-4Documento66 páginasSaúde Da Criança-4FabioAinda não há avaliações
- Aula - AIDPI Criança parte 1 2021Documento36 páginasAula - AIDPI Criança parte 1 2021Pammela AssunçãoAinda não há avaliações
- Supermaterialpuericultura - 1602 200625 214124 1593719605Documento23 páginasSupermaterialpuericultura - 1602 200625 214124 1593719605Christopher Pineda100% (2)
- Cuidados RN... GREICIELEDocumento15 páginasCuidados RN... GREICIELEIlmailton Conceição ConceiçãoAinda não há avaliações
- Aula Icterícia NeonatalDocumento34 páginasAula Icterícia NeonatalLuísa SuyaneAinda não há avaliações
- Aula 9 2022.2 Profa. Thaís Complicações Na Gestação e AbortoDocumento73 páginasAula 9 2022.2 Profa. Thaís Complicações Na Gestação e AbortoVitória LiocadioAinda não há avaliações
- Calendário Nacional de Vacinação - GestanteDocumento1 páginaCalendário Nacional de Vacinação - Gestantepriscilla.torresAinda não há avaliações
- Unidade Pediátrica Aula 03 PDFDocumento31 páginasUnidade Pediátrica Aula 03 PDFAnna Caroline AlmeidaAinda não há avaliações
- Artigo 6 PDFDocumento11 páginasArtigo 6 PDFErinaldoCastro100% (1)
- Saude Da Crianca - A Consulta Pediatrica - Fornecendo Informacoes VRDocumento5 páginasSaude Da Crianca - A Consulta Pediatrica - Fornecendo Informacoes VRFernanda SobrinhoAinda não há avaliações
- Provaetica ES1BDocumento4 páginasProvaetica ES1BLarissa Zepka Baumgarten Rodrigues100% (1)
- AULA ATENDIMENTO AS URGÊNCIA OBSTETRICAS, NEONATAL, PEDIATRICAS Versão FinalDocumento45 páginasAULA ATENDIMENTO AS URGÊNCIA OBSTETRICAS, NEONATAL, PEDIATRICAS Versão FinalLaser LifeAinda não há avaliações
- Aula Pré NatalDocumento70 páginasAula Pré NatalIsabella AlmeidaAinda não há avaliações
- Método Canguru - UNIPDocumento16 páginasMétodo Canguru - UNIPAbinadabe PascoalAinda não há avaliações
- PNAISCDocumento30 páginasPNAISCnagela souzaAinda não há avaliações
- Saúde Do Adulto e A Saúde Da FamiliaDocumento66 páginasSaúde Do Adulto e A Saúde Da FamiliaNeto Pacífico Neto100% (1)
- Estresse Em Enfermeiros No Setor De Urgência E EmergênciaNo EverandEstresse Em Enfermeiros No Setor De Urgência E EmergênciaAinda não há avaliações
- Assistência Puerperal e A Construção de Um Fluxograma para Consulta de Enfermegem 2020Documento13 páginasAssistência Puerperal e A Construção de Um Fluxograma para Consulta de Enfermegem 2020carla100% (2)
- Ética e Legislação, Técnico em Enfermagem.Documento28 páginasÉtica e Legislação, Técnico em Enfermagem.Karina TeixeiraAinda não há avaliações
- 4 Aula MFC - 18.08 - PuericulturaDocumento63 páginas4 Aula MFC - 18.08 - PuericulturaRAFAELA RABELOAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTO FAMILIAR (Slide)Documento12 páginasPLANEJAMENTO FAMILIAR (Slide)gabriel silveiraAinda não há avaliações
- 21512c-MO - ConsultaDOAdolescente - Abordclinica Orienteticas PDFDocumento14 páginas21512c-MO - ConsultaDOAdolescente - Abordclinica Orienteticas PDFNatáliaQueirozAinda não há avaliações
- Aidipi NeonatalDocumento245 páginasAidipi NeonatalsusyvasconcelosAinda não há avaliações
- Aula 2 Organização Da Atenção À SaúdeDocumento27 páginasAula 2 Organização Da Atenção À SaúdeJakelline MirandaAinda não há avaliações
- Aula DorDocumento41 páginasAula DorClaw PlokAinda não há avaliações
- Atividade 1 - História Da Saúde Pública No Brasil - 51-2024Documento1 páginaAtividade 1 - História Da Saúde Pública No Brasil - 51-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- Diretrizes Nacionais Atencao Saude Adolescentes Jovens Promocao SaudeDocumento132 páginasDiretrizes Nacionais Atencao Saude Adolescentes Jovens Promocao SaudeMaria Aline Gomes BarbozaAinda não há avaliações
- Enfermeiro PediatriaDocumento17 páginasEnfermeiro Pediatriaanalee91Ainda não há avaliações
- Ccih Rotina de Prevencao de Infeccao em BercarioDocumento8 páginasCcih Rotina de Prevencao de Infeccao em Bercariorosivaldo_pierin1597Ainda não há avaliações
- 2019 PROTOCOLO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA GESTANTE E DA PUERPERA DE SOBRALpdfDocumento80 páginas2019 PROTOCOLO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA GESTANTE E DA PUERPERA DE SOBRALpdfJaíneMariaAinda não há avaliações
- Estudo de Caso - TuberculoseDocumento3 páginasEstudo de Caso - TuberculoseRafael da RochaAinda não há avaliações
- Prevenção Primária e Secundária para Doenças CardiovascularesDocumento10 páginasPrevenção Primária e Secundária para Doenças CardiovascularesMarcelle MarquesAinda não há avaliações
- Assistencia de Enfermagem Por Ciclos de VidaDocumento242 páginasAssistencia de Enfermagem Por Ciclos de VidaClau MasAinda não há avaliações
- 06 Apostila Versao Digital Fundamentos de Enfermagem 088.019.224!00!1600097369Documento184 páginas06 Apostila Versao Digital Fundamentos de Enfermagem 088.019.224!00!1600097369Janderson SilvaAinda não há avaliações
- Estratificacao Risco Crianca NovoDocumento2 páginasEstratificacao Risco Crianca NovoSilvia RosaAinda não há avaliações
- Diarreia Aguda em Pediatria - Recomendações para Diagnóstico e TratamentoDocumento17 páginasDiarreia Aguda em Pediatria - Recomendações para Diagnóstico e TratamentoLuís Henrique Salvador FilhoAinda não há avaliações
- Atenção DomiciliarDocumento11 páginasAtenção DomiciliarvsmfisioterapeutaAinda não há avaliações
- Cuidados De Enfermagem Principios e Praticas Para o Bem-Estar do PacienteNo EverandCuidados De Enfermagem Principios e Praticas Para o Bem-Estar do PacienteAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Sífilis - DSTDocumento3 páginasTrabalho Sobre Sífilis - DSTMsa Plano de SaudeAinda não há avaliações
- Livro Da SaúdeDocumento268 páginasLivro Da SaúdeAna EstrelaAinda não há avaliações
- ANTIDEPRESSIVOSDocumento7 páginasANTIDEPRESSIVOSfernandoribeirojr98Ainda não há avaliações
- MEDRESUMOS - PATOLOGIA 06 - Distúrbios HemodinâmicosDocumento8 páginasMEDRESUMOS - PATOLOGIA 06 - Distúrbios HemodinâmicosThamirys Rodrigues100% (1)
- PulsoterapiaDocumento15 páginasPulsoterapiaDaniela PessôaAinda não há avaliações
- Folheto de Aplicacao ZoladexDocumento2 páginasFolheto de Aplicacao ZoladexLuciana SilvaAinda não há avaliações
- Alocação Salas - SiteDocumento30 páginasAlocação Salas - SiteKovib LatrelAinda não há avaliações
- Modulo-1 - Primeiros SocorrosDocumento41 páginasModulo-1 - Primeiros SocorrosAnonymous lDOSei8GAinda não há avaliações
- Transtorno Do Humor BipolarDocumento18 páginasTranstorno Do Humor BipolarBruno PataroAinda não há avaliações
- Pneumonia Adquirida Na ComunidadeDocumento32 páginasPneumonia Adquirida Na ComunidadeIsrael Da LuzAinda não há avaliações
- NutriçãoArtificial DoentesOncológicosDocumento16 páginasNutriçãoArtificial DoentesOncológicosDanielaBritesAinda não há avaliações
- Angina VasoespásticaDocumento5 páginasAngina VasoespásticaPauloCostaAinda não há avaliações
- Resumo PinescDocumento15 páginasResumo PinescRodrigo Augusto100% (3)
- RH223002Documento64 páginasRH223002imoAinda não há avaliações
- Prova - Méd Hom - Hom-Saude Pub 05Documento9 páginasProva - Méd Hom - Hom-Saude Pub 05Luciene MaiaAinda não há avaliações
- TricuríaseDocumento2 páginasTricuríaseJorge BarrosAinda não há avaliações
- Aborto EspontâneoDocumento33 páginasAborto EspontâneoJorge FirminoAinda não há avaliações
- Consulta Rede 1554815720248Documento56 páginasConsulta Rede 1554815720248marcospdp1Ainda não há avaliações
- Mundo Dos Canários - Doenças e TratamentosDocumento2 páginasMundo Dos Canários - Doenças e Tratamentosronaldo19623881Ainda não há avaliações
- Comer e Logo Quer Ir No Banheiro o Que Pode See - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaComer e Logo Quer Ir No Banheiro o Que Pode See - Pesquisa Googlehugoneres1997Ainda não há avaliações
- Cronograma EnfermagemDocumento3 páginasCronograma EnfermagemangeloAinda não há avaliações
- Slides MetepDocumento15 páginasSlides Metepmalusturion.15Ainda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - 10151 - CópiaDocumento2 páginasFicha de Trabalho - 10151 - CópiaPatriciaAinda não há avaliações
- Fisioinforma - Artrose Da Anca PDFDocumento5 páginasFisioinforma - Artrose Da Anca PDFSofia RochaAinda não há avaliações
- Exercícios de FixaçãoDocumento3 páginasExercícios de FixaçãoTarcisio MeloAinda não há avaliações
- Farm Acolo GiaDocumento14 páginasFarm Acolo GiaInês MartinsAinda não há avaliações