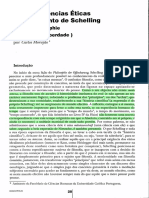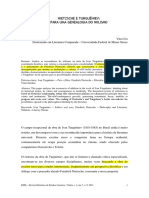Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Fim Da Modernidade
Enviado por
hermanobalbinoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Fim Da Modernidade
Enviado por
hermanobalbinoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
VATTIMO
Introdução
Nesta obra Vattimo reflete acerca do pensamento de Nietzsche e Heidegger
e a discussão pós-moderna, “é só relacionando-se a problemática
nietzschiana do eterno retorno à problemática heideggeriana do
ultrapassamento da metafísica que as esparsas e nem sempre coerentes
teorizações do pós-moderno adquirem rigor e dignidade filosófica” (p. v).
Assim, Vattimo, busca, no prefixo a atitude em relação a herança intelectual
européia, constatação já feita pelos filósofos trabalhados. Porém, não de
uma forma a buscar uma superação, uma vez que isso implicaria cair no
mesmo esquema baseado na noção de superação, do desenvolvimento.
“a modernidade pode caracterizar-se, de fato, por ser dominada pela idéia
da história do pensamento como uma ‘iluminação’ progressiva, que se
desenvolve com base na apropriação e na reapropriação cada vez mais
plena dos ‘fundamentos’, que frequentemente são pensados também como
as ‘origens’, de modo que as revoluções teóricas e práticas da história
ocidental se apresentam e se legitimam na maioria das vezes como
‘recuperações’, renascimentos, retornos. A noção de ‘superação’, que tanta
importância tem em toda filosofia moderna, concebe o curso do
pensamento como um desenvolvimento progressivo, em que o novo se
identifica com o valor através da mediação da recuperação e da apropriação
do fundamento-origem” (p. vi e vii).
Assim, não se trata de superar o pensamento moderno em favor de outro
com uma outra base igualmente fundante, o autor aponta o pós-moderno
como semelhante a postura de Nietzsche e Heidegger em relação ao
pensamento ocidental. Logo, o pós-moderno, não é apenas uma nova etapa
histórica. Mas, antes, uma nova relação com a história, ou mesmo o fim da
história.
“A ontologia nada mais é que interpretação da nossa condição ou situação,
já que o ser não é nada fora do seu ‘evento’, que acontece no seu e nosso
historizar-se” (p. viii)
“Já agora, na sociedade de consumo, a contínua renovação (das roupas, dos
utensílios, dos edifícios) é fisiologicamente requerida para a pura e simples
sobrevivência do sistema; a novidade nada tem de ‘revolucionário’ e
perturbador, ela é o que permite as coisas prosseguirem do mesmo modo”
(p. xii).
“A ‘dissolução’ da história, nos vários sentidos que se podem atribuir a essa
expressão, é, de resto, provavelmente, a característica que distingue do
modo mais claro a história contemporânea da história ‘moderna’” (p. xv).
“Quem sabe se devêssemos dizer que viver na história, sentindo-se como
momento condicionado e sustentado por um curso unitário dos eventos (a
leitura dos jornais como prece matutina do homem moderno), é uma
experiência que se tornou possível, sim, apenas para o homem moderno,
porque somente com a modernidade (a idade de Gutenberg, segundo a
exata descrição de McLuhan) criaram-se as condições para construir e
transmitir uma imagem global das vicissitudes humanas; mas, em
condições de maior sofisticação dos próprios instrumentos de coleta e
transmissão da informação (a idade da televisão, ainda segundo McLuhan),
tal experiência, de novo, se torna problemática e, afinal de contas
impossível. A história contemporânea, desse ponto de vista, não é apenas a
que diz respeito aos anos cronologicamente mais próximos de nós; ela é,
em termos mais rigorosos, a história da época em que tudo, mediante o uso
de novos meios de comunicação, principalmente a televisão, tende a
nivelar-se no plano da contemporaneidade e da simultaneidade, produzindo
também, assim, uma des-historização da experiência” (p. xvi).
O autor expões, também, o pós-moderno como o momento em que um novo
experimentar, um novo viver para o homem é posto. “Enquanto o homem e
o ser forem pensados, metafisicamente, platonicamente, em termos de
estruturas estáveis que impõe ao pensamento e à existência a tarefa de
‘fundar-se’, de estabelecer-se (com a lógica, com a ética) no domínio do
não-deviniente, refletindo-se em toda uma mitificação das estruturas fortes
em qualquer campo da experiência, não será possível ao pensamento viver
positivamente aquela verdadeira idade pós-metafísica que é a pós-
modernidade. Não que nela tudo seja aceito como uma via de promoção do
humano; mas a capacidade de escolher e discriminar entre as possibilidades
que a condição pós-moderna nos coloca só se constrói com base numa
análise dessa condição que a apreenda em suas características próprias,
que a reconheça como campo de possibilidade e não a pense apenas como
o inferno da negação do humano” (p. xviii).
“a experiência pós-moderna (...) da verdade é uma experiência estética e
retórica” (p. xix).
Primeira parte: O niilismo como destino
I. Apologia do niilismo
Colocado que o niilismo não comporta uma historiografia na medida em que
só existe em ato, Vattimo afirma que só podemos compreender em que
ponto se encontra, a que opções e atitudes nos coloca (p. 03).
Assim, nossa posição em relação a ele é colocada a partir da figura do
niilista consumado, de Nietzsche: “O niilista consumado é aquele que
compreendeu que o niilismo é a sua (única) chance. O que acontece hoje
em relação ao niilismo é o seguinte: começamos a ser, a poder ser, niilistas
consumados” (p. 03).
O autor faz uma aproximação entre o niilismo de Nietzsche (“a situação em
que o homem rola do centro para X” (p. 03 e 04) e o de Heidegger (“o
processo em que, no fim, do ser como tal ‘nada mais há’” (p. 04).
Ambas visões acerca do niilismo concordam na mudança da postura do
homem frente os valores: “para Nietzsche, todo o processo do niilismo pode
ser resumido na morte de Deus, ou, também, na ‘desvalorização dos valores
supremos’. Para Heidegger, o ser se aniquila na medida em que se
transforma completamente no valor” (p. 04).
A compreensão da definição heideggeriana, bem como sua afinidade com a
definição de Nietzsche, é feita a partir da atribuição do significado de valor
de troca ao termo valor: “devemos atribuir ao termo valor, que reduz a si o
ser, a acepção rigorosa de valor de troca. O niilismo é, assim, a redução do
ser a valor de troca” (p. 05). Essa afinidade é complementada pelo fato de
“para Nietzsche, não desaparecem os valores tout court, mas os valores
supremos, resumidos precisamente no valor supremo por excelência: Deus.
Tudo isso, porém, longe de tirar sentido da noção de valor, como Heidegger
bem viu, liberta-a na sua potencialidade vertiginosa: somente onde não há
instância terminal e ‘interruptiva’, bloqueadora, do valor supremo-Deus, os
valores podem manifestar-se em sua verdadeira natureza, que é a
convertibilidade, e a transformabilidade/processualidade indefinida” (p. 06).
A intersecção entre niilismo e valores na acepção de Nietzsche e Heidegger
pode ser entendida pois “o niilismo é a consumação do valor de uso no valor
de troca. O niilismo não é o ser estar em poder do sujeito, mas o ser se
dissolver completamente no dis-correr do valor, nas transformações
indefinidas da equivalência universal” (p. 06).
“(Mas já na centralidade que, para as ciências do espírito, o problema da
interpretação adquire, na sua dependência da linguagem, está aberto um
caminho para os êxitos niilistas – pelo menos assim me parece ser – da
hermenêutica mais recente, o que também significa: não é por acaso que,
precisamente através dos desenvolvimentos hermenêuticos do pensamento
de Heidegger, o niilismo se impõe como a [única] chance do pensamento
contemporâneo). A necessidade de ir além do valor de troca, na direção do
valor de uso que escapa da lógica de permutabilidade, também é
dominante na fenomenologia (...) e no primeiro existencialismo, inclusive,
portanto, em Sein und Zeit” (p. 07).
A origem do niilismo consumado está, em Nietzsche, no saber que não
necessita de uma verdade, “o saber não precisa mais chegar às causas
últimas” (p. 09). “Encontra-se aqui, nessa acentuação da superfluidade dos
valores últimos, a raiz do niilismo consumado” (p. 10).
Obs: supérfluo: que ou o que ultrapassa a necessidade, que é mais do que
se necessita; que ou o que é redundante; desnecessário.
O desmoronamento dos valores supremos não significa a imposição de
novos valores estáveis, “a liquidação dos valores supremos também não é o
estabelecimento ou reestabelecimento de uma situação de ‘valor’ no
sentido forte; não é uma reapropriação, porque o que se tornou supérfluo é,
precisamente, qualquer ‘próprio’ (inclusive no sentido semântico do termo
estável). ‘O mundo verdadeiro tornou-se uma fábula’, escreve Nietzsche no
Crepúsculo dos Ídolos. Não, porém, o ‘pretenso’ mundo verdadeiro, mas o
mundo verdadeiro tout court. E, se Nietzsche também acrescenta que,
desse modo, a fábula não mais o é porque não há verdade alguma que a
desvende como aparência e ilusão, a noção de fábula não perde em
absoluto o seu sentido. De fato, ela proíbe atribuir às aparências que a
compõem a força coercitiva que pertencia ao ontos on metafísico” (p. 10).
Com a desconstrução do mundo verdadeiro a fábula não pode fazer as
vezes de verdade pois seria voltar a metafísica. “A experiência que se abre
para o niilismo consumado não é, porém, uma experiência de plenitude, de
glória, de ontos on, apenas desligada dos pretensos valores últimos e
referida, em vez disso, de modo emancipado, aos valores que a tradição
metafísica sempre considerou baixos e ignóbeis, e que, assim, são
resgatados para a sua verdadeira dignidade” (p. 10 e 11).
“O termo niilismo, inclusive quando se trata de niilismo consumado,
portanto não passivo ou reativo, na terminologia de Nietzsche, mantém,
como o da ‘fábula’, alguma das características que possui na linguagem
comum: o mundo em que a verdade tornou-se fábula é, de fato, p lugar de
uma experiência que não é ‘mais autêntica’ do que a experiência aberta
pela metafísica. Essa experiência não é mais autêntica porque a
autenticidade mesma – o próprio, a reapropriação – desvaneceu com a
morte de deus” (p. 11).
“a reificação geral, a redução de tudo a valor de troca, é precisamente o
mundo transformado em fábula. Esforçar-se para reestabelecer um ‘próprio’
contra essa dissolução é sempre ainda niilismo reativo, esforço para
derrubar o domínio do objeto, estabelecendo um domínio do sujeito que, no
entanto, se configura reativamente com as mesmas características de força
coercitiva próprias da objetividade” (p. 12 e 13).
“A consumação do ser em valor de troca, o devir fábula do mundo
verdadeiro, também é niilismo na medida em que comporta um
debilitamento da força coercitiva da ‘realidade’. No mundo do valor de troca
generalizado tudo é dado – como sempre, mas de maneira mais evidente e
exagerada – como narração, relato (da mídia, essencialmente, que se
entrelaça de maneira inextrincável com a tradição de mensagens que a
linguagem nos traz do passado e de outras culturas. A mídia, portanto, não
é apenas perversão ideológica, mas antes uma declinação vertiginosa dessa
mesma tradição)” (p. 13).
Assim, a contemporaneidade abre novas possibilidades para o simbólico, “A
‘desrealização’ do mundo pode não caminhar apenas na direção da rigidez
do imaginário, do estabelecimento de novos ‘valores supremos’, mas dirigir-
se, ao contrário, para a mobilidade do simbólico” (p. 14). Esse é um primeiro
sentido para o niilismo, o segundo, posto a partir da constatação de Sartre
de reapropriação da história por aqueles que a fazem, é “Reapropriarmo-
nos do sentido da história contanto que aceitemos que ela não tem um
sentido de peso e peremptoriedade metafísica e teológica” (p. 15).
O autor atenta ainda ao fato de se pensar a essência da técnica, que não é
algo técnico, como elemento chave. “A técnica também é fábula, Sage,
mensagem transmitida. Vê-la nessa relação despoja-a de suas pretensões,
imaginárias, de constituir uma nova realidade ‘forte’, que se possa assumir
como evidente ou glorificar como o ontos on platônico. O mito da técnica
desumanizante e, também, a realidade desse mito nas sociedades da
organização total são enrijecimentos metafísicos que continuam a ler a
fábula como ‘verdade’. O niilismo consumado, como o Ab-grund
heideggeriano, chama-nos a uma experiência fabulizada da realidade, que
é, também, nossa única possibilidade de liberdade” (p. 15 e 16).
II. A crise do humanismo
Vattimo observa que o ateísmo atual é acompanhado de uma crise do
humano, pois este já não pode usar nenhuma definição fixa ou essencialista
derivada do conceito de deus, “a negação de Deus, ou o registro da sua
morte, não pode dar lugar hoje a nenhuma ‘reapropriação’ pelo homem de
uma sua essência alienada no fetiche do divino” (p. 17). Isso é decorrente
da crise do humanismo transcendente.
“No escrito de Heidegger, humanismo é nada menos que sinônimo de
metafísica, na medida em que somente na perspectiva de uma metafísica
como teoria geral do ser do ente, que pensa esse ser em termos ‘objetivos’
(esquecendo, pois, a diferença ontológica), somente em tal perspectiva o
homem pode encontrar uma definição, com base na qual possa ‘construir-
se’, educar-se, proporcionando-se uma building, inclusive no sentido das
humanae litterae que definem o humanismo como o momento da história
da cultura européia. Não há humanismo a não ser como desenvolvimento
de uma metafísica em que o homem determina um papel para si, que não é
necessariamente central ou exclusivo. Ao contrário, como Heidegger de
resto mostra em sua construção, sempre retomada, da história metafísica, é
só na medida em que vem a luz seu caráter ‘humanístico’, no sentido de
redução de tudo ao homem, que a metafísica pode sobreviver como tal” (p.
18 e 19). Assim, para o autor Heidegger da um significado filosófico a toda
crise cultural pouco articulada.
De um modo geral a crise do humanismo é associada a incessante inovação
técnica, as interpretações tiradas dessa relação apontam as diferentes
concepções de técnica e modo da crise do humanismo. ”Em Heidegger, de
fato, a crise do humanismo, enquanto ligada à culminância da metafísica e
a seu fim, relaciona-se de maneira não acidental a técnica moderna. Ora, é
justamente em conexão com a técnica que quase sempre se fala, hoje, de
crise do humanismo. A técnica aparece como a causa de um processo geral
de desumanização, que compreende seja o obscurecimento dos ideais
humanistas da cultura em favor de uma formação do homem centrada nas
ciências e nas habilidades produtivas racionalmente dirigidas, seja, no plano
da organização social e política, um processo de acentuada racionalização
que deixa entrever as características da sociedade da organização total,
descrita e criticada por Adorno. É precisamente a respeito dessa conexão
entre crise do humanismo e triunfo da civilização técnica, usual em grande
parte da cultura hodierna, que Heidegger oferece indicações teóricas de
peso decisivo” (p. 20).
Há, de um lado, uma visão que busca contornar essa crise e devolver ao
humano seu papel central retirado pela técnica, “A relação com a técnica é
vista, aqui, essencialmente, como uma ameaça, a que o pensamento reage
seja tomando consciência cada vez mais nítida das características
peculiares que distinguem o mundo humano do da objetividade científica,
seja esforçando-se por preparar, teórica ou praticamente (como é o caso do
pensamento marxista), a reapropriação pelo sujeito da sua centralidade.
Essa concepção restauradora não põe em discussão, de modo substancial, o
humanismo da tradição, no sentido de que, para esta, a crise não atinge os
conteúdos do ideal humanista, e sim suas chances de sobrevivência
histórica nas novas condições de vida na modernidade” (p. 23). De outro
lado, a técnica é vista como uma abertura a um novo modo de pensar, visto
que o humano não possui mais um papel central,
O autor observa que a crise do humanismo, exemplificada no
expressionismo, também pode ser indicada como a crise do eurocentrismo,
nas artes isso fica representada pela influência da arte africana no cubismo.
Heidegger coloca a técnica como o maior desdobramento possível da
metafísica, logo, não é possível apontá-la como fator central na crise da
metafísica pois ela também faz parte dessa tradição. “Como a crise ou o fim
da metafísica, também a crise do humaismo, que faz parte daquela, deve
ser descrita em termos de Verwindung, portanto de um ultrapassamento
que, na realidade, é reconhecimento de vínculo, convalescença de uma
doença, assunção de responsabilidade.
Essa Verwindung – da metafísica, do humanismo – se realiza quando há
abertura ao apelo do Ge-Stell. Na noção heideggeriana de Ge-Stell, com
tudo o que ela implica, encontra-se a interpretação teórica da visão radical
da crise do humanismo. Ge-Stell, que traduzimos por im-posição,
representa, para Heidegger, a totalidade do ‘pôr’ técnico, do interpelar,
provocar, ordenar, que constitui a essência histórico-destinal do mundo da
técnica. Essa essência não é diferente da metafísica, mas é a sua
consumação; isso porque a metafísica sempre concebeu o ser como Grund,
como fundamento que assegura a razão e de que a razão se assegura. Mas
a técnica, em seu projeto global de concatenar tendencialmente todos os
entes em vínculos causai previsíveis e domináveis, representa o
desdobramento máximo da metafísica. Aqui está a raiz da impossibilidade
de contrapor as erronias do triunfo da técnica à tradição metafísica; são
momentos diferentes de um único processo. Enquanto aspecto da
metafísica, o humanismo também não pode ter a ilusão de representar
valores alternativos aos valores técnicos. O fato de a técnica se apresentar
como uma ameaça para a metafísica e para o humanismo é apenas uma
aparência, derivada de que, na essência da técnica, desvendam-se as
características próprias da metafísica e do humanismo, que estes sempre
haviam mantido ocultas. Esse desvendamento-desdobramento também é
momento final, culminância e início da crise, para a metafísica e para o
humanismo. Mas já que tal culminância não é o resultado de uma
necessidade histórica, por um processo regido por alguma dialética objetiva,
mas sim Gabe – dar-se dom do ser, que tem um destino apenas como envio,
missão, unúncio -, por esses motivos, em última análise, a crise do
humanismo não é ultrapassamento, mas Verwindung, apelo em que o
homem é chamado a restabelecer-se do humanismo, a remeter-se a ele e a
remetê-lo a si como algo que lhe é destinado.
Assim, o Ge-Stell não é apenas o momento em que a metafísica e o
humanismo acabam, no sentido do desaparecimento e da liquidação, como
quer a noção nostálgico-restauradora dessa crise; o Ge-Stell também é,
escreve Heidegger, ‘um primeiro lampejar do Ereignis’, um anúncio do
evento do ser como seu dar-se além dos quadros do pensamento imêmore
da metafísica. O Ge-Stell comporta, de fato, a possibilidade de que, nele,
envolvidos num abalo recíproco, homem e ser percam suas qualificações
metafísicas, antes de tudo a que os contrapõe como sujeito e objeto. O
humanismo, que é parte e aspecto da metafísica, consiste na definição do
homem como subjectum. A técnica representa a crise do humanismo não
porque o triunfo da racionalização negue os valores humanistas, como uma
análise superficial nos levou a crer, mas sim porque, representando a
consumação da metafísica, chama o humanismo a uma superação, a uma
Verwindung” (p. 28 a 30).
Desse modo, o anti-humanismo de Heidegger pode ser visto como “nem
uma reinvindicação da ‘objetividade’ das essências, nem um remontar ao
mundo da vida como âmbito precedente a qualquer enrijecimento
categorial. Já o anti-humanismo é, para ele, um aspecto conseqüente da
reproposição do problema do sentido do ser fora do horizonte metafísico da
simples-presença. O anti-humanismo heideggeriano, em suma, não se
formula como a reinvindicação de um ‘outro princípio’ que, transcendendo o
homem e suas pretensões de domínio (a ‘vontade de poder’ e o niilismo que
a acompanha), poderia fornecer um ponto de referência. Isso coloca fora de
questão, na minha opinião, a possibilidade de uma leitura ‘religiosa’ de
Heidegger. O sujeito é ‘ultrapassado’ na medida em que é um aspecto do
pensamento que esquece o ser em favor da objetividade e da simples-
presença. Esse pensamento, entre outras coisas, torna impossível
compreender a vida do Ser-aí na sua peculiar historicidade e reduz ao
momento da certeza de si, à evidência do sujeito ideal da ciência: elimina-
se, pois, o que o Ser-aí tem de puramente ‘subjetivo’, enquanto não
redutível ao ‘sujeito do objeto’. Por isso, o humanismo da tradição
metafísica também tem um caráter repressivo e ascético, que se intensifica
no pensamento moderno quanto mais a subjetividade se modela com base
na objetividade científica e torna-se pura função dela” (p. 31 e 32).
“o primado do sujeito na metafísica é função da redução do ser a presença:
o humanismo é a doutrina que atribuí ao homem o papel de sujeito, isto é,
de autoconsciência como a sede da evidência, no quadro do ser pensado
como Grund, como presença plena. Também em nome das razões ‘não
humanistas’ do sujeito – da sua Befindlichkeit, da sua historicidade, das
suas diferenças –, Sein und Zeit colocara o problema do sentido do ser e
mostrara, inicialmente, que a concepção do ser com base no modelo da
presença era fruto de um ato de ‘abstração’ histórico-cultural, que será
esclarecido posteriormente como um evento destinal, de Geschick. Como
quer que seja, poderíamos dizer, começa-se desde então a suspeitar uma
Erde por trás da Welt histórico-cultural da metafísica. Por trás do ser como
simples-presença da objetividade está o ser como tempo, como
acontecimento de época e destino, e por trás da consciência que intenciona
as coisas como evidências há outra coisa, a projetualidade jogada da
existência, que contesta as pretenções de hegemonia da consciência” (p. 32
e 33).
A questão da técnica para Heidegger está ligada ao que significa dizer que o
humanismo está em crise devido a não possibilidade de reapropriação de
valores transcendentais.
De modo geral tanto Nietzsche quanto Heidegger mostram alternativas
positivas a crise do humanismo.
“se vale a análise heideggeriana do nexo entre metafísica, humanismo e
técnica, o sujeito que nos era proposto defender da desumanização técnica
era, precisamente ele, a raiz dessa desumanização, já que a subjetividade
que se define doravante apenas como o sujeito do objeto é pura função do
mundo da objetividade, tendo, ao contrário, irrefreavelmente, a também se
tornar objeto de manipulação” (p. 35).
“Heidegger insiste sempre que é necessário pensar a essência da técnica e
que essa técnica não é, por sua vez, uma coisa técnica. A saída do
humanismo e da metafísica não é uma superação, é uma Verwindung; a
subjetividade não é uma coisa que se deixa simplesmente para trás, como
um traje que se deixa de usar. Se, por um lado, Heidegger fornece as
condições teóricas para eliminar qualquer visão demoníaca da técnica e da
racionalização social e para apreender os elementos de destino que nos
falam a partir dela, por outro reconduz a técnica ao sulco da metafísica e da
tradição que nos liga a ela. Ver a técnica em seu nexo com essa tradição
significa também não se deixar impor o mundo que ela plasma como a
‘realidade’, dotada das características peremptórias, mais uma vez
metafísicas, que eram próprias do ontos on metafísico, é indispensável um
sujeito que não se pense mais, por sua vez, como sujeito forte. A crise do
humanismo, no sentido radical que assume em pensadores como Nietzsche
e Heidegger, mas também em psicanalistas como Lacan e, talvez, em
escritores como Musil, resolve-se provavelmente numa ‘cura de
emagrecimento do sujeito’, que o torne capaz de escutar o apelo de um ser
que não se dá mais no tom peremptório do Grund, ou o pensamento do
pensamento, ou do espírito absoluto, mas que se dissolve a sua presença-
ausência nos retículos de uma sociedade transformada cada vez mais num
organismo sensibilíssimo de comunicação” (p. 36).
Segunda parte: A verdade da arte
III.Morte ou ocaso da arte
O autor afirma que o conceito hegeliano de morte da arte ocorreu de um
modo diferente: “A utopia do retorno do espírito para junto de si, da
coincidência entre ser e autoconsciência totalmente desenvolvida, se
efetua, de certo modo, em nossa vida cotidiana, como generalização da
esfera dos meios de comunicação, do universo das representações
difundidas por esses meios, que hoje não (mais) se distingue da ‘realidade’.
Naturalmente, a mídia-esfera não é o espírito absoluto hegeliano; talvez
seja uma caricatura sua; em todo caso, não é uma perversão num sentido
exclusivamente degenerativo, mas antes contém, como acontece com
freqüência com as perversões, potencialidades cognoscitivas e práticas que
deveríamos explorar e que, provavelmente, delineiam o que está por vir” (p.
39 e 40). Assim, se fala em morte da arte no sentido que se fala da “efetiva
realização pervertida do espírito absoluto hegeliano; ou, o que dá no
mesmo, dos limites da metafísica realizada, que chegou a seu fim, no
sentido em que fala Heidegger” (p. 40). Desse modo, a morte da arte
também constitui o período de fim da metafísica, logo, deve ser vivida como
esta. A morte da arte “É, antes, um evento, que constitui a constelação
histórico-ontológica na qual nos movemos. Essa constelação é uma trama
de eventos histórico-culturais e de palavras que lhes pertencem, os
descrevem e os co-determinam. Nesse sentido geschicklich, destinal, a
morte da arte é algo que nos concerne e que não podemos deixar de
encarar. Antes de tudo, como profecia-utopia de uma sociedade em que a
arte não existe mais como fenômeno específico, suprimida hegelianamente
superada numa estetização geral da existência” (p. 41).
Vattimo coloca a sociedade em que vivemos como a “sociedade da
metafísica realizada” (p. 41).
O avanço tecnológico é posto por Marcuse como fator de estetização que
leva a morte da arte, assim “Na sua perspectiva, a morte da arte se
apresentava como uma possibilidade ao alcance da sociedade tecnicamente
avançada (isto é, em nossos termos, da sociedade da metafísica realizada).
Tal possibilidade não se exprimiu apenas como utopia teórica. A prática das
artes, a começar pelas vanguardas históricas do início do século, mostra um
fenômeno geral de ‘explosão’ da estética fora dos limites institucionais que
lhe eram estabelecidos pela tradição. As poéticas da vanguarda recusam a
delimitação que a filosofia, sobretudo a filosofia de inspiração neokantiana e
neo-idealista, lhes impõe; não se deixam considerar exclusivamente como
lugar de experiência ateórica e aprática, mas se propõem como modelos de
conhecimento privilegiado do real e como momentos de eversão da
estrutura hierarquizada do indivíduo e das sociedades, como instrumentos
de verdadeira agitação social e política. A herança das vanguardas
históricas se mantém na neovanguarda num nível menos totalizante e
metafísico, mas sempre sob o signo da explosão da estética fora dos seus
limites tradicionais. Essa explosão se torna, por exemplo, negação dos
lugares tradicionalmente eleitos para a experiência estética: a sala de
concerto, o teatro, a galeria, o museu, o livro. Realiza-se, assim, uma série
de operações – como a land art, a body art, o teatro de rua, o trabalho
teatral como ‘trabalho de bairro’ – que, em comparação com as ambições
metafísicas revolucionárias das vanguardas históricas, se revela mais
limitada, mas também ao alcance mais concreto da experiência atual. Já
não se espera que a arte seja tornada inatual e suprimida numa futura
sociedade revolucionada. Tenta-se logo, ao contrário, como quer que seja, a
experiência de uma arte como fato estético integral. Por conseguinte, o
estatuto da obra se torna constutivamente ambíguo: a obra não visa a um
êxito que lhe dê o direito de colocar-se dentro de um determinado âmbito
de valores (o museu imaginário dos objetos providos de qualidade estética);
seu êxito consiste, antes, fundamentalmente, em tornar problemático esse
âmbito, ultrapassando, pelo menos momentaneamente, seus limites. Nessa
perspectiva, um dos critérios de avaliação da obra de arte parece ser, em
primeiríssimo lugar, a capacidade de a obra pôr em discussão seu estatuto,
seja de forma direta e, com freqüência, então, um tanto rudimentar, seja de
modo indireto, por exemplo: como ironização dos gêneros literários, como
reescrita, como poética da citação, como uso da fotografia não como meio
para a realização de efeitos, mas em seu significado puro e simples de
duplicação. Em todos esses fenômenos, presentes a diferentes títulos na
experiência artística contemporânea, não se trata apenas da auto-
referência que, em muitas estéticas, parece constitutiva da arte, mas sim, a
meu ver, de fatos especificamente ligados à morte da arte no sentido de
uma explosão do estético que também se realiza nessas formas de auto-
ironização da própria operação artística” (p. 41 a 43).
Vattimo aponta a tecnologia, no sentido dado por Benjamin, como fator
decisivo na explosão das vanguardas históricas “que pensam a morte da
arte como supressão dos limites do estético, em direção a um alcance
metafísico, ou histórico-político, da obra” (p. 43).
“A saída da arte de seus limites institucionais já não se apresenta
exclusivamente, nem tampouco principalmente, como ligada, nessa
perspectiva, à utopia da reintegração, metafísica ou revolucionária, da
existência, mas sim ao advento de novas tecnologias que, de fato,
permitem e até determinam uma forma de generalização da esteticidade.
Com o advento da reprodutibilidade técnica da arte, não apenas as obras do
passado perdem sua aura, o halo que as circunda e as isola do resto da
existência, isolando, com elas, também a esfera estética da experiência,
mas nascem formas de arte em que a reprodutibilidade é consititutiva,
como o cinema e a fotografia. Nestas, as obras não só possuem um original,
mas sobretudo tende a cair a diferença entre produtores e fruidores, mesmo
por que essas artes se resolvem no uso técnico de máquinas e, portanto,
liquidam qualquer discurso sobre o gênio (que é, no fundo, a aura vista do
lado do artista).
A idéia benjaminiana na época da reprodutibilidade representa a passagem
do significado utópico-revolucionário da morte da arte a seu significado
tecnológico, que se resolve numa teoria de cultura de massa” (p. 43 e 44).
“morte da arte não é apenas a que podemos esperar da reintegração
revolucionária da existência: é aquela que de fato já vivemos na sociedade
da cultura de massa, em que se pode falar de estetização geral da vida na
medida em que a mídia, que distribui informação, cultura, entretenimento,
mas sempre sob critérios gerais de ‘beleza’ (atração formal dos produtos),
assumiu na vida de todos um peso infinitamente maior do que em qualquer
época do passado. Identificar a esfera da mídia com o estético pode, por
certo, levantar algumas objeções, mas não é tão difícil admitir semelhante
identificação, se se levar em conta que, além de e mais profundamente do
que distribuir informação, a mídia produz consenso, instauração e
intensificação de uma linguagem comum no social. Ela não é um meio para
a massa, a serviço da massa; é o meio da massa, no sentido em que a
constitui como tal, como esfera pública do consenso, dos gostos e dos
sentimentos comuns. Ora, essa função, que se costuma chamar, com um
acento negativo, de organização do consenso, é uma função por excelência
estética, pelo menos num dos sentidos principais que esse termo assume
desde a Crítica do juízo kantiana, no qual o prazer estético não se define
tanto como aquele que o sujeito experimenta pelo objeto, mas como aquele
prazer que deriva da constatação de pertencer a um grupo – em Kant, a
própria humanidade como ideal –, unido pela capacidade de apreciar o
belo” (p. 44 e 45).
“a morte da arte significa duas coisas: em sentido forte, e utópico, o fim da
arte como fato específico e separado do resto da experiência, numa
existência resgatada e reintegrada; em sentido fraco, ou real, a estetização
como extensão do domínio dos mass-media” (p. 45).
“A morte da arte por obra dos mass-media, os artistas responderam com
freqüência com um comportamento que também se coloca sob a categoria
da morte, na medida em que aparece como uma espécie de suicídio de
protesto. Contra o Kitsch e a cultura de massa manipulada, contra a
estetização em nível baixo, fraco, da existência, a arte autêntica refugiou-se
com freqüência em posições programaticamente aporéticas, renegando
todo e qualquer elemento de fruibilidade imediata das obras – seu aspecto
‘gastronômico’ –, rejeitando a comunicação, optando pelo silêncio puro e
simples” (p. 45).
“no mundo do consenso manipulado, a arte autêntica fala apenas calando, e
a experiência estética só pode ocorrer como negação de todas aquelas que
foram suas características sacramentadas na tradição, a começar pelo
prazer do belo. Também no caso da estética negativa adorniana, do mesmo
modo que no da utopia da estetização geral da experiência, o critério com
base no qual se avalia o êxito da obra de arte é a sua maior ou menor
capacidade de se negar: se o sentido da arte for o de produzir uma
reintegração da existência, a obra será tanto mais válida quanto mais
remeterá a essa reintegração, dissolvendo-se tendencialmente nela; se, ao
contrário, o sentido da obra for resistir à força onidevoradora do kitsch, mais
uma vez seu êxito coincidirá com sua negação de si. Num sentido que falta
indagar, a obra de arte, na condição presente, manifesta características
análogas ao ser heideggeriano: só se dá como aquilo que ao mesmo tempo
se subtrai” (p. 46).
Neste capítulo Vattimo faz uma espécie de “fenomenologia filosófica do
atual modo de dar-se da arte, do seu Wesen no sentido heideggeriano,
(assim) não se incluem apenas os fenômenos de morte da arte como utopia
da reintegração, como estetização da cultura de massa, como suicídio e
silêncio da arte autêntica” (p. 47).
A essa altura, o autor mostra o quanto ainda existem obras de arte no
sentido tradicional, no sentido de fazer valer a verdade do gênio, e o quanto
essa produção, ainda que diferente dos três delineamentos acerca da arte
faz parte dessa constelação. Não obstante, essa arte tradicional levanta a
questão da morte da arte ser uma escapatória a sua metafísica. “obras que
se apresentam como um conjunto de objetos diferenciados entre si não
apenas com base em sua maior ou menor negatividade com respeito ao
estatuto da arte. O mundo da efetiva produção artística não se deixa
descrever de maneira adequada com base tão-só nesse critério;
continuamente somos atraídos por diferenciações de valores que escapam
dessa classificação simplista e não se reportam a ela nem mesmo
mediatamente. Nisso deve refletir com obstinada atenção e teoria, para a
qual o discurso da morte da arte também pode representar uma cômoda
escapatória, cômoda enquanto simplificadora e traquilizadora na sua
metafísica rotundidade.
Todavia, a sobrevivência de um mundo de produtos artísticos dotado de
uma articulação interna também tem uma relação constitutiva com os
fenômenos de morte da arte nos três sentidos que se delinearam. Creio ser
fácil mostrar que a história da pintura, ou, melhor, das artes visuais, e a
história da poesia destas últimas décadas não têm sentido se não são
postas em relação com o mundo das imagens da mídia ou com a linguagem
desse mesmo mundo. Trata-se, mais uma vez, de relações que, em geral,
podem ser classificadas na categoria heideggeriana da Verwindung:
relações irônico-icônicas, que duplicam e, ao mesmo tempo, destroçam as
imagens e as palavras da cultura massificada, não apenas, em todo caso,
no sentido de uma negação dessa cultura. O fato de que, não obstante tudo,
ainda hoje se dêem produtos ‘de arte’ vitais depende provavelmente de
serem esses produtos o lugar em que jogam e se encontram, num complexo
sistema de relações, os três aspectos da morte da arte como utopia, como
kitsch, como silêncio. A fenomenologia filosófica da nossa situação poderia,
pois, ser completada com o reconhecimento de que é precisamente o jogo
desses vários aspectos da morte da arte o elemento de sua vida
perdurante, nos produtos que, apesar de tudo, ainda se diferenciam no
interior dos marcos artísticos institucionais.
Essa situação concerne a estética filosófica. Uma situação que, por seu
caráter perdurante, em que o evento morte da arte é sempre anunciado e
sempre de novo adiado, pode ser indicada com o termo ocaso da arte.
Trata-se de um conjunto de fenômenos com que a estética filosófica
tradicional se mede com dificuldade. Os conceitos dessa tradição se
revelam privados de referência na experiência concreta. Quem se ocupa de
estética e se vê descrevendo a experiência da arte e do belo com a
linguagem conceitual um tanto enfática herdade da filosofia do passado
sempre sente certo incômodo ao confrontar essa ênfase com a experiência
da arte que ele mesmo faz e vê nos contemporâneos” (p. 47 a 49).
Desse modo, a linguagem empregada na estética filosófica denuncia que
esta também está atrelada a metafísica, assim, “seja repelindo em bloco a
terminologia conceitual da estética tradicional e recorrendo, em seu lugar,
às noções ‘positivas’ desta ou daquela ‘ciência humana’: semiótica,
psicologia, antropologia, sociologia. Ambas as atitudes permanecem
profundamente – reativamente, diria Nietzsche – ligadas à tradição: supõem
que o mundo dos conceitos estéticos transmitidos pela tradição é o único
possível para a construção de um discursso filosófico sobre a arte e, então,
ou mantêm-no salvando-o numa perspectiva negativa, seja ela utópica ou
crítica, ou declaram que a estética em filosófica não tem mais sentido
algum. Em ambos os casos, ainda que em planos diferentes, estamos diante
de uma morte da estética filosófica que é simétrica a morte da arte nos
vários sentidos a que aludimos. Mas a estética que herdamos da tradição
poderia não ser nem o único sistema conceitual possível, nem
simplesmente um conjunto de noções falsas, porque privadas de referência
na experiência. Como a metafísica (uso sempre esse termo no sentido que
Heidegger lhe atribuiu), a estética da tradição é, para nós, um destino: uma
coisa de que devemos restabelecer-nos e a que devemos remeter-nos. O
caráter enfático dos conceitos que nos foi legado pela estética amadurecida
dentro da tradição metafísica relaciona-se à essência dessa mesma
metafísica Heidegger descreveu-a sobretudo como o pensamento
objetivante e, mais em geral, como aquela época da história do ser em que
este se dá, acontece, como presença. Podemos acrescentar que essa época
caracteriza-se também e sobretudo pelo fato de que o ser se dá nela como
força: imponência, evidência, definitude, permanência e, também,
provavelmente, domínio. Com a colocação – que, também ela, não é
interpretável como a pura e simples ação de um pensador – do problema
ser-tempo começa a Verwindung da metafísica: o ser agora se dá, do modo
em que já está anunciado no niilismo de Nietzsche, como o que desvanece e
perece, não como o que está, e isso desde Sein und Zeit, mas como o que
nasce e morre” (p. 49 e 50).
Nesse contexto a fruição estética também é alterada na medida em que não
há mais o encontro com a obra, seja por sua disseminação em massa
noutras mídias, seja pela percepção do espectador que se altera conforme o
tempo: “o que acontece conosco na época da reprodutibilidade técnica é
que a experiência estética se aproxima cada vez mais daquilo que Benjamin
chamou de ‘percepção distraída’. Essa percepção não encontra mais a ‘obra
de arte’, de cuja noção era parte integrante a aura. Pode-se declarar, então,
que não se dá (mais) (ou ainda) a experiência da arte, mas isso sempre nos
marcos de uma aceitação dos conceitos da estética metafísica. É possível,
ao contrário, que precisamente na fruição distraída, o Wesen da arte nos
interpele num sentido que nos obriga a dar, também nesse terreno, um
passo além da metafísica. A experiência da fruição distraída não encontra
mais obras, move-se numa luz de ocaso e de declínio e, também, se
quiserem, de significações disseminadas, do mesmo modo que, por
exemplo, a experiência moral não encontra mais grandes opções entre
valores totais, o bem e o mal, mas apenas fatos micrológicos, com respeito
aos quais, como no caso da arte, os conceitos da tradição se revelam
enfáticos” (p. 51).
O pôr-em-obra de Heidegger comporta dois aspectos. A “Exposição, que
Heidegger acentua no sentido em que se diz ‘montar’ uma mostra, etc.,
significa que a obra de arte tem uma função de fundação e constituição das
linhas que definem um mundo histórico. Um mundo histórico, uma
sociedade ou um grupo social reconhecem os caracteres constitutivos da
sua experiência do mundo (por exemplo, os critérios secretos de distinção
entre verdadeiro e falso, bem e mal, etc.) numa obra de arte. Nessa idéia,
está decerto presente uma afirmação do caráter inaugural da obra, que
retoma a impossibilidade, de que falava Kant, de se deduzir a obra de
regras; mas também está presente a idéia, de derivação diltheyana, de que
se revela na obra de arte, mais do que em qualquer outro produto espiritual,
a verdade das épocas. O elemento essencial, aqui, parece-me ser não tanto
o caráter inaugural ou uma ‘verdade’ oposta ao erro, mas sim a constituição
das linhas fundamentais de uma existência histórica. Aquilo que, em termos
depreciativos, se chama de função estética como organização do consenso.
Mna obra se reconhece e se intensifica a vinculação de cada um a um
mundo histórico. Desse modo, é deixada de lado a distinção com base na
qual Adorno repeliu, como pura ideologia, o mundo da cultura da mídia, isto
é, a distinção de um presumido valor de uso da obra oposto ao seu valor de
troca, à sua atuação apenas como sinal distintivo, de reconhecimento, por
grupos e sociedades. O obra como pôr-em-obra da verdade, no seu aspecto
de exposição de um mundo, pode não ser própria apenas da obra como
grande êxito individual. De fato, é uma função que se mantém e se exerce
ainda mais plenamente na situação em que cada obra singular desaparece,
com a sua aura, em favor de um âmbito de produtos relativamente
substituíveis, mas de valência análoga“(p. 51 a 53). Esse aspecto mostra o
quão ligado ao contexto de criação uma obra é.
O segundo aspecto é a produção, “a idéia de obra como Her-stellung da
terra é referida tanto à materialidade da obra, como sobretudo ao fato de
que, em virtude dessa materialidade (nunca ‘física’), a obra se dá como algo
que sempre se mantém em reserva. A terra, na obra, não é matéria em
sentido estrito, mas sua presença como tal, sua manifestação pontual como
algo que chama sempre de novo a atenção. Aqui também, como no caso da
noção de mundo, trata-se, para nós (a mais de quarenta anos da
composição do ensaio), de desenredar o sentido do discurso heideggeriano
do equívocos metafísicos em que corre o risco de recair. A terra é, decerto,
hic et nunc da obra a que toda nova interpretação sempre retorna e que
sempre suscita novas leituras, portanto novos ‘mundos’ possíveis. Mas, se
se lê com atenção o texto de Heidegger, por exemplo onde fala da terra no
templo grego como seu ser em relação às vicissitudes das estações, à
corrupção natural dos materiais, etc., e nas páginas em que fala do conflito
entre mundo e terra como o conflito em que se abre a verdade como
alétheia, o significado que daí se extrai é que a terra é a dimensão que, na
obra, liga o mundo como sistema de significados desdobrados e articulados
àquele seu ‘outro’ que é a physis, aquela que, com seus ritmos, põe em
movimento as estruturas tendencialemente imóveis dos mundos histórico-
sociais. Em suma, a obra de arte é pôr-em-obra da verdade porque, nela, a
abertura de um mundo como contexto de remissões articuladas, como
linguagem, é permanentemente trazida de volta à terra, ao outro do mundo,
que, em Heidegger, possui as características da physis (isso não no ensaio
de 1936, mas nos escritos obre Hölderlin), que é definida pelo fato de
nascer e crescer e, devemos entender, morrer. Terra, physis, são o que
zeitigt, literalmente o que amadurece no sentido do vivo, mas também o
que se ‘temporaliza’, segundo o uso etimológico que Sein und Zeit faz desse
verbo. O outro do mundo, a terra, não é o que dura, mas exatamente o
oposto, o que aparece como o que sempre se retrai numa ‘naturalidade’
que comporta o Zeitigen, o nascimento e o amadurecimento que trazem no
rosto os sinais do tempo. A obra de arte é o único tipo de manufatura que
registra o envelhecimento como um acontecimento positivo, que se insere
ativamente na determinação de novas possibilidades de sentido.
Esse segundo aspecto da noção hedeggeriana de obra com pôr-em-obe da
verdade parece-me significativo, porque abre o discurso na direção da
temporalidade e perecibilidade da obra de arte, num sentido que sempre
permaneceu estranho à estética metafísica tradicional. Todas as
dificuldades que a estética filosófica encontra ao encara a experiência do
ocaso da arte, da fruição distraída, da cultura massificada, nasce do fato de
que ela continua a raciocinar em termos de obra como forma
tendencialmente eterna e, no fundo, em termos de ser como permanência,
imponência, força. O ocaso da arte é, ao contrário, um aspecto da situação
mais geral do fim da metafísica, em que o pensamento é chamado a uma
Verwindung da metafísica, nos vários sentidos de rimettersi que ilustramos.
A estética pode levar a cabo sua tarefa de estética filosófica, nessa
perspectiva, se souber apreender, nos vários fenômenos nos quais se
pretendeu ver a morte da arte, o anúncio de uma época do ser em que, na
perspectiva de uma ontologia que só pode ser indicada como ‘ontologia do
declínio’, o pensamento também se abra para acolher o sentido não
puramente negativo e dejeitivo que a experiência da esteticidade assumiu
na época da reprodutibilidade e da cultura massificada.“(p. 53 a 55).
IV.A quebra da palavra poética
A palavra poética não coloca o ser para fora da mediação da linguagem, ela,
antes, o coloca na quadratura, “Heidegger, pensando na palavra poética,
não está reivindicando aqui um dar-se do ser em ‘pessoa’, fora ou além da
mediação da linguagem, como se a quebra da palavra que ocorre na poesia
nos conduzisse ‘às próprias coisas’. O que acontece na linguagem original –
ou, o que dá no mesmo, pelo menos em certa medida, na linguagem da
poesia – é uma colocação da coisa no jogo do Geviert, a quadratura de terra
e céu, mortais e divinos, que só se dá como ‘ressoar do silêncio’ (Gelaut der
Stille) e que nada tem da evidência objetiva das essências em que pensava
a fenomenologia” (p. 57 e 58). Vattimo afirma que essa proposição é difícil
de ser inserida na concepção da obra de arte de Heidegger, “A obra de arte
é pôr-em-obra da verdade na medida em que (...) é a abertura dos
horizontes histórico-destinais no âmbito dos quais qualquer verificação de
proposições se torna possível, isto é, o ato em que se institui um certo
mundo histórico-cultural, em que uma ‘humanidade’ histórica vê dfinidas de
modo original as características portantes da sua experiência do mundo.
Como se sabe, esses eventos inaugurais são, para Heidegger, eventos de
linguagem, dado que – já com base em Sein und Zeit – é, antes de mais
nada, na linguagem que se desenrola a familiaridade original com o mundo,
que constitui a não-transcedental, mas sempre historicamente finita e
‘situada’, condição de possibilidade da experiência. A pré-compreensão do
mundo, em que o Ser-aí é já sempre jogado, é um horizonte de linguagem;
esse horizonte não é a tela transcedental, sempre igual, da razão kantiana,
ele é histórico-finito e é precisamente isso que nos permite falar num
‘acontecer’ da verdade. O que chamamos de poesia são os eventos
inaugurais em que se instituem os horizontes histórico-destinais da
experiência de cada humanidade histórica” (p. 58). Assim, essa abertura
também é um evento.
“A acentuação do caráter inaugural da obra como essência de verdade da
poesia é, em todo caso, uma tese largamente popular, inclusive sob
diversos nomes, na estética contemporânea: a irredutibilidade da obra de
arte ao existente pode ser entendida como uma ‘quase subjetividade’, no
sentido que a obra não se deixa experimentar como uma coisa no mundo,
mas também pretende ser uma nova perspectiva global sobre o mundo, ou
como verdadeira figuração profético-utópica de um mundo alternativo,
daquela existência conciliada com relação à qual a ordem existente é
desvelada na sua injustiça e inautenticidade (pensamos em teóricos como
Ernst Bloch, Adorno, Marcuse); ou ainda, como a apresentação de diversas
possibilidades de existência que, sem pretender valer como telos utópico ou
como critério de juízo sobre o existente, funcionam em todo caso no sentido
de fluidificá-lo, suspendendo seu caráter exclusivo e coativo. Em todas
essas – e outras – variações possíveis, a inaugurabilidade da poesia da arte
é sempre pensada à luz do ‘fundar’, isto é, do figurar possíveis mundos
históricos alternativos com respeito ao mundo existente (inclusive quando a
alternativa é reconhecida como pura utopia, que conserva, porém, o valor
de um critério de juízo, de um padrão ideal). Nessas perspectivas, a quebra
e a falha da palavra poética, de que fala a reescrita heideggeriana do verso
de George, só podem ser interpeladas num sentido que repropõe a relação
representativa entre palavras e coisas. A palavra poética está destinada a
quebrar-se como se quebra a palavra profética no momento da ‘realização’
da profecia. Se, em geral, o significado inaugural da poesia consiste em
fundar mundos históricos (reais ou possíveis, mas, também nesse segundo
caso, sempre como mundos históricos), a linguagem poética tem as
mesmas características de inesscencialidade da linguagem representativa:
consuma-se e quebra-se na referência à coisa, quando a coisa é (desde
então) feita presente. O fato de que o futuro a que a poesia alude esteja
sempre ainda além de vir, como a utopia de Bloch, de Adorno e de Marcuse,
não modifica substancialmente essa estrutura inssencial da sua linguagem”
(p. 59 e 60).
Essa concepção é impossível de ser reduzida a relação “representativa-
referencial da linguagem” (p. 61), assim, a quebra da palavra abre um novo
horizonte no qual fica claro que o homem não é senhor da sua linguagem,
“A quebra da palavra, a que chega a reflexão sobre a essência da
linguagem, é entendida, por certo, como um Zeigen, um mostrar. Mas isso,
além de se reduzir, no âmbito da concepção metafísica da linguagem, como
sinal que está por vir, subverte nosso modo habitual, referencial, de
conceber a relação palavra-coisa e a nossa relação com a própria
linguagem. Fazer a experiência da linguagem como Zeigen, ou, o que dá no
mesmo, como Sage (como ‘dizer original’), significa que ‘a linguagem não é
uma simples faculdade do homem’. Ela ‘deixa de ser algo com que nós,
homens falantes, temos uma relação’, ficando claro que, ao contrário, ela é
‘a relação de todas as relações’. A linguagem é Zeigen não como um
instrumento para mostrar as coisas; Zeigen significa, decerto, Erscheinen
lassen, fazer aparecer, mas antes no sentido do fazer cada coisa refletir-se
no Jogo de espelhos do Geviert. Por isso, a Nahnis, vizinhança ou
proximidade, tem tamanha importância na definição de Zeigen. ‘Dizer
original (sagen) significa: apontar, fazer aparecer, desenrolar ao olhar um
mundo aclarando-ocultando-libertando. Aparece, nesse ponto, a
proximidade como o movimento do estarem as regiões do mundo uma
diante da outra... Observando com paciência, é possível ver como a
proximidade e o Dizer original, enquanto essência da linguagem são a
mesma coisa.’ As regiões do mundo de que se fala aqui são as quatro
regiões do Geviert: terra e céu, mortais e divinos. O mostrar em que a
palavra se quebra não é uma remissão à coisa, mas, antes, uma colocação
da coisa na proximidade, no quadrado das regiões do mundo a que
pertence. Ao Geviert, porém, o homem pertence enquanto mortal. ‘Os
mortais são aqueles que podem experimentar a morte como morte. O
animal não pode. Mas também a fala é vedada ao animal. Como um
relâmpago repentino, salta aqui aos olhos a relação constitutiva entre morte
e linguagem...’” (p. 61 e 62).
V. Ornamento Monnumento
Neste capítulo a função de abertura da obra de arte é discutida a partir da
arte espacial que, para o autor, esclarece o conflito entre terra e mundo.
“CIT” (p. 75).
VI.Estrutura das revoluções artísticas
1. Neste capítulo Vattimo faz um parelo entre o “devir das artes” (p. 85) e o
livro de Kuhn, Estrutura das revoluções científicas. Primeiramente o autor
coloca que, diferentemente das ciências, as artes não possuem um ponto de
referência que permita avaliá-la sob aspectos evolutivos, o que implica em
sua historiografia, “CIT” (p. 85 e 86).
Porém, mesmo esse aspecto de progresso científico está sendo corroído.
Assim, há uma falta de distinção entre ciência e arte, na medida em que, a
própria ciência, se vê carente de referenciais. Para Kuhn a opção por um
paradigma é, antes, a opção por um discurso, “toda argumentação que
queira fundar de maneira demonstrativa uma opção entre paradigmas é
necessariamente circular. Mas, ‘qualquer que seja sua força, o status da
argumentação circular é apenas o da persuasão” (p. 87). Isso abre um
paralelo entre revoluções artísticas e científicas: “CIT” (p. 87 e 88).
Kuhn parece opor duas historicidades, a científica e a artística, uma
“’normal’” e outra “’revolucionária’”. A primeira feita por cientistas e seu
conhecimento cumulativo, já a segunda “CIT” (p. 89 e 90). Nessa
contraposição “CIT” (p. 90).
Por fim, “CIT” (p. 90).
2. “CIT” (p. 91). Essa estetização “corresponde ao que se pode chamar de
centralidade do estético (experiência estética; arte e fenômenos conexos)
na modernidade” (p. 92). “é sobretudo a partir de Nietzsche que se torna
possível CIT” (p. 92 e 93).
Diante de um mundo que se configura cada vez mais como o mundo da
vontade de poder, a arte serve como modelo e antecipação: “CITA” (p. 93 e
94).
“CITA” (p. 94 e 95). Vattimo faz essa afirmação tendo em vista que não se
encontra, em Nietzsche, uma identificação da modernidade com o novo.
Assim, “CITA” (p. 97).
Essa busca pelo novo, ou antes essa transformação do novo em valor,
indica uma busca pelo futuro. Pois, “Seja na filosofia, seja nas poéticas CIT”
(p. 98).
Todo esse processo implica em : “CITA” (p. 98 e 99).
Posto esse processo, a arte é uma antecipação “na condição de
desarraigamento em que ciência e técnica se encontram explicitamente
hoje” (p. 99).
3. ”A definição da modernidade como a época em que o ser moderno é o
valor base não é uma definição que a modernidade possa dar de si mesma.
A essência do moderno só se torna verdadeiramente visível a partir do
momento em que, em algum sentido que deve ser esclarecido, o
mecanismo da modernidade se distancia de nós” (p. 102). Nos distanciamos
a medida em que esvaziamos a noção, central, de progresso. Ademais,
Vattimo indica o quanto a utopia do progresso no futuro, inclusive nas arte,
é uma noção com traços a-históricos.
A atual crise pode ser vista como a crise do valor do novo. CIT (p. 104 e
105).
4. Ainda comentando a visão de Gehlen, “CITA” (p. 105).
“Pegas no jogo fantasmagórico (a palavra é adorniana) da sociedade de
mercado e da mídia tecnológica, as artes viveram sem mais nenhuma
máscara metafísica (a busca de um pretenso fundo autêntico da existência)
a experiência do valor do novo como tal – de um modo mais puro e visível
do que as ciências e as técnicas, sempre ainda, em certa medida, ligadas ao
valor de verdade ou ao valor de uso. Nessa experiência, o valor do novo,
radicalmente desvelado, também perdeu qualquer fundamento e
possibilidade de ainda valer. A crise do futuro, que acomete toda a cultura e
a vida social moderna tardia, tem na experiência da arte um seu lugar
privilegiado de expressão. Essa crise, como é óbvio, implica uma mudança
radical no modo de vivenciar a história e o tempo – inclusive a mudança
antecipada obscuramente por Nietzsche na sua ‘doutrina’ do eterno retorno
do igual. Que certas obras ‘epocais’ do século XX – da Recherche proustiana
ao Homem sem qualidades e ao Ulyses e ao Finnegan’s Wake – estejam
concentradas, inclusive quanto ao ‘conteúdo’, no problema do tempo e dos
modos de vivenciar a temporalidade fora da sua linearidade
pretendidamente natural, talvez não seja um fato desprovido de significado”
(p. 105 e 106).
De um modo geral, Vattimo vê todas essas modificações sob uma chave
positiva, que permite vislumbrar esse estado de um novo modo. “Se, desse
modo, a própria noção de revolução artística, tomada nesse jogo de
‘desfundamento’, perder significado, talvez se abra um caminho para um
diálogo do pensamento com a poesia, com vistas ao que, na filosofia
contemporânea, se reapresenta continuamente como o possível, conquanto
problemático, ultrapassamento da metafísica” (p. 106).
Terceira parte: O fim da modernidade
VII. Hermenêutica e niilismo
Aqui, Vattimo busca resgatar a estética de Heidegger e a reencontrar como
“experiência de verdade, precisamente enquanto experiência
substancialmente niilista” (p. 111), para tanto o autor faz uma conexão,
niilista, entre ser e linguagem. Isso é possível pois, em Heidegger, o Ser-aí
(o homem) é a totalidade hermenêutica e “nas obras tardias, o esforço para
definir um pensamento ultrametafísico em termos de An-denken,
rememoração, e, mais especificamente, em termos de relação com a
tradição” (p. 111).
“O primeiro elemento niilista na teoria hermenêutica heideggeriana pode
ser encontrado na sua análise do Ser-aí como totalidade hermenêutica. Ser-
aí, como se sabe, significa essencialmente ser-no-mundo; mas isso, por sua
vez, se articula na tríplice estrutura dos ‘existênciais’, isto é: Befindlichkeit,
Compreensão-Interpretação, Discurso” (p. 112). A compreensão e
interpretação caracterizam o ser-no-mundo, ainda que ele não esteja em
contato com todas as coisas, mas está sempre familiarizado com uma pré-
compreensão, um “contexto referencial” (p. 112), “O Ser-aí existe na forma
de projeto, no qual as coisas só são na medida em que pertencem a esse
projeto, na medida em que têm um sentido nesse contexto. Essa
familiaridade preliminar com o mundo, que se identifica com a própria
existência do Ser-aí, é o que Heidegger chama de compreensão ou pré-
compreensão. Qualquer ato de conhecimento nada mais é que uma
articulação, uma interpretação dessa familiaridade preliminar com o
mundo” (p. 112).
Niilismo e pós-moderno em filosofia
Você também pode gostar
- O Batismo No Espirito Santo PDFDocumento13 páginasO Batismo No Espirito Santo PDFRodrigo100% (1)
- Bibliografia sobre Comunicação SocialDocumento27 páginasBibliografia sobre Comunicação SocialhermanobalbinoAinda não há avaliações
- Apontamentos de EDIFICIOS - Cap. 1 - CONCEPCAO ESTRUTURAL DE EDIFICIOS. ANALISE ESTRUTURAL RevAGO2019Documento47 páginasApontamentos de EDIFICIOS - Cap. 1 - CONCEPCAO ESTRUTURAL DE EDIFICIOS. ANALISE ESTRUTURAL RevAGO2019Arilson Ngoca100% (1)
- Por que avaliar equipamentos de irrigaçãoDocumento41 páginasPor que avaliar equipamentos de irrigaçãoCésar de OliveiraAinda não há avaliações
- José Barata Moura - Filosofia, É Cousa de EscreverDocumento9 páginasJosé Barata Moura - Filosofia, É Cousa de EscreverMaria RibeiroAinda não há avaliações
- Formulário para autorização de namoroDocumento3 páginasFormulário para autorização de namoroMariana Sabó0% (1)
- Heidegger e A Metafísica Da SubjetividadeDocumento16 páginasHeidegger e A Metafísica Da SubjetividadeenescamposAinda não há avaliações
- Nietzsche: perspectivismo, genealogia e transvaloraçãoDocumento5 páginasNietzsche: perspectivismo, genealogia e transvaloraçãoGeraldo Barbosa NetoAinda não há avaliações
- Comunicação e erotismo: O masculino na era digitalNo EverandComunicação e erotismo: O masculino na era digitalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Reflexões sobre o modernismo na pintura e literaturaDocumento8 páginasReflexões sobre o modernismo na pintura e literaturaDumanginAinda não há avaliações
- A Escultura No Campo AmpliadoDocumento10 páginasA Escultura No Campo Ampliadoposedu275% (4)
- O materialismo do encontro em Epicuro e HeideggerDocumento40 páginasO materialismo do encontro em Epicuro e Heideggervladimir_sibyllaAinda não há avaliações
- Kant Antropologia prevalência pragmático sobre conhecimentoDocumento7 páginasKant Antropologia prevalência pragmático sobre conhecimentoCaio SoutoAinda não há avaliações
- Uma abordagem tipológica da poesia visualDocumento176 páginasUma abordagem tipológica da poesia visualhermanobalbino100% (2)
- Memória Coletiva HalbwachsDocumento10 páginasMemória Coletiva HalbwachsMarcello Becrei100% (1)
- Giani VattimoDocumento10 páginasGiani VattimoMiguel MutheliAinda não há avaliações
- A construção estética da subjetividade: diante do abismo de siNo EverandA construção estética da subjetividade: diante do abismo de siAinda não há avaliações
- O PROBLEMA DA METAFÍSICA MODERNADocumento4 páginasO PROBLEMA DA METAFÍSICA MODERNARodrigo SobotaAinda não há avaliações
- A Era da Interpretação: a relação entre hermenêutica e cristianismoDocumento50 páginasA Era da Interpretação: a relação entre hermenêutica e cristianismoAbiru1902Ainda não há avaliações
- Perspectivas comparadas de Nietzsche, Arendt e BenjaminDocumento14 páginasPerspectivas comparadas de Nietzsche, Arendt e BenjaminLeonardo AmatuzziAinda não há avaliações
- O Sujeito e a Norma na Sociedade BurguesaDocumento15 páginasO Sujeito e a Norma na Sociedade BurguesaBruno Abilio Galvão100% (1)
- Fichamento Etica e SociabilidadeDocumento5 páginasFichamento Etica e SociabilidadeJoão HenriqueAinda não há avaliações
- Nietzsche e Sua Crítica À Unidade Metafísica Do SujeitoDocumento13 páginasNietzsche e Sua Crítica À Unidade Metafísica Do SujeitoroniregoAinda não há avaliações
- O componente pragmatista no perspectivismo nietzschianoDocumento17 páginasO componente pragmatista no perspectivismo nietzschianoGeorge Browne RegoAinda não há avaliações
- Fichamento O Conflito Das InterpretaçõesDocumento38 páginasFichamento O Conflito Das InterpretaçõesBianca SilvaAinda não há avaliações
- O Conceito de Dialética em Lukács (István Mészáros) (Z-Lib - Org) - 100-105Documento6 páginasO Conceito de Dialética em Lukács (István Mészáros) (Z-Lib - Org) - 100-105JoseAinda não há avaliações
- Princípio de Imanência e Ateísmo ModernoDocumento3 páginasPrincípio de Imanência e Ateísmo ModernoBrunodeSouzaAinda não há avaliações
- Nietzsche e a transmutação dos valoresDocumento4 páginasNietzsche e a transmutação dos valoresRone SantosAinda não há avaliações
- Nietzsche: Pathos artístico versus consciência moralNo EverandNietzsche: Pathos artístico versus consciência moralAinda não há avaliações
- Diálogo e polifonia no conhecimento medieval e cartesianoDocumento3 páginasDiálogo e polifonia no conhecimento medieval e cartesianomuramoto_deboraAinda não há avaliações
- Eliseu Agostinho - Resumo-Filosofia Da História - Ngoenha S. Duas Interpretações Filosóficas Da História Do Século XVIIDocumento7 páginasEliseu Agostinho - Resumo-Filosofia Da História - Ngoenha S. Duas Interpretações Filosóficas Da História Do Século XVIIManuela Eguiberto Agostinho100% (2)
- Esperança EscatológicaDocumento8 páginasEsperança EscatológicaNivaldo VargasAinda não há avaliações
- Estruturalismo e PósDocumento7 páginasEstruturalismo e PósCleyton J FerreiraAinda não há avaliações
- 11567-Texto do Artigo-40362-40461-10-20240220Documento5 páginas11567-Texto do Artigo-40362-40461-10-20240220Ricardo Júnior Corrêa de AlmeidaAinda não há avaliações
- A Questão Da Aparência em Hannah Arendt PDFDocumento16 páginasA Questão Da Aparência em Hannah Arendt PDFDanielle Santiago da Silva VarelaAinda não há avaliações
- GOMES - Wilson Poetica - Do.cinemaDocumento71 páginasGOMES - Wilson Poetica - Do.cinemaCarol AlvesAinda não há avaliações
- Um Olhar Sobre o Perspectivismo de Nietzsche e o Pensamento TrágicoDocumento19 páginasUm Olhar Sobre o Perspectivismo de Nietzsche e o Pensamento TrágicoTúlio Madson GalvãoAinda não há avaliações
- Resenha Tonet - Método Científico, abordagem ontológicaDocumento4 páginasResenha Tonet - Método Científico, abordagem ontológicaGuilherme Augusto FernandesAinda não há avaliações
- A Corrente Subterrânea Do Materialismo Do EncontroDocumento41 páginasA Corrente Subterrânea Do Materialismo Do EncontroCláudio RennóAinda não há avaliações
- Aula Cof 171#marxismoDocumento14 páginasAula Cof 171#marxismoDiego VillelaAinda não há avaliações
- 03.2023.crise e Critica Subvertendo o Solo AsperoDocumento41 páginas03.2023.crise e Critica Subvertendo o Solo AsperoCássia SiqueiraAinda não há avaliações
- A Temporalidade Na Cultura Contemporânea - A TERRA É REDONDADocumento20 páginasA Temporalidade Na Cultura Contemporânea - A TERRA É REDONDALuís AndréAinda não há avaliações
- A filosofia como sintoma da relação entre linguagem e realidadeDocumento6 páginasA filosofia como sintoma da relação entre linguagem e realidadeBrenda Korczagin HernandesAinda não há avaliações
- O Caminho Da PósmodernidadeDocumento10 páginasO Caminho Da PósmodernidadeRodrigo SantosAinda não há avaliações
- O Pensamento de Nietzsche E A Educação - Multiplicar As Perspectivas para O Aprender A VerDocumento9 páginasO Pensamento de Nietzsche E A Educação - Multiplicar As Perspectivas para O Aprender A VerJoão ViniciusAinda não há avaliações
- As Consequências Éticas do Pensamento de SchellingDocumento11 páginasAs Consequências Éticas do Pensamento de SchellingSuellen GodoiAinda não há avaliações
- O realismo hermenêutico reformado contra o ceticismo pós-modernoDocumento12 páginasO realismo hermenêutico reformado contra o ceticismo pós-modernoSeth SethAinda não há avaliações
- Ética e Pós-Modernidade segundo BarattaDocumento6 páginasÉtica e Pós-Modernidade segundo BarattaMarry FerreiraAinda não há avaliações
- Thiago Pereira Camargo Comelli - Aula 07 - 21 - 09 - Nietzsche - Os Aspectos HistóricosDocumento8 páginasThiago Pereira Camargo Comelli - Aula 07 - 21 - 09 - Nietzsche - Os Aspectos HistóricosThiago ComelliAinda não há avaliações
- outDocumento9 páginasoutJtech RodriguesAinda não há avaliações
- Invariantes Oxiologicas - Miguel Reale PDFDocumento14 páginasInvariantes Oxiologicas - Miguel Reale PDFprdfelixAinda não há avaliações
- A verdade como ficção em NietzscheDocumento10 páginasA verdade como ficção em NietzscheFelício SobralAinda não há avaliações
- HUMANO DEMASIADO HUMANODocumento5 páginasHUMANO DEMASIADO HUMANOAlessandra SantosAinda não há avaliações
- IDEALISMO ALEMÃO KANT, HEGEL E MARXDocumento2 páginasIDEALISMO ALEMÃO KANT, HEGEL E MARXLETICIA MENDES SOARESAinda não há avaliações
- A modernidade na arquitetura latino-americanaDocumento6 páginasA modernidade na arquitetura latino-americanaMelissa ScheidAinda não há avaliações
- Texto 3Documento10 páginasTexto 3Daniel SilvaAinda não há avaliações
- Art - Nietzsche e TurguênievDocumento12 páginasArt - Nietzsche e TurguênievMarcos CarvalhoAinda não há avaliações
- György Lukács - Alienação (Para Uma Ontologia Do Ser Social)Documento101 páginasGyörgy Lukács - Alienação (Para Uma Ontologia Do Ser Social)api-3796837100% (2)
- Para Uma Fenomenologia Do Ser Si-Mesmo e Do Ser-Com-O-OutroDocumento88 páginasPara Uma Fenomenologia Do Ser Si-Mesmo e Do Ser-Com-O-OutroFrei Hermógenes Harada100% (2)
- Dialética Das Consciências (Vicente Ferreira Da Silva)Documento37 páginasDialética Das Consciências (Vicente Ferreira Da Silva)alexandre.girardiAinda não há avaliações
- Os Nossos Antepassados, de Italo Calvino, Como Alegoria Do Sujeito ModernoDocumento9 páginasOs Nossos Antepassados, de Italo Calvino, Como Alegoria Do Sujeito ModernoByron VelezAinda não há avaliações
- Apresentação sobre os dois nascimentos do homemDocumento5 páginasApresentação sobre os dois nascimentos do homemAna CastroAinda não há avaliações
- Verdade em Nietzsche e Rorty - Filosofia PolíticaDocumento16 páginasVerdade em Nietzsche e Rorty - Filosofia PolíticaJairo RochaAinda não há avaliações
- Matematica Ens - FundDocumento216 páginasMatematica Ens - FundLelehh-doorsAinda não há avaliações
- A Contemplacao Do MundoDocumento4 páginasA Contemplacao Do MundohermanobalbinoAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Plano de Negócios - Guia de StartupsDocumento3 páginasComo Fazer Um Plano de Negócios - Guia de StartupshermanobalbinoAinda não há avaliações
- PATROCÍNIOS CULTURAIS INCENTIVADOS - Oi FuturoDocumento168 páginasPATROCÍNIOS CULTURAIS INCENTIVADOS - Oi FuturohermanobalbinoAinda não há avaliações
- Análise de retorno em comunicação institucionalDocumento179 páginasAnálise de retorno em comunicação institucionalhermanobalbinoAinda não há avaliações
- SpinozaDocumento1 páginaSpinozahermanobalbinoAinda não há avaliações
- CE Brasil Ed. 2Documento52 páginasCE Brasil Ed. 2hermanobalbinoAinda não há avaliações
- 1600 4516 1 PBDocumento7 páginas1600 4516 1 PBhermanobalbino100% (1)
- Conselho de Comunicacao Social - Lei 8389-91Documento2 páginasConselho de Comunicacao Social - Lei 8389-91hermanobalbinoAinda não há avaliações
- VALOR - Política É Teatro, Mas Não FicçãoDocumento2 páginasVALOR - Política É Teatro, Mas Não FicçãohermanobalbinoAinda não há avaliações
- Burke ArtedaconversacaoDocumento21 páginasBurke ArtedaconversacaohermanobalbinoAinda não há avaliações
- Análise de retorno em comunicação institucionalDocumento179 páginasAnálise de retorno em comunicação institucionalhermanobalbinoAinda não há avaliações
- Tese Humberto Dantas MizucaDocumento0 páginaTese Humberto Dantas MizucahermanobalbinoAinda não há avaliações
- Tempos Liquid OsDocumento7 páginasTempos Liquid OsmaikostefanAinda não há avaliações
- Analise Das Estratagias de Marketing Polatico Adotada No Municapio de Lagoa de Dentro PB 1343396938Documento26 páginasAnalise Das Estratagias de Marketing Polatico Adotada No Municapio de Lagoa de Dentro PB 1343396938hermanobalbinoAinda não há avaliações
- Investidor WebDocumento48 páginasInvestidor WebVanessa BelémAinda não há avaliações
- Incentivos fiscais culturais SPDocumento59 páginasIncentivos fiscais culturais SPhermanobalbinoAinda não há avaliações
- Experimentações em Cultura, Educação e CidadaniaDocumento136 páginasExperimentações em Cultura, Educação e CidadaniahermanobalbinoAinda não há avaliações
- Ceuma Imagem4Documento7 páginasCeuma Imagem4hermanobalbinoAinda não há avaliações
- Do SentirDocumento32 páginasDo Sentirhermanobalbino100% (1)
- Premiofestartescenicas 2010 EditalDocumento4 páginasPremiofestartescenicas 2010 EditalhermanobalbinoAinda não há avaliações
- Guia Off SP 160 WebDocumento56 páginasGuia Off SP 160 WebhermanobalbinoAinda não há avaliações
- Dispositivos Por Anne-MarieDuguet in Trans Cinemas, 2009Documento12 páginasDispositivos Por Anne-MarieDuguet in Trans Cinemas, 2009hermanobalbinoAinda não há avaliações
- Edital 2010 ProextDocumento15 páginasEdital 2010 ProexthermanobalbinoAinda não há avaliações
- Aos Estudantes de Arte (Oscar Wild)Documento2 páginasAos Estudantes de Arte (Oscar Wild)hermanobalbinoAinda não há avaliações
- Frase, Oração e PeríodoDocumento3 páginasFrase, Oração e PeríodoThaynã MillenaAinda não há avaliações
- Instructions For Use Otoread BRPTDocumento71 páginasInstructions For Use Otoread BRPTKarine Duarte JustinoAinda não há avaliações
- Teste Global 3.º Período (Prova Escrita de Biologia e Geologia) - Proposta de ResoluçãoDocumento2 páginasTeste Global 3.º Período (Prova Escrita de Biologia e Geologia) - Proposta de ResoluçãoArmindaAinda não há avaliações
- WEG Srw01 Els Sensor de Fuga A Terra 10000529296 Guia de Instalacao Portugues BRDocumento32 páginasWEG Srw01 Els Sensor de Fuga A Terra 10000529296 Guia de Instalacao Portugues BRDavid PalhanoAinda não há avaliações
- Modelo Carta Anuencia RSMGDocumento2 páginasModelo Carta Anuencia RSMGbidacasartelAinda não há avaliações
- Magda - LiteraturaDocumento2 páginasMagda - LiteraturaCarolina Rossi EtoAinda não há avaliações
- Histórico Escolar: Alessandra Diana Luz Zilli Nome AlunoDocumento11 páginasHistórico Escolar: Alessandra Diana Luz Zilli Nome AlunoadlzilliAinda não há avaliações
- AVANÇADO TREINO 4xDocumento3 páginasAVANÇADO TREINO 4xRaquel SantosAinda não há avaliações
- Cap para Ensino Parte 1Documento14 páginasCap para Ensino Parte 1Luiz César Martins100% (1)
- Exp 1 Wireshark IntroDocumento9 páginasExp 1 Wireshark Introgihrocha88Ainda não há avaliações
- Aula 1 - Pei Ii 1.2 - 2022.2Documento18 páginasAula 1 - Pei Ii 1.2 - 2022.2harlley sanAinda não há avaliações
- Poder Executivo: Iário FicialDocumento152 páginasPoder Executivo: Iário FicialRaul Tavares CecattoAinda não há avaliações
- Sexual I DadeDocumento2 páginasSexual I DadeAntonio Viegas SilvaAinda não há avaliações
- Acolhendo Jesus na Nova LeiDocumento4 páginasAcolhendo Jesus na Nova LeiCarlos SilvaAinda não há avaliações
- O modelo francês de fomento ao cinemaDocumento10 páginasO modelo francês de fomento ao cinemaGil VicenteAinda não há avaliações
- Escolha múltipla sobre forças gravitacionaisDocumento1 páginaEscolha múltipla sobre forças gravitacionaissergiopcm8997Ainda não há avaliações
- Tipos de releases paraDocumento10 páginasTipos de releases paraPatricia LemosAinda não há avaliações
- Resenha do livro Novas maneiras de ensinar novas formas de aprenderDocumento3 páginasResenha do livro Novas maneiras de ensinar novas formas de aprenderFelipeMathiasAinda não há avaliações
- Visual Novel evoluçãoDocumento10 páginasVisual Novel evoluçãoLincolnAinda não há avaliações
- Violência contra Mulher e InformaçãoDocumento27 páginasViolência contra Mulher e InformaçãoDaniele CristineAinda não há avaliações
- Clique Aqui para Realizar A Atividade de Estudo 02 - Prazo Final - 10-01-2024 - Revisão Da TentativaDocumento7 páginasClique Aqui para Realizar A Atividade de Estudo 02 - Prazo Final - 10-01-2024 - Revisão Da TentativaMax Rocha100% (1)
- Diretrizes Brasileiras para o - Diagnóstico de Fibrose CísticaDocumento27 páginasDiretrizes Brasileiras para o - Diagnóstico de Fibrose CísticaJosé Elias BarrosAinda não há avaliações
- 10 - Tipos de DiscursoDocumento7 páginas10 - Tipos de DiscursoEdson EmidioAinda não há avaliações
- Cristais de Cura e ProtecaoDocumento8 páginasCristais de Cura e ProtecaoanagrazielaAinda não há avaliações
- Prova do Teorema da Compacidade para Lógica ProposicionalDocumento7 páginasProva do Teorema da Compacidade para Lógica Proposicionaldaniel.lavieri4868Ainda não há avaliações
- Obtenção de aguardente de suco de laranjaDocumento4 páginasObtenção de aguardente de suco de laranjaKerolinKupskiAinda não há avaliações