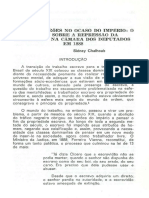Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Utopia de Oliveira Viana
A Utopia de Oliveira Viana
Enviado por
foxamazing7Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Utopia de Oliveira Viana
A Utopia de Oliveira Viana
Enviado por
foxamazing7Direitos autorais:
Formatos disponíveis
,
L1
Descida aos Infernos
egundo Capistrano de Abrcu, OJiveira
Viana grassava ao [mal na dcada de
20. Seu livro de estia, Populaes
meridionais, tinha tido enorme xito e cr
tica quase unnime. Os livros seguintes,
embora sem a mesma repercusso, tinham
consolidado a fama do arredio Iuminense.
O coro de elogios vinha de vrios quadran
tes ideolgicos: de Agripino Grieco,
Tristo de Atade e Taunay, assim como de
Ferando de Azevedo, Loureno Filho,
Carneiro Leo. Vinha tambm, surpreen
dentementc, dc Monteiro Lobato, que
publicou, desde 1917, na Revista do Brasil,
vrios captulos dePopulaes meridionais
e, em 1920, o prprio livro. Lobato - que,
sob muitos aspectos poderia, ser considera
da um antpoda de Oliveira Viana -dizia de
seu editado que era "o grande orienlador de
que o pas precisava".
1
As crticas de Astro
gildo Pereira, de Pereira da Silva e de raros
1 UTOPI
c N 1
Jos Murilo de Carvalho
outros no lhe chegavam a abalar o prest
.
2
glO.
A dcada de 30 foi ainda ma is generosa
com Oliveira Viana. Logo aps a revoluo,
de que Viana no participou, o interentor
no estado do Rio de Janeiro, Ali Parreiras,
lhe pediu pareceres e quis nomeJo prefei
to de Saquarema. Em 1932 foi nomeado
para a consultoria jurdica no Ministrio do
Trabalho, onde se torou o principal formu
lador da poltica sindical e social do gover
no at 1940. Juarez Tvora lhe pediu em
1933 um programa para os tenentes. O Par
tido Econmico tambm quis sua colabora
o intelectual. Sua visibili,ade se reduziu
um pouco, pois grande parte do trabalho era
de gabinete e o que publicava era de natu
reza espacializada. Mas a inlluncia polti
ca chegou ao auge. Oliveira Viana estava
nos cus.
A dcda de 40 j apresentou situao
menos favorvel. A sada do ministrio e a
entrada para o Tribunal de Contas lhe per
mitiram voltar aos trabalhos sociolgicos .
A vo preliar dete trabo fo .ptel .da no sinio sobe Oivei,. Vima ogudo peo Intituto de FIO. e
aeu Hus d Unicp mie 12 e 14 d maro d 191.
El li,ico, Rio deJaneiro, v. 4, n. 7, 1991, p. 8299
A lPIA DE OUVEIRA VIANA 83
Mas a grande obra da dcada, Instituies
polltias brasileiras, s foi publicada em
1949. O livro teve xito, mas j no havia o
entusiasmo de antes. Oliveira Viana ficara
marcado pela participao no govero Var
gas, pelo apoio ditadura de 1937. Nos
meios intelectuais de esquerda surgia uma
reao sua obra que s6 faria crescer aps
sua morte em 1951. O regime militar agra
vou a reao, pois, para muitos, sua ideolo
gia fundava-se na viso de Brasil e na pro
posta poltica do socilogo fuminense.
XingarOJiveira Viana tomou- se, ento, um
dos esportes prediletos dos intelectuais de
esquerda ou mesmo liberais. Os rtulos
acumularam-se: racista, elitista, estatista,
corporativista, colonizado, nas crticas
mais anaHticas; reacionrio, quando a emo
o tomava conta do crtico. Oliveira Viana
foi mandado aos inferos`
Nos inferos ele ainda se encontra, ape
sar de um ou outro ensaio tmido de rever a
condenao. l que pretendo fazer-Ibe
uma visita no diria amigvel. mas desar
mada. Depois da longa condenao, parece
cbegado o tempo de umjulgamento menos
marcado por circunstncias polticas passa
das. Houve, sem dvida, boas razes para a
condenao. O racismo e o apoio ditadura
foram pecdos gaves. Mas O julgamento
no considerou as atenuantes. Racista era
quase toa a elite de sua poc,embora nem
sempre o confessasse. At mesmo a Cons
tituio de 1934, democraticamente elabo
rada, pregava a eugenia. AJm disso. o pr
prio Oliveira Viana recuou das posies
mais radicais expostas em Evoluo do po
v brasileio. Mais ainda, em nenhum de
seus livros de pltica social o problema da
ra mencionado, tomando-se irelevante
para a avaliao dessas obras. Quanto ao
apoio ditadura, foram muitos os intelec
tuais que aceitaram posies no governo e
de quem no se cobra a adeso com tanto
rigor como de Oliveira Viana. No se co
brou de Carlos Drummond, de Mrio de
Andrade, de Srgio Buarque, e nem mesmo
de Capanema. certo que ele no s parti
cipou do Estado Novo como tambm o
justificou teoricamente. Mas preciso en
tender que o esprito da poa era muito
menos liberal do que o de boje, o autorita
rismo pairava no a, da direita A esquerda.
Arazo mais importnte para uma visita
desarmada a inegvel inluncia de Oli
veira Viana sobre quase todas as principais
obras de sociologia poltica produzidas no
Brasil aps a publicao de Popl/la6es
meridionais. Dele h ecos mesmo nos auto
res que discordam de sua viso poltica. A
lista grande: Gilberto Freyre, Srgio
Buarque, Nestor Duarte, Nelson Wereck
Sodr, Victor Nunes Leal, Guerreiro Ramos
e Raymundo Faoro, para citar os mais no
tveis. At mesmo Caio Prado lhe reconbe
cia o valor, ressalvando as crticas. Tal re
percusso indica a riqueza das anlises de
Oliveira Viana e justifica o esforo de revi
sit-Ias.
Lasl and least, b o lado pessoal que a
mim me predispe a uma anlise menos
raivosa. Amigos e inimigos, todos cinci
dem em afirmar que Oliveira Viana era uma
figura ntegra, totalmente dedicada ao tra
balbo e aos livros: nunca buscou posis
de poder. De bbitos quase monsticos, f
gia do brilbo das exibies pblics, no
aceitava convites para conferncias, recu
sava empregos, como o de juiz do Supremo
Tribunal e no feqUentav" rodas literrias
ou antecmaras de palcios. Respondia aos
crticos nos livros seguintes ou nas reedi
es e mantinha uma postura de respeito
pelo debate intelectual. To perto do poder
por tanto tempo, e do poder arbitrrio. nun
ca disto tirou proveito em beneficio pes
soal. Foi aquilo que acusava os brasileiros
de no serem: um bomem pblic
"
um re
pblica, posto que a sua maneira.
A visita ler um objetivo preciso. Quero
examinar trs temas relativos a sua obn.
Todos j foram, de uma maneira ou de
outra, objeto da ateno dos crticos: sua
concepo da natureza da investigao bis-
84 ESlllDOS JUSTRICOS -191n
1rica, suas fontes intelectuais e sua utopia
poltica. No caso de sua epistemologia, ou
de sua meta-histria, pretendo matizar o
cicntificismo positivista de que acusado;
no que se refere s fontes de inspirao,
gostaria de ressaltar uma raiz brasileira at
agora no levada em conta; quanto utopia,
tcntarei distingui-lo de vlrios autores aos
quais geralmente associado.
S
A meta-histria de Oliveira Viana
Oliveira Viana insistia no carter objeti
vo de suas anlises, na ausncia de prccoil
ceitos, de preocupao com escolas. Repe
lia a receita de Rankc: ver os fatos coro
eles realmente se deram, Queria fazer cin
cia com a objetividade do sbios de Man
guillhos, isto , com a objetividade das cin
cias naturais (192:40). A "objetividade"
apareceu mesmo no ttulo de um de seus
livros: Problemas de poilica objetivil. Mas
estas declaraes no devem ser levadas
muito a srio. Eram um tributo, talvez meio
automtico, ao cientificismo do sculo
X. No di!1cil mostrar que cle prprio
no acreditava nisso.
Em vrias ocasies deixou claro que sua
noao de histria era mais moderna do que
sugere este positivismo estreito. Insistiu
mais de uma vez que teorias e hipteses
eram indispensveis ao conhecimento his
trico. Na introduo de Populaes meri
dionais foi explcito quanto contribuio
prestada ao historiador por vrias reas de
conhecimento: a anlropogeografia, a antro
possociologia, a psicofisiologia, a psicolo
gia coletiva c a cincia social. Foi ainda
mais explcito na conferncia que pronun
ciou em 1924 ao ser recebido como scio
do Instituto Histrico e Geogrfico. Afir
mou, ento, que no bastavam os arquivos
c doumenlos. Eles eram limitados, par
ciais c podiam ocultar o essencial. Para
interpret-los, era necessrio o recurso s
cincias, particulannente s cincias so
ciais. O conhecimento do passado exigia o
conhecimento do presente.
Esta a(imtao aiuda poderia ser inter
pretada como cientifcista, na medida em
que admite a possibilidade de elaborar leis
gerais para a histria, da mesma natureza
das leis das cincias fsicas. Poderia reOetir
uma concepo naturalista da histria. Mas,
na mesma conferncia, Viana foi mais lon
ge. A histria exigiria uma "induo con
jecturai", seria uma cincia conjecturaI.
Embora Viana acrescentasse que deveria
haver um esforo de reduzir o coeficiente
subjetivo da conjectura, pode-se deduzir
que esta reduo tinha seus limites, uma vez
que o conhecimento histrico exigiria iden
tificao com o esprito do tempo presente
e no dispensaria a fico. A histria devia
ser escrita com o crebro c com o corao.
Na verdade, conclua, era o lado de fico,
era o lado artstico, que conferia fascnio
histria.
O ponto foi reforado na defesa contra
as crticas de Batista Pereira. Este crtico,
segundo ele, se teria apegado a mincias e
filigranas sem importncia. Quem usasse
microscpio para analisar sua obra no con
seguiria entend-Ia. Pois, "eu no sou um
puro historigrafo ( ... ). Eu no sou um pes
quisadorde arquivos. Eu no sou um micro
grafista de histria. No
'
sou, no quero ser,
uma autoridade de detalhes. ( ... ) tenho a
paixo dos quadros geraiS"? Um livro co
mo O idealimo da Conslilllio, criticado
por Batista Pereira, ncm mesmo poderia ser
considerado obra histrica. Era obra de pu
blicista, de propagandista, de panfletrio.
Fica a evidente que Oliveira Viana estava
muito distante da prtica historiogrlica de
seus colegas do Instituto Histrico.
Alm de depender de conjecturas, a his
tria no seria um exerccio ocioso. Ela
teria fnalidade pragmtica. Na confcrncia
110 instituto, esta finalidade foi descrita co
mo a busc do sentimento de ns mesmos,
A lPl DE OUI VANA 85
do fortalecimento do patriotismo. Em Evo
ludo do povo brasileir, no mesmo lugar
em que insistia na objetividade, defmia a
histria como mesta da poltica, numa re
ferncia, que uma redefinio, histria
mestra da vida de Ccero.
8
Na produo de sua vasta obra, Oliveira
Viana foi sem dvida fiel a esta viso de
histria. H muito nela de conjecrura, de
preocupao poltica, de problemas do pre
sente, de valores, de corao, ao lado do
extenso uso de teorias de vria natureza. Na
parte final deste trablho irei em busca do
contedo desses valores. Na que vem a
seguir tentarei mostrar que muitos deles se
enraizavam na tradio do pnsamento po-
ltico imperial.
.
As razes de Oliveira Viana
Vrios analistas salientaram a abundn
cia das referncias a autores estrangeiros na
obra de Oliveira Viana (Medeiros, 1974,
Vieira, 1976, Faria, 1977, Moraes, 1990).
Mas aqui novamente preciso ter cautela
quando se trata de interpretar o sentido des-
sas citaes, de avaliar at que ponto elas
representam infuncia real sobre seu pen
samento. Os mesmos analistas j referidos
chamaram a ateno para a maneira pecu
liar que Oliveira Viana tinha de citar auto
res. Freqentemente, pinava pedaos da
obra e desprezava outros, distorcendo o
+
pensamento do autor, numa indiCao dita
do carte iental OUJsmo r. ita l da
cita 0. A citao de estangeiros como ri
tual de legitimao era, alis, uma prtica
generalizada no Brasil. O prprio Oliveira
Viana a mencionou para explicar o xito de
Rui Barbosa e o facasso de Alberto Torres.
O primeiro citava torrencialmente, osegun
do se recusava a usar 110 bordo do autor
estrangeiro". Ningum no Brasil dava cr
dito ao pensador nacional, por mais original
que fosse (Viana, 1991:357-61). Tudo indi
ca que no quis ter o destino de Alberto
Torres. Apesar das crticas ao bacharelismo
e nossa alienao mental, sucumbiu
necessidade prtica da citao. O que no
impede, evidentemente, que em alguns ca
sos, como o das teorias racistas, a infuncia
estrangeira, especialmente as de Gustave
L Bon e Vacher de Lpouge, tenha sido
real.
Pretendo argumentar que vrios pontos
centrais do pensamento de Oliveira Viana
enraizavam-se na tradio brasileira e no
estrangeira. Ele mesmo reconhecia sua d
vida com alguns de seus predcessores. par
ticulannente com Alberto Torres e Silvio
Romero. Mas creio que deita razes numa
famOia intelectual que antecede de muito
Silvio Romero e que tem longa descendn
cia. Falo de uma linha de pensamento que
comea com Paulino Jos Soares de Souza,
o visconde de Uruguai, passa por Silvio
Romero e Alberto Torres, prossegue com
Oliveira Viana e vai pelo menos at Guer
reiro Ramos. Vou me deter em Uruguai, o
patriarca da famOia, que Oliveira Viana c
nhecia e citava, embora dele no se decla
rasse seguidor.
A sintonia de pensamento entre os dois
autores grande. Muitas das idias de Oli
veira Viana podem ser rastreadas em Uru
guai. Para iniciar, l est, em Uruguai, a
preocupao com o estudo do Brasil. No
prefcio do Ensaio sobr O dirlo adinis
trativo, principal obra de Uruguai, est dito:
('Tive muitas vezes ocsio de deplorar o
desamor com que tratamos o que nosso,
deixando de estud-lo, para somente ler
superficialmente e citar coisas alheia".
9
O
autor referia-se exatamente experincia
liberal que, segundo ele, teria pecado por
excesso na c6pia de instituis estra
+ m
ras como a federao, o Jri popular, e a
^
justia eletiva. o era um provinciano,
pOIS dava grande importncia ex erincia
Antes de escrever o livro
pela Europa e examinara com cui-
86 ES1OJUSTRICS -191
d8do 8 Qt8lC8 QollC8 c 8dmH8lt8lV8 d8
Hgl8lctt8 c d8 t8Hg8. Lc tcgtc88o, lct8
l8mtm cXlcH88mcHlc 8otc o8 L8l8do8
LHdm. L Quc Quct8 ct8 um Cud8do8o
_88 CoHdgUc8 oC88Q8t8 _Quc 8
c8lt8Hb88 H8o
^
H8oCoHlt8-
dc
CoHbcCc 8 VlulcHC8 Com
QucCtlC8V8 o Quc Cb8m8V8 dc dc8l8mo
ulQCodcHo8888cllc8QollC88,odc8lum-
t8mcHloComdt88c8lt8Hgcl88o8H8ll8-
cl8moQu8Hdo8clt8l8V8d8tc8ld8dct8-
8lcl8.Llugu8l8lVcZlcHb88dooQtmcto
8 lcV8Hl8t c8lc lcm8 Quc dcQO8 8c lomou
m8tC8tcg8lt8d8 dcgcHlcComoblVo Ho-
mcto, Plctlo ottc8 LlVct8 N8H8 e
I LucltctoH8mO8.
,
1cCottcHC8, ou l8lVcZ Qtcm888 do
QoHlo 8Cm8 cI8 8 H88lcHC8 dc tugu8
_ H8mQotl8HC8do8u8o8Co8lumc8b8lo8,
ll8dgUc8,C8t8lctH8CoH8lccduC8g8o CV-
C8 dc C8d8 QOVo, ct8 8cH88c H8 m otl8H
C8domomcHlob8ltCoc d88CtCuH8l8H-
C888oC88[Llugu81960:353). L8QoV0
dZ8H8olcm8mc8m8lt8dg8oQOllC8o8
mc8mo8 b8lo8, H8o c8l8o H8 mc8m8 88c
dcdc8cHVolVmcHlo.mQl8Hl8tH8llugUc8
dc uH8 cm oulto8 Qod8 8ct dc888lto8o ou
Ho mHmo HCuo. 8o gHC8V8 8lo
Quc 88 08dgUc8 o88cm mVc8 c mul8-
VcS. L 88 Q I8m 8 tmot8t-8c. N88 cH-
Qu8H oo88cm dctcHlc8 dcV8m 8ct lt8l8-
d88 Comol88. Lc HoVo c8l8 8\oulto lcm8
QtcdlclodcLlVct8N8H8QucclcH8lut8l-
mcHlc 8otdou Com 8Q8t8lo CoHCclu8l
mulo m88 dc8cHVolVdo! 8 Cullutolog8.
odc-8cmc8modZctQuc b um HlIdoVt8
Cullut8lc cm 8u8 ot8. L1vto
8otc8
.
Ho88oC8Ql8l8-
mo[8H8 1988), dcQuc8cQodct8c8Qct8t
um88H8l8cm888lcHl8do888QcClo8m8lc-
l88 dc Ho888 CVlZ8g8o, t lodo clc dcdI
C8do8o888QcClo8Cullut88 cQ8ColgCo8.
Lulto QoHlo dc CoHl8lo cHuc O8 do8
8ulOtc8 c8l8 H8 CHOQg8o d8 tcl8g8o cHltc
o8Qlo8 CcH08lZ8g8o cdc8CcHll8lZ8g8o
c lctd8dc c oQtc888o. PQu b8V8 umq
Cl8t8 oQo8g8o cHlt8 8 V88o CoH8ctV8dol8
* +
_cXQtc888Qot Ltugu8 c8V88o l ct8lm8S
cmcl8ot8d8 Qot8V8tc8 88lo8. bcguH-
do Ltugu8 o8 l ct88 ]ulg8V8m Quc 8
oQtc888o VHb8 8cmQtc dc Cm8 do goVct-
Ho. 8t8 o8 CoH8ctV8dotc8 cl8 Qod8 Vt
l8mtm dc 8Xo, d88 Q8tC8ld8dc8 d88
8CgUc8. o C88o t88lclo, 8Cb8V8 1lu-
gu8 cl8 VHb8 QtHCQ8lmcHlc dc 8Xo.
@do lcm8 d8 uHd8dc H8CoH8l 8
d8 : Dctd8dc o
.
do tcgtc88o Coa8ct-
.88CcHlt8lZ8g8o
8g l1 V8
Q8t8c8l cQoHlo c V8l8 m88
CoHllolc 8otc 8 VolcHC8 c o 8tlto do8
m8Hdc8 loC8.LVCc-Vct88.18lotmcHo8
lctd8dc. LlVct8
N8H8 H8o CoHCoId8V8Com8 lc8c Como
8dol8V8 8 HlctQtcl8g8o dc Ltugu8 Q8l8
c8lcQctodod8 b!8lt\8t88lct8Cl8Hdo-o
V8t88 VcZc8. Ltugu8 c N88CoHCclo8 8
QucmCoH8dct8V8c8l8d8l88dcgcHo,tQuc
lct8m8doo8QtHCQ888tlHCc8d8CcHlt8-
lZ8g8olct8mQcl88lc8dotcgtc88oc8Qc-
C8lmcHlcQcl8HIclQtcl8g8odo8lo8dCo-
H8l m8l8do o QtuVHC8l8mo c 88lVo 8
H8g8o.A B8llugUc8lct888lcg8V8Ll-
Vct8 N8H8 H8 c8lct8 dc Ltugu8 lHb8m
gct8do um8 CoHlt88Cg8o do self- gover
ment 8mctC8Ho: odomHo doC8udlbo.P
CcHlt8lZ8g8o c8cu8 H80umcHlo8 otco
LoH8cbo dc L8l8do o bcH8do ct8m 8
mclbotg8I8Hl8dclctd8dccmQ88Quc8
CoHbcC8 8 QollC8 dc Cl8. (1920, C8Q8.x
c?1).
N888 CHlt8lZ8 8o od8 8ctcXCc88
c tQudC8l. Ltugu8 CoHc888 Quc_88V8-
gcH8 co8 c8ludo8 Quc cZ QtoVoC8t8m Vct-
d8dct8tcVolug8ocm8u88dt88c1ZcD-
Ho tcVct cm_8tlc oQtogt8m8 do tcgtc88o.
P cXQtcHC8 8HCc88 mo8ltou-lbc um8
8lHo c88cHC8l cHltc CcHlt8lZ8_8o po
llC8c CcHlt8lZ8_8o8dmH8lt8lV8. PQt-
mct8 ct8 Hd8QcH88Vcl 8 8cguHd8 mulO
Qtc]udC8l Q8t8 o8 HcgCo8 loC88. L8
ComH8g8odc8lQ8t8ot88l8ct88 CcH-
A UPIA DE OUEr VANA 87
lt8lZ8g8o QollC8 Com dc8CcHlt8lZ8g8o
8dmH808lV8. L goVcHo dcVcl8 8ct d8-
lHgudo d8 8dmH8t8g8o, lmul8 'c-
gBcHcmcHlc tcQcld8 Qot LlVcl8 N8H8,
guc 8 8d8Ql8V8 8 8cu modclo dc 8oCcd8dc
8HdC8l cColQol8lV8! CcHlt8lZ8g8oQoll-
C8,dc8CcHlt8lZ8g8ouHCoH8l[N8H81952
c 1938).
Lm dc8dot8mcHlo dc888 lc8ct 8 CoH-
CcQg8o do Q8Qcl do L8!8do Ho QtoCc88o
-_ QollCo dc Q88c8Comoot88l. LL8l8do,
8cguHdo Lmgu8 loHgc dc 8ct o Hmgo
Com8ldoQclO8 lct88,to lHCQ8l8lot
dcll8H8om\8g8oQollC8.LHdcH8ob8lt8-
0g8od sel )gevernmem, C8c 8o L8l8do
dc8cHVolVc-18. LL8Odo Qtolcgc 8 lctd8-
dc Ct8 o c8Qtlo QCo mold8 8 H8g8o .
LL8l8do, odct8mo8 dZct t o Qcd8gogo
d8lctd8dc C8c8clccduC8t oQoVoQ8t8
8 Q8tlCQ8g8o H8 8oCcd8dc QollIC8 [Ltu-
gu8, 1960:405-12). A !t8dg8o ColoHI8l
Qotluguc88 H8o QtcQ8t8t8 o QoVo Q8t8 o
8ulo-goVcmo. L Ls!8do t guc dcV8 888u-
mIt 8 l8tc8. [u8lguct lclot dc LlVct8
N8H8dcHlC8t8mcd8l8mcHlc8guum8
dc 8u88 lc8c8 8Voll88.
H8lmcHcb8cmLlugu8 oult8d8lH-
g8ogucolol8lmcHlc8dol8d8QotLlVct8
N8H8. 8lod8d8lHg8ocHlIc 1Iclo8Qol-
lCO8 c dtclo8 CV8. 8o8c ll8l8,H8lut8l-
IucHlcdcum8otgm8ld8dcdcLtugu8.P
d8lHg8o]8COH8l8V8d8 LoH8llug8o t8H-
Cc88dc 1791, guc8l8V8dc Cd8d8o8 8lVo8
c Cd8d8o8 Q888Vo8 o8 Qtmcto8 dclcHlo-
tc8 do8 dtclo8 CV8 c QollCo8, o88cguH-
do8 8QcH88do8 dtclo8CV8. LmQoI!8Hlc
cmLlugu8t8cH88cHo8dtclo8 CV8H8
g8t8H!8 d88 lctd8dc8. L V8CoHdcdZ lct
o8ctV8do H8 t8Hg8 8 Qo88ld8dc dc
CoHVVcHC8 dc um goVcHo otlcmcHlc
CcHlt8lZ8doCom8QlcH8g8t8Hl8d88lct-
d8dc8do8 Cd8d8o8dc8u8QtoQtcd8dccdc
8u8 Qtolcg8o CoHlt8 o 8tlto do QtQto
goVcHo[Ltugu8 1960:417). Lt8c8l8um8
R8c d0ct8l8mo 8HC g8- tcVoluCO-
H 8t
o c8llodc_ Lu 8ulot tcgBcHlc-
mcHlcCldoQot Ltugu8.L8dtclo8CV8,
H8 tQoC Cb8m8do8l8mtmdc8oC88 dc-
V8m 8ct uHVcl888 c gu88Q8t8 lodo8 o8
dtclo8QollCo8dcVct8mV8t8tdc8Coldo
Com 8 C8Q8Cl8g8o dc C8d8 um, Q8 dclc8
d d d
.
d d
10
cQcH I8 8 8o tcVlVcHC!8 8 5oCc 8 c.
Lc HoVo, c8l8mo8 d8Hlc dc um8 d88 lc8c8
8Votl88 dc LlVct8 N8H8, Q8t8 gucm o8
dtclo8 CV8 ct8m Qtotl8tO8 c COHdg8o
Hd8Qca88Vcl Q8t8 o cXctCCodo8 dtclo8
QollCo8. Lm do8 cllo8do8QollCo8 tcot-
m8l88Hot88l ct8 8lu88o dc guc 8 mci8
Hltodug8o do8 dtclo8 QollCo8 Qudc88c
tcduHd8t cm cclV8 Q8t!CQ8g8o [N8H8
1930). Po lc-lo, Q8tcCc c8l8lmo8 ouVHdo
Ltugu8 tcQclt 8 o8ctv8g8o dNctgucto
dc guc o8 Qtolcm88 do t88l QtoVHb8m
do8lo dclctcm 88 tcotm88 QollC88 Qtc-
Ccddo88 tcotm888oC88.
LI8 um8 l8l8 tc8Qcl8Vcl dc 8HloH88
cHltc o8 do8 QcH88dotc8. bc Hcm 8cmQtc
ct8 tcCoHbcCd8 8 QtoCcdcHC8 "utugu88
dclod88 8888 lc8c8 H8o b8dVd8 dc guc
LlVct8 N8H8 CoHbcC8 cm oEnsaio c o
Cl8V8 Com tcgBcHC8, c8QcC8lmcHlc
gu8Hdo 8c lt8l8V8 dc HlctQtcl8t 8 QollC8
mQctI8l. Lm 8u88 CoH8l8Hlc88Cu88gUc8 8o
dc8l8mo ulQCo d88 cllc8 b8V8 8cmQIc
lug8t Q8I8 cXOgUc8, Q8l8 o8 dc8l8l88 ot-
g8HCo8,cH0co8 gu888cHClu8.L8 Homc8
dc88c8 dc8l8l88 c8l8o tcg8lt8do8 cmPo
pula6es meridionais, O idealismo da
Constituilo c Problemas de oraniado
e problemas de direlo. b8o gcHlc Como
LlHd8, c], 8t8H8 N88CoHCclo8 LIV-
gu8, LuZto l8ot8 c L8X88. Lom 8
cXCcg8o dc cj guc Ho cH!8Hlo ct8 um
8ulotl8to lcmo8 8 8 1H8 ot do CoH8ct-
V8dot8momQct8ldo8CoH8ltulotc8d8ot
dcm moH8tguC8. LlVcl8 N8H8 o8 Cb8-
m8V8 dc CoH8clV8dotc8 8ulotl8to8 dc
tc8CoH8to88ud8Zc8doDdo8dcum8gu88c
VolQ8 Qcl8 mQoQul8td8dc (1952:133).
\tugu8 t o m8I8 Cl8do Qcl8 t8Z8o dc lct
8Ido o HCO 8 QtoduZt ot8 88lcm8lC8.
N88 o V8CoHdc Cl8V8 cXlcH88mcHlc N88-
CoHCclo8 8 gucm COH8dct8V8 8cu mc8llc
cm QollC8. Lt8um88m8 QollC8 um8
ss E1 HTRI r - 191/
corrente de idias de longa durao na his
tria brasileira.
Poerlamo cham-los de liberais con
servadores, utilizando a expresso que Vic
tor Hugo empregou para caracterizar o li
bralismo da Restaurao, sintetizado na
fgura de Guizot Pexpresso , sem dvi
d, apropriada, pois Guizot era um dos au
tores prediletos de Uruguai, que o citava
extensamente para justifcr o poder mode
rador ("o rei reina, govera e administra")
e como fonte para a histria poltica e cons
titucional da Frana. Os liberais conserva
dores tomaram-se pariculannente infuen
tes sob a Monarquia de Julho. Seu principal
objetivo poltico era completar a revoluo,
constuir uma Frana nova a partir da de
molio da antiga: principalmente, cons-
l
tuir instituies de govero, resgatar a po-
ltica do domnio da paixo a que a tinham
confnado os homens de 1789 e recoloc
la dento do circulo da razo. Uma das
conseqncias dest postura era a redu!o
-i
d
i :
:
e
=
nf
a
:-
se
'
:i
nos direitos polticos em favor <S
reitos civ iJRosanvaJlon, 1985).
Viana
com sua m-
nesta corrente esgotado o contedo
de sua obra? Certamente que no. Se so
muitos os pontos de contto, no so meno
Os liberais conservado
res eram exatmente isto, liberais consera-
dores. Seu conseradorismo no eliminava
o liberalismo. Seu modelo de sociedade, ou
~
sua utopia polltlca, continuava sendo a so-
!edade 1. eral e a polltica liberu. El
dem ser apropnamente chamados de au-
ririos instrmentis7 na medlda em que
^
o autoritarismo para eles era apenas um
meio que certas sociedades em determina
das circunstfncias histricas tinham que
empregar pao atingir o objetivo, a socieda
de liberal plenamente desenvolvida.ll O
autoritarismo no um fim em si, no um
valor em si. Em todos eles h a
^
peJo liberalismo, especialmente em sua mo-
dahdaa Osaxnica. Nele esUria o mo
delo para o Brasil. Mas julgavam que para
l chegar, uma vez que nos faltavam trai
es de autogovemo, era necessrio passar
uma fase iOtermediria em e a nfae
a
entre Uruguai e Tavares Bastos, por
exemplo, para citar os dois autores paradig
mticos do conseradorismo e do liberalis
mo monrquicos, respectivamente, seria
apenas de
,
meios e n.o de fns. Ambos ti
nham o mesmo modelo diante dos olhos:
um julgava que para atingi-lo seria neces
srio fazer um desvio, o outro acreditava
que podia ser adotado imediatamente. Um
achava que o caminho para o liberalismo
era o autoritarismo, o outro que era o pr
prio liberalismo. A concordncia qa!to ao
T
modelo era alis, comum ao pensamento
M *
v
os polticos mais representativos da elite
imprial reuidos no Conselho de Estado
2
ruguai era particulannente enftico na
defesa do autogovero, que para ele se
materializava de modo perfeito no govero
local, nas towshs americanas. na muni
ipalidade, diz ele... ue reside a f r.ol
A instituies municipais
a liberdade ao alcance do povo. Sem
instituies municipais, um pas poder ter
um govero livre, mas no ter o espirito da
liberdade (1960:405). H a ecos inconfun
dveis de Tocqueville, autor que Uruguai
estudou com cuidado quando, desiludido
com a poltica, ps-se a refetir sobre os
problemas do pas. Foi atravs de Tocque
ville que aprofundou o conhecimento da
experincia americana. Antes dela, soubera
apenas atravs das reformas liberais da Re
gncia, que lhe pareciam imprprias e ina
dequadas para o pas. sintomtico que
Q1iveira Viana nunca cite Tocqueville, em
bora ceramente conhecesse sua obra, nem
A lPIA DE OJVEIRA VIANA
que fosse atravs de lruguai. Os valores de
Tocquevillc nao eram os seus.
A utopia de Oliveira Viana
Quais seriam seus valores, sua utopia?
Onde estaria seu corao? Para diz-lo de
. . -
uma vez, parece-me que sua I1\splraao VJ-
nha do que se tornou comum chamar de
iberismo . giberismo pode ser entelldidt
negativamente, no a recusa de aspctos
centrais do que se convencionou chamar de
mun o mo erno. 3legao da sociedac
. uria indivi ualisla, da poltica contra
tua lista, do mercado como ordenador das
relaes econmicas. Positivamente, um
ideal de sociedade fndada na cooperao,
na incorporao, no predomnio do interes
se coletivo sobre o individual, na regulao
das foras sociais em fno de um objetivo
comunitrio. Este conceito de iberismo no
se distancia muito do que foi utilizado por
Richard Morse em seu polmico O espelho
de Prspero. Como sabido, Morse postula
a persistncia de uma tradio cultural ib
rica fundada no comunitarismo, em oposi
o ao individualismo do Ocidente anglo
saxnico. P Ibria, e ns com ela,
constilUirramos o que Jos Guilherme Mer
quior (1990) chamou com felicidade de o
Outro Ocidente, uma alterativa ao Oci
dente nrdico que hoje parece monopolizar
o conteMo da moderidade.
Sugiro que o modelo de sociedade que
orienta toda a obra de Oliveira Viana se
enquadra prfeitamente na viso ibrica d
I inspirao catlica. No pensamento politi
co brasileiro, o mais iJustre precursor desta
vertente talvez tenha sido Jos Bonifcio,
cuja viso de Brasil enfatizava as idias de
nao, bomogeneidade e solidariedade. Seu
abolicionismo, por exemplo, se tinha um p
no direito natural, assentava-se principal
mente na alegao de que a escravido im-
punha obstculos intransponveis consti
lui
f
o de uma nao homognea e podero
sa. 3 No se trata, importante notar. de
uma viso catlico-ultramontana que teve e
continua a ter seus adeptos no Brasil. uma
viso leiga da sociedade e da poltica, em
bora infonnada por valores ligados tradi
o catlica medieval.
Outra corrente pderosa que se enqua
dra na mesma tradio o positivismo or
todoxo. Exemplo tpico o livro de Anal
Falco, Conceito de civilizao brasileira.
O autor aceita o diagnstico dos admirado
res da cultura anglo-saxnica de que no
Brasil inexiste a tradio de liberdade e de
iniciativa individual. Mas, diferena de
les, considera o fato auspicioso, pois, se
gundo Com te, a sociedade do futuro seria
marcada pela predominncia do sentimento
sobre a razo, da cooperao sobre o con
Oito, do coletivo sobre o individua1. Plati
nidade - ou o iberismo, pois tratava-se da
herana ibrica - do Brasil nos colocava,
segundo Falco, na vanguarda da civiliza
o, ao lado do pas central, a Frana.
9liveira Viana reconhecia explicita-
te em seus textos
com mais
trabalho e democracia socil como base de
suas idias sobre sindicalismo e previdn
cia social. PRerllm novarum e a Quadra
gesimo anno teriam sido os principais guias
de sua atuao no Ministrio do Trabalbo.
Em discurso feito em 1945 perante um con
gresso de catlicos em Niteri, comentou
um manifesto dos bispos em apoio legis
lao trabalhista e afirmou que estudara
todas as doutrinas sobre o assunto, con
cluindo que "a verdade est com a Igreja; a
sua doutrina que est certa" (1951:81 e
169). Insistiu no fato de haver total coinci
dncia entre a legislao brasileira e as en
cclicas sociais.
-;
intrigante o fato de Oliveira Viana no
se referir aos mestes do pensamento ct6-
Iico da poca, como um Jlio Maria e, .-
90 EromTRIC -191/
pccialmente, um Jackson de Figueiredo e
seus seguidores do Centro Dom Vital. A
omisso estende-se aos pensadores euro
peus que eram fontes importantes do con
servadorismo catlico brasileiro, como De
Bonald, De Maistre e Maurras.1
4
A razo,
arece-me, ue Oliveira Viana, como j
observado, no era um ultramontano: sua
postura era leiga. Do catolicismo absoreu
primeiro a VISo social de L Play, depois
as encclicas sociais e o pensamento do
cardeal Mercicr (a Carta de Malines). Isto
,
refer
otes a,
convivncia das classes
= catlica.Ie lilava
harmonia, integrao
' ':
Estado justificava-
se como promotor harmonia social. Oli
veira Viana apoiou um govero ditatorial.
mas insistiu o tempo todo em que se tratava
de uma democracia social. No apoiava a
ditadura pela ditadura.
- Oliveira 'analbm no
com as
para a Comtederiva-
ra boa parte de sua doutrina das tradies
do catolicismo medieval e sua concepo
da futura humanidade tinha traos do co
munitarismo cristo, pois era baseada no
altrusmo, verso leiga do amor ao prximo
cristo. Oliveira Viana falava dos positivis-
tas com respeito mas sem qualquer sim
p
a-
.
-
tia. Achava-os carregados de eletricidade
egativa; no atraiam as pessoas, rpeliam
nas; suas regras e dogmas lembravam cil
cios monacis e severos Batistas pregando
no deserto; eram dogmticos, intolerantes e
I
agressivos; faltava-lhes o milk of IUlman
kindness, indispensvel comoo das al-
I
mas (1925:119-26). Criticava a lgica jaco
bin retilnea que os tomava irritantes.
Irritava-o provavelmente a secura e im
pessoalidade dos ortooxo que contradi-
ziam as prprias tees positivistas do al-
trusmo e da predominncia do sentimento
sobre a razao. Irritava-o talvez ainda mais
o lado jacobino dos POSilivistas, donde a
referncia sua lgica em I inha reta. A idia
de uma ditadura republicana no era com
certeza de extrao catlic, vinha da tradi
o romana combinada com a exprincia
revolucionria da Frana. Uma sociedade
bem organizada na tradio do comunit-
!
ismo cristo deveria dispensar ditadores
9u mesmo uma excessiva dependncia de
iJldivduos m psio de oder. A ditadura
republicana podria cheirar-lhe a totalita
rismo, regime que ele rjeitav, a.assim como
. . .
. 1
rCJcltava o comunismo c q nalsm...
Uma forte caracterstica ibrica da
orientao de Oliveira Viana era o horr<r ao
-.
confito. A coerncia neste ponto levava-o
a ser incoerente em outros. Em Populaoes
meridionais, foi enftico em apontar o con
flito poltico e social como fator fundamen-
ti no desenvolvimento do esprito cvico,
da conscincia dos direitos e da identidade
social. Falou abertamente em luta de clas
ses: ", entretanto, a luta de classes no s6
uma das maiores foras de solidariedade
nos povos ocidentais, como a melhor escola
da sua educao cvica e da sua cultura
poltica" (1920:180). Nesta linha de racio
cnio, a impossibilidade em que se achava
a populao pobre de enfrentar o poder do
latifndio sera uma das causas do pouco ou
nulo desenvolvimento entre ns do esprito
pblico.
Com base em tal diagnstico, devia-se
esperar a receita de ampliao do cnflito
como instrmento de educao cvica, ou
pelo menos a sugesto de maneiras de liber
tar as foras sociais de modo a tom-Ias
cpazes de ao prpria em defesa de seus
direitos. Mas nada disso acontece. Pelo
contrio, na segunda parte de Populaes,
e em todas as outras obras, inclusive nas
dedicadas aos problemas concretos de pol
tica social e trabalhista, o que se v a
defesa de forte interferncia do Estado co
mo promotor do civismo e, particularmen-
A IIfOPIA DE OURA VA "
te, da paz social. Entre ns novalia a regra,
a formao do cidado devia passar no
plo conDito. mas por sua eliminao. pela
implantao de uma sociedade cooperativa,
o corporativismo sendo um meio para tal
fm.
No h a menor referncia a uma poss
vel diferena entre cidados fonnados por
mtodos to oposto. Aqui Oliveira Viana
cometeu outa incoerncia gritnte, de que
se deu conta, mas que no reconheceu como
tal. Um tema recorrente em sua obra era a
acusao idealismo, alienao, marginalis
mo e igorncia das elites em relao
realidade nacional, era a denncia da mania
de macaquear jdias e instituies estran
geiras. No entnto, quando ele prprio foi
t chamado a colaborar na fonnulao e im
plementao da polftica social e sindical,
co iou abertamente a legislao estrangei-
| ra. O.gullava-se mesmo de que nossa legis
lao estivesse altura da dos pases mais
avanados. Prevendo a crtica de estar co
piando, argumentou que a industrializao
gerava problemas que eram universais, que
se verifcavam independentemente das ca
ractersticas de cada-as, poendo, portan
to, a legislao social ter carter tambm
\
universal. Desconsiderava
q
ue, neste caso,
a legislao s se aplicaria ao setor indus
trial modero, reconhecidamente minorit
rio no Brasil. Ela era, no entanto, destinada
tambm ao campo, embor a aplicao co
measse pelas cidades. Quanto prria
industrializao, ele argumentaria em seu
livro pstumo que ela possua caracteristi
cas que lhe retiravam parte da natureza
capitalista (1988:193-7).
Pode-se concluir que toda a sua anlise
do latifndio simplificador e eliminador do
contito como responsvel pela falta de ci
vismo podia ser sociologicmente verda
deira, mas no era relevante para seus obje
tivos polticos, porque o conceito de
civism da boa sociedade, que ele tinba em
mente no era o das sociedades anglo-sax-
_s
No livro stumo cita' do acima,
ponto aparecia com clareza: .su, modlo d
sociedade no era o do ca italismo indus
tial. e verificava, ao fnal dos dolS volu-
mes, que se pelo lado material e tmico j
havia capitalismo no Brasil, especialmente
em So Paulo, pelo lado psicolgico e cul-
tural, 'ela ainda
que nossa
pr-capitalista, que tanta no
breza, justia e dignidade espalhou na vida
e nas tradies de nosso povo" sobreviveria
ao avano capitalista (Viana, 1988:197).
de
Quer dizer,
mao um valor. Ao buscar clssicos da
fratura para descrever a mentalidade ca
pitalista, como Sombart e Weber, ele carre
gava nos tons negativos. O capitalismo era
a obsesso monetria, o mamonismo deli
rante, a submisso de tudo ao motivo do
lucro, a instrumentalizao da inteligncia
e da cultura. Contra est mentalidade, sus
tentava, ainda prevaleciam, e deviam pre
valecer, os valores que marcaram nossa he
rana (e aqui no entrava distino de classe
ou ra). Eram valores da sociedade pr-ca
pitalista, existentes tambm na sociedade
baseada no latifndio: a nobreza, a mode
rao, o desprendimento, a dignidade, a
lealdade.
Alm da intuncia catlica, revelava-se
a o que me parece ter sido a outra fonte de
inspirao de Oliveira Viana:
,
as razes ru
rais. O ruralismo se manifestava com seus
. valores pateralistas, famil istas, pessoalis
tas. Oliveira Viana orgulhava-se de ser fa
zendeiro, de ter por trs de si quatro gera
es de fazendeiros. Nunca vendeu a
fazenda do Rio Seco, embora s lhe desse
prejuzo, velho bangu decadente que era.
At o ru da vida usava a velha casa para
receber amigos ntimos em jantares acom
panhados de Iqngas discusses. A fascina-
92 E HTRC -191/
o por valores rurais transbordava de v
rios textos. Um deles t. saudao a Alberto
de Oliveira, feita quando foi recebido na
Academia Brasileira de Letas. Referiu-se
em tennos quase lricos a Saquarema, terra
natal de ambos. Exaltou tnto a patureza
quanto os valores da vida rural fuminense.
Em Alberto de Oliveira estariam prsonif
cadas a tadio patriarcal, a nobreza, o
bm gosto.
16
No era apenas o chauvinismo flumi
nense que o movia. Em outo texto, escrito
em 1918, quase simultaneamente a Popula-
es meridinais, ele descreveu com imen-
sa simpatia as pquenas comunidades mi-
neuas em que vIVera por seiS meses por
motivo de dona. A alma mineira seria,
segundo ele, feila do "bom metl antigo, o
metal da nossa antiga simplicidade patiar
cl", Nela dominariam os valores domsti
cos patiarcis - o recato, a modstia, a
hospitalidade -, valores que lhe souberam
sensibilidade como ao paladar do enten
dedores os vinho caros: "quanto mais an
tigos, tanto melhores no sabor, na limpidez,
no perfume". Era a "Minas do lume e do
po", ttulo com que o artigo foi publicado
na Revista do Brasil, em 1920.
Vale a pena citar outo texto referente
realidade rral ainda mais distante da fu
minense. Em comentrio 80 romance de
Mrio Selte, O vigia d casa grand, ele
elogiou a descrio fma da "alma rude e
bla dos nossos caboclos rurais". O roman
ce teria mostrado que valores como nobre
za, cavalheirismo, fdelidade, bonra,justia
e bondade no eram limitdos aristocra
cia, mas impregnavam tambm as classes
plebtias. Surpreendentemente para muitos
de seus leitores, confessava uma uinfInita
terura" pela gente humilde que mourejava
A sombra nem sempre gata dos fazendei
ros. E conclula: "toda a minha obra ( ... )
respira uma ntima simpatia por eI3".
17
No h pr que menosprezar esses tex
tos. Por no terem pretenso cientifc, eles
so despojados, desarmados, no citam au-
W
lores, no tm aparato erudito. Neles talvez
se revelasse com mais sinceridade o cora
o do autor, neles talvez emergissem seus
valores mais caros. O que ar transparecia
no destoava, alis, do que se sabe da per
sonalidade de Oliveira Viana, um matuto
!!edio que raramente aceitava nvites _.
ra paletras; que ao flarem pblico era
quase inaudlve1; que s por motivo dedoen
a deixava o Rio de Janeiro, ou melhor, sua
sa de Niteri; que nunc saiu do pas,
embora tivesse uma biblioteca interacio
nal, que nunca fez parte dos cfrculos inte
lectuais do Rio, nem da vida mundana da
cidade. Um exilado do mundo rural deca-
dente na cidade rande.
Creio que toamos aqui no ponto cental
para o entendimento da obra e do pnsa
mento de Oliveira Viana, um ponto que
poe esclarecer o vnculo ente Popula6s
meridionais e os textos de poltica social e
tambm a aparente quebra de perspectiva
dento de Popula6s meridionais, alm
das contadies j apontadas. Comendo
com Popula6, verifca-se neste texto
uma guinada no tralamento do proprie
rios rurais ao passannos da primeira e se
gunda partes para a tereira.
so defmidos c
mo aristocracia em Evolulo
do povo brasileiro dolicocefalia germni
ca): aristocracia audaciosa, altiva, em
preendedora, artlfc da ocupao do terri
trio nacional, desdenhosa do poder
pblico. Est simpatia deu margem a que
Astogildo Pereira intitulasse sua critica de
1929 de "Sociologia ou apologtic?"
roa, os grandes estadislas que tentavam for
jar uma nao a partir do arquiptlago lati
fundirio que compunha a ex-colnia. ,Os
ristocatas rurais passam a ser ttdo c
mo meros caudilhos tertoriais, resistentes
*
~
A UTOPIA DE OUVElRA ViA 93
obra progressista da Coroa, que devem ser
domados em seus excessos de privatismo.
Se estou correto na identificao de
\
mundo de valores de Ol iveira Viana, a r-
\
'
. viravolta apenas aparcn. q Estado cria
a nalo, estabelece o predomnio do bli
co sobre o privado, mas de mo Itera
valors fundamentais que pertencem or
d
;
e;: m
==
.:, ru
r
:
1 patriarcal . Da posio de distan
ciamento em que hoje nos colocamos, po
deramos dizer que, para Oliveira Viana,..
p
rprio Estado ra patiarcal e sua tutela
s,bre a nao tinha a marca do poder fami-
_ liar que buscava hannonizar a grande 31n1-
nabrasileira sob sua autoridade. Na cabea
est grande (amnia, ou deti grande cl,
colocava-se o imperador, que, ao final do '
Lmprio, com suas longas barbas brancas,
era a prpria figura do grande patriarra. A
verdadcira dcscstruturao se teria verifca
do en_como conseqncia da Aboli
o da Ecravido. Ol iveira Viana Coi.inc-
quvoco ao colocar essa data como marco
un amcntal na histria do pas. Popula
s meridionais termina em 1888, exata-
mente porque o perodo posterior lhe pare
cia exigir estudo parte. Em Pequenos
esrudos de psicologia social foi repetida a
idia do ugrande desmoronamento" que se
teria produzido com a Abolio (1921 :79).
O mesmo foi dito em Evollldo do povo
brasileiro: o golpe d. Abol io desarra njou
a aristocracia rural, que, a partir da, ou
prosseguiu sua rota de decadncia ou se
dirigiu s cidades em busca de alterativas
de vida. O corte devia parecer-Ihe.ter sido
to violento que nunca cbegou a escrever o
livro sobre a Repblica prometido em Po
pulaes, promessa reiterada em O ocaso
doImprio.
A Abolio, logo seguida da Repblica,
inaugurou um mundo novo em que a ordem
imperial, politicamente central i7.da, mas
al icerada em valores rurais, deixou de ter
condies de sobrevivncia. Novo arranjo
fazia-se necessrio para substitu- la. Para
Oliveira Viana, como para muitos republi-
canos, estava claro que o federalismo. r
blicano
o se prestava tarefa. Ao retirar
do centro o poder de arregimentao, ele
l iberava a fora desordenada do jogo dos
interesses dos grupos, faces e cls locais.
Era um mundo catico que ameaava a
prpria integridade da nao. A situaao
agravava-se com o fato de terem surgido no
cenrio poltico novas foras socia i que
escapavam ao controle do mundo rural, co
nu; os industriais, operrios e imigrantes.
No me parece que Oliveira Viana lenha
desenvolvido uma idia clara sobre a forma
que everia assumir a nova ordem, antes dS
ocupar a posio ,que lhe .er'lI\l 110 Mi nis
trio do Tr<palbo.., Em Pequenos estudos,
publicados em 1921, ele ainda acreditava
l1uma
;
0113 ao mundo rural, ao "velho culto ()
nacional da lerra opima e nutridora"; ainda
aerecitava em ensinar a juventude a amar a
terra, o campo, o arado, "smbolos loscos e
obscuros desse palriotismo civil, que qua-
se tudo" (1921:21 e 2). Em O idealismo,
publicado pela primeira vez CIO 1924, des
cria mesmo de solues que fossem tenla
das por meios exclusivamente pol ticos. O
problema nacional seria antes social e eco
nmico e exigiria medidas como a difuso
da pequena propriedade (dara referncia a
Alberto Torres).
Em Problemas de poltica objetiva, de
,930, as reformas pro )ostas de naJl- C . /
reza puramente IIlstitucioual e >ltica. In-
sistia na re onna da Constituio de' 1891 ,
no sentido de devolver ao poder central a
fora que tinha no Imprio, talvez com a
criao de um quarto poder. Lembrava o
uso dos conselhos tcnicos, j adotados em
outros pases. A leis sociais s6 apareciam
a para serem criticadas pelo modo como
eram feitas: sem consulta a patres e oper-
rios, o que as fadava ao fracasso por fal a
da adeso moral do povo. Criticava tambm
as solucs sociais dadas pelo nazismo,
fascismo e comunismo. Chegou mesmo a
propor solus individualistas, o que con
tradizia tudo que escrevera antes e escreve
94 El JTRC -1911
ra depois. O ue dizia da dcda de 20 -
ma pca de in el , sem fIionomia -
pdia aplicar-se a ele mesmo no que
'
se
!
rer no ao dia
g
stico, mas A receit
ra os problemas do 11. r a rase de
ta amento.
'
A clareza na receita s parece ter surgido
aps a nomeao para a consultoria jurdic
do Ministrio do Trabalho, em 1932 Com
a compulso que o caracterizava, passou a
ler tudo sobre sindicalismo, corpotativis
mo, direito do trabalho, e direito soial.
Muitos autores, antes ausentes, passaram a
pvoar sua bibliografia. Alguns so ainda
hoje lidos e respeitdos, como Guritcb,
Sombart, Tawney, Moreno, Mayo, G.
Friedan, MacIver, Tonnies, Sorokin, Ve
blen, PerroU e Lsswell. Leu tambm ju
rsts e tericos do cororativismo e as en
cclicas soiais. Analisou'a experincia de
vrios pases europeus, dos Estados Unidos
e do Japo.
A volt ao
p
s
;
do, ao
p
tiarclismo rral, fo.i totlmente
abandonada. Conformou-se com o fato de
que o mun moero era o da indstia, do
operariado, das classes soiais. A perunta
agor era
essas
a vantagem de pupar ao
pas os dramas causados pela industriali.za
o capitalista, ainda incipiente, e de lan
ar- nos na direo de uma nova sociedade
hannoniosa t, segundo ele, democtica,
pois envolveria, atravs de sindicatos e cor
praes, o grosso da populao na direo
poltica do pas. A regncia da orquesta
continuava sendo tarefa do Etado, com a
diferena de que agora sua ao ordenadora
e educadora Do se exercia sobre os irre
quietos cls rurais, mas sobre os sindicatos,
crpraes e outas organizes civis. Ao
Etado caberia at mesmo forar classes e
ctegorias sociais a se organizarem, pois a
oranizao seria a (mic maneira de se
exercer a cidadania no mundo modero.
Se antes a nfse er nos direitos civis
cmo condio para o exercicio dos direitos
pollticos, agora o direitos sociais passa
vam a ocupar o primeiro plano. Atavs da
incororao do trabalhador e do patro
pela estutura sindical e pela legislao so
cial que se criavam as condies para o
exerccio das liberdades civis e polticas.
Operava-se completa inverso da seqn
cia clssic da evol uo dos direitos como
vista pr Marshall. Antes- de 30, Oliveira
Viana reclamava a mesma seqncia dos
pases pioneiros da moeridade, isto ,
direitos civis antes dos poHticos, sem falar
ainda nos sociais. Agora, os soiais
2
ue se
tomavam pr-condio dos outros. 1
A novas concepes foram expostas
e Prblemas de direito corporativo, onde
Oliveira Viana fez uma lcida e convincel
te defesa do novo direito social conta a
viso individualista tradicional. Seu princi
pal oponente era Waldemar Ferreira, pro
fessor da Faculdade de Direito da USP e
relator da Comisso de Justia da Cmara.
O debate girou em tomo do projeto de or
ganizao da justia do tabalho, redigido
por comisso do Ministrio. de que Oliveira
Viana fIera parte. Contra o individualismo
jurdico defendido por Waldemar Ferreira,
assentado na idia de contato do Cdigo
Civil, Oliveira Viana insitia em afnnar a
natureza coletiva da realidade social mo
dera que pdia novos princpios de direito,
nova exegese, novos rgos. novos proces
sos, novos ritos, nova jurisprudncia. Os
confitos do trabalho, arumentava, eram
coletivos, exigiam convenes coletivas,
sentens cletivas com poder normativo.
Era dele, sem dvida, a ostura moder
nesse e ate.
O ladopoltico da nova viso foi exposto
em Direito do trabalho e dmocracia so
cial, onde foi defendida I poltic soial do
A lOPIA DE OUEIRA VA 95
govero em 1930 e refonnado em 1937.
Ficaram a mais ntidos O princpios orien
tadores da poltica social concebida por
Oliveira Viana. Sua fonte era a doutrina
soial da Igreja. Desta doutrina se servia
especialmente para criticar o individualis
mo, em cujo lugar colocava a pessoa, para
enfatizar a cooperao em contraposio ao
confito, a justia e o bem comum em con
trapoio simples defesa de interesses
individuais. A doutrinas corporativistas e
sindicalistas e omeClam a engen ada so
cial e ltica modera para im lementar
valores ue no eram substancialmente IS
tintos dos que teriam revalecido na socie
dade a rria do Imprio. novo Estado;;to
deixa de ser
?
gran e ptrjrc,! benevolente '
velando sobre o bem-estar da nova grande
famlia brasileira.
A comparao com outros autores tam
bm considerados autoritrios ajuda a res
saltar o especfico da posio de Oliveira
Viana. Embora haja traos comuns ao pen
samento dos chamados autoritrios das d
cadas de 20 e 30, ponto to bem desenvol
vido por Bolivar Lamounicr (amounier,
1977), h tambm importantes distines.
A postura de Oliveira Viana no , por
exemplo, a mesma de Aevedo Aaral, um
-j declarado defensor do moderno capitalis
mo. Em sua reviso da histria do Brasil,
#.
Azevedo Amaral adotava uma perspctva
inspirada na lei posilivista dos trs estados
e valorizava tudo que apontasse para a so
ciedade industrial moderna. ti-
que seus
de corporativismo, eram tirados
dos Estados Unidos. O autoritarismo para
ele era ura tcnica. uma engenharia social,
um caminho para pases como o Brasil che
garem ao modero capitalismo. A ele cabia
com propriedade a definio de autoritrio
instrumental.
No se trata tambm do integralismo de
flnio Salgadp. autor que 'Oliveira viana
jamais cita. Havia no pensamento de Plnio
Salgado alguns aspectos de que ceramente
no gostava: o totalitarismo, o apo
m-
!ilizao poltica, o culto, liderana cris
mtica. A crticas de Oliveira Viana ao
tota Ilarismo eram feqentes. No rejeita
va o individualismo liberal ao ponto de
pulveriz-lo no bojo do Estado. O conceito
cbave era o de pssoa, tirado da tradio
catlica, A pessoa o indivduo inserido
nuna rede de relaes, um indivduo que
mantm sua identidade, que deve ter seus
direitos respeitados, Quanto mobilizao,
embora, como vimos, a admirasse na for
mao dos povos anglo-saxn.cos, ele a
aborrecia e nunca a props para o Brasil.
de sua escala de valores: orga nizao,
graa o, Icorporaao, cooperaao, Sim, e
quanto mais melhor; mobilizao, luta p-
ltica, conDito, no, pois eram foras desa
gregadoras como desagrega dores eram o
latifndio e o federalismo. Em sua utopia
ocial tambm no havia lugr para lideran-
as carismticas. Admirava, certo,algun-s
estadistas do Imprio, os homens de mil. e
o papel do Imperador. Mas na fase social e
trabalhista de sua obra, na rase utpica, os
atores eram coletivos, eram o governo, as
corporaes, os sindicatos. Seu ideal de
sociedade era U,D coro ornicq que deve
ria funcionar por conta prpria, articulado
por lideranas funcionais que o pcnneariam
de alto a baixo.
Ainda dentro do exerccio comparativo,
parece-me que, alm das origens rurais, do
bangu do Rio Seco, e da innuncia ctli-
ca, talvez o que mais afastou Oliveira Viana
de muitos intelectuais seus contempor-
neos tenha sid< memismo.)Ele passou
-
ao largo deste movimento. Ignorou-o total-
mente. Ignorou-o mesmo quando, em sua
segunda fase, iniciada em 1924, a temtic
do nacionalismo, do brasileirismo, se tor-
nou cen!raI.H declaraes de escritores d
antropofagia e do verde-amarelismo, refe-
rentes necessidade de rundar o nacional,
9 ET mTR< -19l
o brasileiro, em oposio, pelo menos pro
visria, ao interacional ou universal, que
pderiam ser facilmente subscritas por Oli
veira Viana, que tinha at mesmo seu totem
animal, contrapartida do jabuti da antropo-
fgia e da anta verde-amarela. Sugeria, se-
guindo Gregrio de Matos, ue se injetasse
um pouco de sangue de tatu as veias de
nossos pensadores e legisladores (1930:47-
8). Quando dizia ainda que entre ns cultura
era alienao, poderia ser confundido com
um partidrio da antropofagia vociferando
contra o lado doutor de nossa cultura.19
Em que o modermo o separava de
pensadores de quem, de outro modo, estaria
muito mais prximo? Parece-me ue o t
moerista detenninante da diferena
oi o da c rura, ou da retendida r tura,
com o passado. Aruptura era a marca regis
tadadomodersmo, tanto em sua vertente
ifropofgica quanto na verde-amarela.
Tratava-se de derrubara constudo, de des
truir as tradies, os mitos oficiais e falsos,
de refazer o Brasil a partir de uma viso
abstrata e romntica das razes indgenas.
Algun moderists, se no toos, deixa
vam-se fascinar pela tcnica do mundo mo
dero, pelas mquinas, plas invenes, p.
las grande metpoles. Nada disso ataa
Oliveira Sua viso de futuro
de romntic nela havia e o omantismo
a Vida fazendeira idealizada. em que havia
brancos e negros eo negros que
e quase totalmente ausentes na antropo-
fagia), mas no ndi.'.
.
m
A diferena bbica entre Oliveira Viana
e Srgio Buarque de Holanda pode estar a.
H muito em comum no diagnstic que
ambos fazem da sociedade brasileira: o pe
so da faml ia, das relas pessoais, do
ruralismo, e mesmo da nacio-
nal para a democracia. Mas
do
zao, exatamente as foras que
detruir o mundo rural to caro a Olivein
Viana. A mesma comparao talvez pudes-
se ser feita com Gilbertn Freyre. De novo,
h muito em comum entre o dois, inclusive
a simpatia pelo mundo rural.
de 01 iveira Viia
9
ue era esttica, mas, principalmente, so
cial. Seu moderimo levava-o a desinte
ressar-se do poder poltico e concentar-se
nas relaes sociais, inclusive as mais nti
mas, com uma irreverncia que escandali
zaria Oliveira Viana.
Regresso do inferos sem trzer Olivei
ra Viana de volta, nem l fu em misso de
Orfeu. Mas talvez tenha conseguido salien
tar aspecto importantes de seu pensamento
que o colocam dentro de
.
ma tradio a um
empo distinta e marcante de nossa cultura.
Ente o liberalismo ortodoxo ou o america
nismo de Tavares Bastos e o liberalismo
cnseIVador ou o autoritrismo instumen
tal de Uruguai, h o iberismo, ou seia li o I
nome que se lhe d, de Oliveira Viana. A
pergunt a se fazer se este iberismo, pro
fundamente antagnic viso libral, or
todoxa ou conseIadora, no tcm razes
mais profndas em nossa cultura, raes que
poem estar na base das dificuldades de
implantao de uma sociedade liberal. A
perunta se o infero a que condenamos
Oliveira Viana em vez de ser o outro, como
queria Sartre, no parte de ns mesmos.
Nots
1. Cilado em Torre (1956:62)
2. A clica de Aslrogildo Pereira (1979),
publicd pla prmeira vez em 1929, deu o tom
de muitas das crtics psteriore. Centrava-se
em Popul meridionais e denunciava o vi
de classe dominante do autor. Batista Pereira
(1931), publicu originalmente sua critic em
1927 nolomal d Commerio. Su alvo er"O
idelismo da Cnstituio" e foclizava esp-
A UPIA DE OU VA 91
calmente O crter arbitrrio de muitas das afir
mas d Oliveira Vana.
3. A primeira crtic mais virulenta veio de
Nelson Werneck Sodr(I961). Em livro anterior
(1942), ete autor elogara a obra d Oliveira
Vana. Na
t
mesma linha de denncia do racismo
e da submisso ao pnsamento colonialisia, em
bra cm maior erudio, est o artigo d Vnil
d Paiva (1978). A ctic mais extens, objeto
de um li'fo inteiro, foi produida pr Jos Ho
nrio Rodrigue (198). O titulo j indica o
sentimento dete autor em relao a Oliveira
Vana. Para ele o soclogo fluminense fora nada
menos que o repnsvel inteletual plos gol
ps de 1937 e de 1964 (p. 3). Vejam-se tambm
as ctics de Srgio Buarque de Holanda (1979)
e de Dante Moreira Leite (1969). A tee dete
ltimo, que deu origem ao livro, de 1954.
anterior ao liv,ro de Sodr.
4. No existe uma biografia satisfatria de
Oliveira Viana. Na falta de coisa melhor, cnsul
te-se a obra de Vascnclos Tores (1956).
5. Alm do crtics antes citados, cnsul-
tem-se as obras mais reentes de Vieira (1976),
Medeiros (1974), Lma e Crqueira (1971), Fa
ria (1977), Moraes (1990), Alve Filho (1977),
Gomes (1989).
6. Veja "O valor pragmtic do etudo do
psado", discro pronunciado quando de sua
ic pO no Instituto Histrico e Geogfic,em
11 de outubro de 1924.
7. Veja "Do pnto de vista de Siriu .... A
atica de Batista Pereira, publicda no memo
joral em 23/10/1927. tinha ttulo idntic ao da
repta, menos a reticncia. A trplic de Batis
ta Pereira saiu em 15/11/1927. cm o ttulo de
"A pasagem de Siriu".
8. Veja Evoluo do povo brasileiro,
1923:28. Lembre-se aqui tambm a famos pro
psta de Martiu (185) sobre cmo s deveria
ecever a histria do Brasil . Martius atrbua '
histria o papl de mcstra do futuro e do preente '
e de instigadora do patrotisDo.
9. Veja Uruguai (1960:9). Privilegio aqui o
Ensaio, que a obra mais teric de Urugui. O
Estudos prticos sobre a administraDo das pro
vncias n Brasil, so um imenso reprtrio de
evidncias emprics sobre problemas adminis
trativos.
10. Sobre o libralismo cnervador franc
d gerao 1814- 1848, basei-me no exclente
trablho de Pierre RosanvalJon (1985).
11. A expo de Wanderley Guilhere
do Santos (1978).
12, A anlise do pnsamento dos onselbei
ros foi feita por Cralho, 1988, cpo 4.
13. Sobr a viso integadora de Jo Boni
fo, veja Crvalho (198).
14. Sobre o pnamento catlic reconrio,
espcialmente o de Jaclson de Figueireo, cn
sulte-se Francsco Iglias (1971).
15. Pode-se prguntar s a rejeio ao totali
tarismo e a defesa do Etado Novo cmo rgime
democtir no pasavam d retrca autorit
ria. ou memo de cnismo. No me par que a
vida e a obra de Oliveira Viana autorizem tal
interretao. No que s refere a seus valore
plftics. ele foi cerente e explcto durante
toda 8 vida, memo sabendo-o imppulares.
16. Veja "Discurso do Sr. Oliveira Vana".
prnuncado na Academia Brasileira de Ltras
em 20107/1940.
17. Veja "O vi gi a da casa grande"
(19240:247).
18. No pi:SO slientar a imprtnca
deta propsta e de sua implementao para a
formao da cultura pltica d Brasil ontem
prne. Ela est no cntro do que vimos ca
mando de ibrismo.
19. Sbre as duas fases do modernismo, veja
Eduardo Jardim de Moraes (1978).
Bibliografa
1. Obras i Olivira Viana
1. 1. Livro
1920. Popula meridionais do BrasiL Pau
listas, fluminenses, mineiros. So Paulo,
Monteiro Lobato e Oa.
1921. Pequeno estudos de psicologia social.
So Paulo. Monteiro Lbato e Cia.
1923. Evoluo d povo brasileiro. So Paulo,
Monteiro Lobato e eia.
1925. O csdo Impio. So Paulo, Melhora
mentos.
1927. O idealimo da Constituio. Rio de Ja
nei ro. Terrd de Sol.
9. E mTRC -1911
1930.Plemas de plica objetiva. So Paulo,
aa. Editora Nacionl.
1932. Raa e asimilo. So Paulo, Oa. Ei
tora Naconl. .
1938. Prbleas de diriJo cororativo. Rio de
Janeiro, Jos OUmpio.
1949. Institui polfics brasiliras. Rio de
Janiro, Jos Olmpo.
1951. Dirito d trabal e deoracia scial
(Oprblma da irrao d trabalo
dor no Estado). Rio de Janeiro, 1056
Olmpio.
.
1952. Problemas d organizao e problemas de
direo (O plC o gover). Rio deJaneiro.
Jos Olmpio.
1988. Hist6r;a soial d ecnoia capitalita
n Brasil. Belo Horizonte, ltatiaia/Edur. 2
vais.
1991. E/ios inidios. Cmpns, Unicmp.
1.2 Arigos
1918. MAs pua cmunidade mineiras',
Revista d Brasil. (31):219-33.
19208. "Mins do lume e do po", Reva do
Brasil. (56):289-30.
1924. 0 valor pngmitio do elld do psa
d". Revita do Brasil. (10):289-30.
1924a. 0 vigia da cs gnnd". Revita do
Brasil. (107):246-7.
1927. "Do pnto de vist de Siru .... Jornl do
Commeri,6 novo 1927.
1944. "Discro do sr. Oliveira Vana", em Di
cros Acadicos (193-1943), Acdmia
Braileira de Ltas, Rio de Janir. p. 187-
228.
2. Outras oras
ALVES fILHO, Aluzio, 1977. "Fundmentos
metodolgics e ideolgcs do penamento
pltico de Oliveira Vana". Rio de Janeiro,
luprj, Tesde metrado.
CRVALHO,Jos Murilo. 198. Teatrdeso
bras: a politica imperial. So Paulo,
Vric/luprj.
1988. "Evido e rzo nacional", Da
dos. Rio de Janeiro, 31 (3):287-3.
W
FAO, Al. s.d. F6rmula d c;v;lizaQo
brasileira. Rio de Janeiro, Guanabara.
FAIA, Lus de Cstr. 1977. Popula me
ridionais do Brasil-Partida pra uma leitura
de Oliveira Vana", Comunicao, Rio de
Janeiro, Prgrma de P-grduao em A
toplofa Socal, UFRJ, n' 3.
GOME, Angela de Cstr. 1989 4 A tc Q
t61ic e o esprilo do pr-capilalismo".
Cinia Hoje. 9(52):23- 8.
HOLADA, Srgio Burque de.1979. Tellati
vos de mitolgia, So Paulo, Perpiva.
IGLSIA, Franc,o. 1971. Hist6ria e idol
gia. So Paulo, Perptiva.
LOUNIER, Bolivar. 1977. Forao d
um pnmento plCtio autritrio na Pr
meira Repbl ic: uma interpretao", em
FAUSTO, Boris, org., Hist6ri geral da civi
lizao brasileira, So Paulo, DireI. I. 3, v, 2,
p. 342-74.
LEIT, Dante Moreira. 1969. O CJrmer neio-
nol brasilir. So Paulo, Pionera. .
LIMA, Maria Regn Soare de, &CERQUEI
RA, Eli Diniz. 1971. 0 modelo pltio de
Oliveira Vana", Revisa Brasileira de Estu
do Polies. 30:85-10.
MAOElRA, Anselmo. 190. Mundo e con
es de Oliveira Vana, Rio de Janeiro,
Imprena Ofcial.
MEIRA, Marcs A1miretalii. 1940. Oliveira
VUI e o mundo brasileir. Rio d Janeiro,
Indtia do Livr.
MTIUS, Crlos Freerio Pb. de. 1845. C
mo s dve eer a histra do Brail",
Jorl do Instituto Hit6rico e Geogrfco
Brasileiro. (24)381-43.
MEDEIROS, Jarbas. 1974. "Intrduo ao etu
do do pensamento poHtico aUlorilrio
brasileiro, 19141945. Oliveira Vana"': Re
vis,a de Cinia Poltica 17(2):31-87.
MERQUIOR, Jos Guilheme. 1990. 0 outo
Ocdente-, Preena. Revista de Polfica e
Cultura. (15):67-91.
MOR, Edurdo Jardim de. 1978.A brasi/i
dade modersa: sua dimeno flsfca.
Rio de Janir, Graal.
MOR, Joo Crlos K. Quarim de. 1990.
"Joaqufn Csta, Oliveira Vana ea revoluo
plo alto-.Prime;ra Veso. IFOInicmp,
nO 7.
MORSE, Ricard M. 1988. a epl dePrs
p, So Paulo, aa. ds Ltras.
PAlVA, Vanilda. 1978. Oliveira Vana: naco
nalismo ou racismo?". Encontros com a
Civiliao Brasilira. (3):127-56,
PEREIRA, Atrgldo. 1979. Soologia ou
aplogtic?", em Enaios hist6rco e pll
tios. So Paulo, Alfa-Omega. p. 163- 74.
A lPl DE OURA VlA 99
PEREIRA, Batista. 1931. '0 idealismo d Cns
tituio", em Figuras do Imprio t outros
ensaios. So Paulo, Oa. Eitora Naconal. p.
123-236.
QUEIROZ Paulo Edmur de Souza. 1975. A
sociologia polftica de Oliveira Vana. So
Paulo, Convvio.
,
RODRIGUES, Jos Hon6rio. 1988. Histria da
histria do Brasil. So Paulo, Cis, Editora
Nacionl/lNL v. n, I. 2. (A metafsic do
latifndio: o ultra-reacomirio Oliveira Via
na).
ROSANVALLON, Pierre. 1985. Le mome.t
Guizot. Paris, Gallimard.
SAOS, Wanderley Guilhene dos. 1978. Or
dm burguesa e liberalismo poltico. So
Paulo, Duas Cidades.
SODR. Nelson Wereck. 1942. Orientaes
do penamento brasileiro. Rio de Janeiro,
Csa Editora Vechi.
_ @ 1961. A i deologi a do colnialismo. Rio de
Janeiro, lb.
TORRES, Vasonclos. 1956. Oliveira Viana.
Sua vida t sua psio nos wudos brasilei
ros de sociologia. Rio de Janeiro, Freitas
Bastos.
URUGUAI, visconde de. 1960. Enaio sobre o
direito administrativ. Rio d Janeiro, De
partamento de Imprensa Naconal. (1' ed.,
1862).
1865. Estudos prticos sobr a adinisra
o das provs no BrsiJ. Rio de Janeiro.
B. L. Gamier. 2 v.
VIEIRA, Evaldo Amaro. 1976. Oliveira Vana e
o Estado ororativo (um estud sobr cor
porativimo e autoritarismo). So Paulo,
Grijalb.
Jos Murila de Cralh profesr da luprj
e puisadr d Fuoao C de Rui Barba.
Você também pode gostar
- Manual de Linguagem NeutraDocumento20 páginasManual de Linguagem NeutraPaulaAinda não há avaliações
- Fábrica de Sabonetes ArtesanaisDocumento15 páginasFábrica de Sabonetes ArtesanaisAstride MagalhãesAinda não há avaliações
- As Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilDocumento11 páginasAs Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilLuana FontesAinda não há avaliações
- A Ecologia Do Grupo Afro-Brasileiro - Rodrigues AlvesDocumento54 páginasA Ecologia Do Grupo Afro-Brasileiro - Rodrigues AlvesCaio Tácito Rodrigues Pereira100% (1)
- Introdução Aos Sistemas Computacionais PDFDocumento71 páginasIntrodução Aos Sistemas Computacionais PDFguidionAinda não há avaliações
- Flávia Rios. Pensadores Negros e Negras Pgs 387-403Documento14 páginasFlávia Rios. Pensadores Negros e Negras Pgs 387-403Jefferson AcevedoAinda não há avaliações
- Escravo e Proletário Na História Do Brasil - Peter Louis EisenbergDocumento15 páginasEscravo e Proletário Na História Do Brasil - Peter Louis EisenbergAgnus LaurianoAinda não há avaliações
- 10 Novas Competencias para EnsinarDocumento7 páginas10 Novas Competencias para EnsinarpatiandreattaAinda não há avaliações
- A Seduçao Da LiberdadeDocumento7 páginasA Seduçao Da LiberdadeTHIAGO LUIZ DE MATOSAinda não há avaliações
- A Economia Politica o Capitalismo e A EscravidaoDocumento41 páginasA Economia Politica o Capitalismo e A EscravidaoMatheus Galvani LofranoAinda não há avaliações
- Panafricanismo3 PDFDocumento284 páginasPanafricanismo3 PDFliviaasrangelAinda não há avaliações
- Feudalismo No Brasil-Questão e PolêmicaDocumento32 páginasFeudalismo No Brasil-Questão e PolêmicaRenan M. BirroAinda não há avaliações
- Ai - A Relação Homem NaturezaDocumento7 páginasAi - A Relação Homem NaturezaLeonor Neves Alves100% (3)
- CHALHOULB. Vadios e BarõesDocumento15 páginasCHALHOULB. Vadios e BarõesCarolina Duarte100% (1)
- TEXTO Tentativas de Mitologia (1979), Escrita de Si e Memória de Srgio Buarque de HolandaDocumento184 páginasTEXTO Tentativas de Mitologia (1979), Escrita de Si e Memória de Srgio Buarque de Holandamarcos dinizAinda não há avaliações
- Historia Do Design N2Documento9 páginasHistoria Do Design N2Isabella VieiraAinda não há avaliações
- O Movimento Da Independência, by Oliveira LimaDocumento281 páginasO Movimento Da Independência, by Oliveira LimaThiago Almeida de CarvalhoAinda não há avaliações
- "Escravos Da Nação" o Público e o Privado Na Escravidão Brasileira (1760 - 1876)Documento21 páginas"Escravos Da Nação" o Público e o Privado Na Escravidão Brasileira (1760 - 1876)Gabriel DominguesAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento7 páginas1 PBROMÁRIO CHAVES OLIVEIRAAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoDocumento7 páginasALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoGoshai DaianAinda não há avaliações
- GF 24 PDF - Ocr - Red PDFDocumento312 páginasGF 24 PDF - Ocr - Red PDFLuigi AmendolaAinda não há avaliações
- Formação do Estado e Horizonte Plurinacional na BolíviaNo EverandFormação do Estado e Horizonte Plurinacional na BolíviaAinda não há avaliações
- TRINDADE, J. Os Direitos Humanos para Além Do Capital.Documento6 páginasTRINDADE, J. Os Direitos Humanos para Além Do Capital.Isabelcristina12345Ainda não há avaliações
- Texto 4 - Brasil, 1945-1964 Uma Democracia Representativa em Consolidação.Documento25 páginasTexto 4 - Brasil, 1945-1964 Uma Democracia Representativa em Consolidação.Eunice katiele SalesAinda não há avaliações
- Modernismo e A Questão Nacional PDFDocumento4 páginasModernismo e A Questão Nacional PDFAriany Ribeiro AmorimAinda não há avaliações
- "O Jôgo Da Verdade" - General Emílio Garrastazu MédiciDocumento12 páginas"O Jôgo Da Verdade" - General Emílio Garrastazu MédicifabiomojicaAinda não há avaliações
- Museu Histórico Portelense Apontamentos Sobre A Trajetória de Um Acervo de Fontes Orais DoDocumento18 páginasMuseu Histórico Portelense Apontamentos Sobre A Trajetória de Um Acervo de Fontes Orais DoWalter PereiraAinda não há avaliações
- REBOUÇAS Agricultura NacionalDocumento5 páginasREBOUÇAS Agricultura NacionalMedeiros ClaudioAinda não há avaliações
- NASCIMENTO abdiAS Teatro Experimental Do NegroDocumento16 páginasNASCIMENTO abdiAS Teatro Experimental Do NegroEduardo Navarrete100% (1)
- A Era Do Capital - Cap 1 - A Primavera Dos PovosDocumento4 páginasA Era Do Capital - Cap 1 - A Primavera Dos PovosJéssica AndradeAinda não há avaliações
- 2015 EdilzaCorreiaSotero VCorrDocumento314 páginas2015 EdilzaCorreiaSotero VCorrGustavo RossiAinda não há avaliações
- Fontes - 2002 - São Miguel PaulistaDocumento399 páginasFontes - 2002 - São Miguel PaulistaMarcos Virgílio da SilvaAinda não há avaliações
- Tese - O Império Das (Nas) Municipalidades.Documento602 páginasTese - O Império Das (Nas) Municipalidades.Williams Andrade De SouzaAinda não há avaliações
- 1930 - 1945 - Era VargasDocumento98 páginas1930 - 1945 - Era Vargaspablo_tahimAinda não há avaliações
- Jorge Ferreira - O Nome e A Coisa o Populismo Na Politica Brasileira PDFDocumento26 páginasJorge Ferreira - O Nome e A Coisa o Populismo Na Politica Brasileira PDFMateus NascimentoAinda não há avaliações
- TEXTO 4 - A Revolucao MexianaDocumento27 páginasTEXTO 4 - A Revolucao MexianaDavi Santos BarrosAinda não há avaliações
- 2 - IANNI, Octavio. Cap II - Classes Sociais e Contradições de Classes. IN Sociologia - Karl MarxDocumento22 páginas2 - IANNI, Octavio. Cap II - Classes Sociais e Contradições de Classes. IN Sociologia - Karl MarxCesar de Lucca50% (2)
- Estudos Econômoicos v. 17 N. Especial (1987) - O Protesto Escravo IDocumento142 páginasEstudos Econômoicos v. 17 N. Especial (1987) - O Protesto Escravo IPedro Henrique Garcia Pinto De AraujoAinda não há avaliações
- BORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e Os Governos Militares. in - O Brasil Republicano - o Tempo Da DitaduraDocumento2 páginasBORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e Os Governos Militares. in - O Brasil Republicano - o Tempo Da DitaduraxdalmoxAinda não há avaliações
- Domenico Losurdo As Raízes Norte-Americanas Do NazismoDocumento9 páginasDomenico Losurdo As Raízes Norte-Americanas Do NazismoAnselmo Sum DutraAinda não há avaliações
- Apresentação TEIXEIRA, Aloísio. Utópicos, Heréticos e Malditos.Documento20 páginasApresentação TEIXEIRA, Aloísio. Utópicos, Heréticos e Malditos.jfrandalozoAinda não há avaliações
- Celia Maria Marinho de AzevedoDocumento14 páginasCelia Maria Marinho de AzevedoEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- PORTO GONÇALVES - A Reinvenção Dos TerritoriosDocumento49 páginasPORTO GONÇALVES - A Reinvenção Dos TerritoriosflaviabvAinda não há avaliações
- ABRANCHES, A. M. Nacionalismo e Democracia No Pensamento de Guerreiro Ramos PDFDocumento198 páginasABRANCHES, A. M. Nacionalismo e Democracia No Pensamento de Guerreiro Ramos PDFtahcorreaAinda não há avaliações
- História Do Anarquismo e Do Sindicalismo de Intenção Revolucionária No Brasil - Kauan Willian Dos Santos e Rafael Viana Da Silva (Organizadores)Documento226 páginasHistória Do Anarquismo e Do Sindicalismo de Intenção Revolucionária No Brasil - Kauan Willian Dos Santos e Rafael Viana Da Silva (Organizadores)Rafael V. Soto MayorAinda não há avaliações
- Os Ardis Do Capitalismo - MartinelliDocumento1 páginaOs Ardis Do Capitalismo - MartinelliBianca PinaAinda não há avaliações
- Socialismo, Comunismo e ColetivismoDocumento15 páginasSocialismo, Comunismo e ColetivismoNilzo Lima FigueiredoAinda não há avaliações
- A Luta de Libertacao Nacional Na AfricaDocumento17 páginasA Luta de Libertacao Nacional Na AfricaPowerGuido69Ainda não há avaliações
- História Do Brasil - Regime MilitarDocumento27 páginasHistória Do Brasil - Regime MilitarEwerton MoreiraAinda não há avaliações
- Jornal Como Fonte E/ou Objeto Da Escrita HistóricaDocumento21 páginasJornal Como Fonte E/ou Objeto Da Escrita HistóricaOslan Costa RibeiroAinda não há avaliações
- CUNHA JR., Henrique. Quilombo - Patrimônio Histórico e Cultural PDFDocumento10 páginasCUNHA JR., Henrique. Quilombo - Patrimônio Histórico e Cultural PDFluaneAinda não há avaliações
- O Brasil e A América EspanholaDocumento398 páginasO Brasil e A América EspanholaJoão Escosteguy Filho100% (1)
- RIBEIRO MATIAS. A Universidade Necessária em Darcy Ribeiro PDFDocumento7 páginasRIBEIRO MATIAS. A Universidade Necessária em Darcy Ribeiro PDFLenioAinda não há avaliações
- Hochman 9788575413111 PDFDocumento569 páginasHochman 9788575413111 PDFAntonia Mara Neves100% (1)
- Entrevista Lelia MnuDocumento12 páginasEntrevista Lelia MnuAnonymous CHAkpy3wrAinda não há avaliações
- Efeitos Da Ditadura No Trabalho de HenfilDocumento24 páginasEfeitos Da Ditadura No Trabalho de HenfilFabio BolaAinda não há avaliações
- A Esquerda Militar No Brasil PDFDocumento4 páginasA Esquerda Militar No Brasil PDFandrequeirozujs100% (2)
- Integralismo e Fascismos: Exposição Entre Diferenças e Semelhanças-Felipe Azevedo CazettaDocumento11 páginasIntegralismo e Fascismos: Exposição Entre Diferenças e Semelhanças-Felipe Azevedo CazettatemporalidadesAinda não há avaliações
- Clóvis Moura e o Livro 'Rebeliões Na Senzala': Um Breve Panorama Sobre o Debate Da Resistência Escrava - Gustavo Orsolon de SouzaDocumento4 páginasClóvis Moura e o Livro 'Rebeliões Na Senzala': Um Breve Panorama Sobre o Debate Da Resistência Escrava - Gustavo Orsolon de SouzatemporalidadesAinda não há avaliações
- O Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Documento18 páginasO Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Gabriel CrivelloAinda não há avaliações
- A Revolucao de 1930 - Boris FaustoDocumento2 páginasA Revolucao de 1930 - Boris FaustoAlexandre ZiniAinda não há avaliações
- Maria Amelia Salgado Loureiro - O IntegralismoDocumento44 páginasMaria Amelia Salgado Loureiro - O IntegralismozoopoAinda não há avaliações
- Da Matta, Roberto - Digressão - A Fábula Das Três RaçasDocumento11 páginasDa Matta, Roberto - Digressão - A Fábula Das Três RaçasBia BiaAinda não há avaliações
- Riassunto Razoes Da Desordem PDFDocumento3 páginasRiassunto Razoes Da Desordem PDFGiulia Gigantino100% (1)
- Angela Alonso - A Política Das Ruas - Protestos em São Paulo de Dilma e TemerDocumento10 páginasAngela Alonso - A Política Das Ruas - Protestos em São Paulo de Dilma e TemerpkandradeAinda não há avaliações
- Cronograma 15 Semanas PDFDocumento14 páginasCronograma 15 Semanas PDFGaspard de la NuitAinda não há avaliações
- Lei de Drogas - Foca No Resumo PDFDocumento27 páginasLei de Drogas - Foca No Resumo PDFANTONIO SANDESAinda não há avaliações
- Anais Do I URBFAVELASDocumento118 páginasAnais Do I URBFAVELASmarianacicutoAinda não há avaliações
- Módulo 3 - Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer)Documento102 páginasMódulo 3 - Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer)Rute FaroleiraAinda não há avaliações
- Edital de Processo Seletivo Simplificado Processo Seletivo #002/2021Documento16 páginasEdital de Processo Seletivo Simplificado Processo Seletivo #002/2021Weberton Henrique Vieira da SilvaAinda não há avaliações
- Simulado Concurso Professor - Pedagogia Da AutonomiaDocumento4 páginasSimulado Concurso Professor - Pedagogia Da AutonomiaAnonymous aPzoIa4Ainda não há avaliações
- MONOGRAFIADocumento49 páginasMONOGRAFIAGlaucijane SouzaAinda não há avaliações
- IIT - 2019 - 2020 - Cap2 - 2.5. O Papel Do Guia-Intérprete PDFDocumento6 páginasIIT - 2019 - 2020 - Cap2 - 2.5. O Papel Do Guia-Intérprete PDFКристина БулатовичAinda não há avaliações
- FutetênisDocumento10 páginasFutetênisJohnny HerbertAinda não há avaliações
- PARECER SOCIAL - Celia RamosDocumento1 páginaPARECER SOCIAL - Celia RamosYOHANA PEREIRA RAMOSAinda não há avaliações
- DR - n2019 - 14 - SI Lei Base Do Sistema Educativo - 2018Documento24 páginasDR - n2019 - 14 - SI Lei Base Do Sistema Educativo - 2018Homildo FortesAinda não há avaliações
- Conhecimentos Pedagógicos - IFRN - Pedagogo - EstratégiaDocumento70 páginasConhecimentos Pedagógicos - IFRN - Pedagogo - EstratégiaAndre LuizAinda não há avaliações
- Estilística LéxicaDocumento10 páginasEstilística LéxicaBruno FelipeAinda não há avaliações
- ADI 5874 - Decisão Da Ministra Cármen LúciaDocumento18 páginasADI 5874 - Decisão Da Ministra Cármen LúciaMetropolesAinda não há avaliações
- Doe Tcepb 2320 06 11 2019Documento13 páginasDoe Tcepb 2320 06 11 2019Pedro FleuryAinda não há avaliações
- Folder - ModeloDocumento4 páginasFolder - ModeloTelios AmbientesAinda não há avaliações
- Marketing Digital IDocumento18 páginasMarketing Digital ISONIA RIBEIROAinda não há avaliações
- Etapas de EntrevistaDocumento3 páginasEtapas de Entrevistamansoli5612Ainda não há avaliações
- Aula 17 - Comercializacao - Sementes e MudasDocumento12 páginasAula 17 - Comercializacao - Sementes e MudasLucas Pereira SampaioAinda não há avaliações
- LV 25 Anos NGHD MIOLODocumento112 páginasLV 25 Anos NGHD MIOLOunformattedAinda não há avaliações
- NotaFiscal ModeloDocumento1 páginaNotaFiscal ModeloALLAN DE ARAUJO RIBEIROAinda não há avaliações
- Direito Penal Parte Geral Grade Curricular Sistema T E R2Documento3 páginasDireito Penal Parte Geral Grade Curricular Sistema T E R2Elisangela CosttaAinda não há avaliações
- Administradores #18Documento64 páginasAdministradores #18Alexandre MagnoAinda não há avaliações
- APMG. Guia de Certificação de Parcerias Público-Privadas. Capitulo 1 - Parceria Público-Privada - Introdução e Perspectiva PDFDocumento192 páginasAPMG. Guia de Certificação de Parcerias Público-Privadas. Capitulo 1 - Parceria Público-Privada - Introdução e Perspectiva PDFLeonardoAntonacciAinda não há avaliações