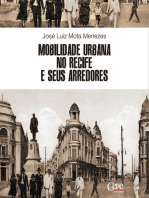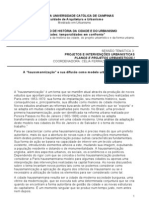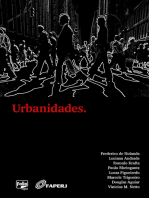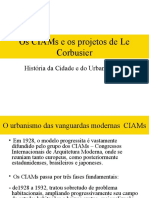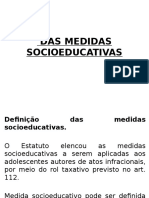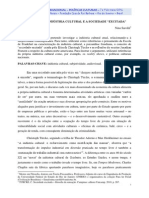Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento Do Livro: Quando A Rua Vira Casa
Enviado por
Azul Araújo50%(2)50% acharam este documento útil (2 votos)
2K visualizações0 páginaEste documento descreve uma pesquisa sobre como moradores de bairros urbanos se apropriam de espaços públicos. Analisa como ruas em dois bairros do Rio de Janeiro, Catumbi e Selva de Pedra, são usadas para lazer, encontros sociais e atividades econômicas. Busca entender como os moradores constroem significados e regras de uso desses espaços de forma autônoma, ignorando concepções técnicas ou acadêmicas.
Descrição original:
fichamento da obra de carlos nelson ferreira dos santos e anro vogel
Título original
Fichamento do livro: Quando a Rua Vira Casa
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento descreve uma pesquisa sobre como moradores de bairros urbanos se apropriam de espaços públicos. Analisa como ruas em dois bairros do Rio de Janeiro, Catumbi e Selva de Pedra, são usadas para lazer, encontros sociais e atividades econômicas. Busca entender como os moradores constroem significados e regras de uso desses espaços de forma autônoma, ignorando concepções técnicas ou acadêmicas.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
50%(2)50% acharam este documento útil (2 votos)
2K visualizações0 páginaFichamento Do Livro: Quando A Rua Vira Casa
Enviado por
Azul AraújoEste documento descreve uma pesquisa sobre como moradores de bairros urbanos se apropriam de espaços públicos. Analisa como ruas em dois bairros do Rio de Janeiro, Catumbi e Selva de Pedra, são usadas para lazer, encontros sociais e atividades econômicas. Busca entender como os moradores constroem significados e regras de uso desses espaços de forma autônoma, ignorando concepções técnicas ou acadêmicas.
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
Livro:
Quando a Rua Vira Casa
Autores:
Carlos Nelson F. dos Santos (coordenador)
Arno Vogel
Marco Antonio da Silva Mello
Orlando Mollica
SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos; VOGEL, Arno. Quando a rua vira casa: a
apropriao de espaos de uso coletivo em um centro de bairro. 3 ed. So
Paulo: Projeto FINEP/IBAM, 1985. 156p.
Fichamento:
APRESENTAO
preciso saber quais os verdadeiros efeitos de determinadas aes sobre o meio
urbano. Cidades no so objetos idealizveis abstratamente e nunca se comportam
de acordo com as fantasias de quem as trata desta forma. (pag7)
Quando acaba o trabalho dos projetistas e dos construtores de forma geral, e os
usurios comeam a usufruir o espao pronto: (...) neste momento crtico de incio
e de estria que os trabalhos urbansticos so dados por terminados. Na verdade
esto comeando(...). (pg7)
Fala-se da necessidade do lazer na vida moderna, nos seus efeitos aliviadores da
tenso e reabastecedores da energia consumida pelas dificuldades em viver e em
trabalhar ambientes cada dia mais densos e congestionados. (pg8)
Registra-se o tratamento injusto dado maioria das populaes urbanas, pobres
que no merecem atenes maiores, sendo quase todos os investimentos pblicos
relativos ao lazer concentrados nas sees mais ricas e valorizadas das cidades.
(pag8)
O que ruim nesta histria toda o excesso de discursos desvinculados das aes
urbansticas. urgente procurar saber duas coisas: 1 como est acontecendo o
lazer em reas tidas como despreparadas e como o espao est sendo apropriado
para se fazer o que; 2 o que se passa com os locais espacialmente desenhados
para abrigar atividades imaginadas como convenientes para a recreao de um
determinado grupo de moradores. Como se v, uma tentativa de questionar a fundo
conceitos e representaes em suas verses eruditas e do senso comum, a partir da
anlise do que aparece, primeira vista, como simples e bvio. (pag8)
(...) o urbanismo s existe enquanto seja um fazer que fornea os elementos
corretivos para novas aes atravs da crtica dos acertos e erros das anteriores.
(pag9)
INTRODUO
O presente estudo quer aprofundar o conhecimento dobre as formas de apropriao
destes espaos de uso coletivo. (pag11)
Tm sido feitos regulares investimentos em centros de bairro, acreditando
corretamente em seu potencial simblico e multiplicador. (pag11)
O saber que permite arriscar previses para as cidades merece ser revisto a prazos
curtos, j que suas conseqncias se fazem sentir sobre nmeros considerveis de
pessoas e correspondem a investimentos de recursos financeiros, sempre escassos
em relao s demandas coletivas. (Pg12)
(...)uma elite acadmica ou tcnica, detentora de um saber-fazer, considera sua
tarefa natural a instruo da massa. Esta seria passiva por excelncia e estaria
sempre receptiva e disposta a incorporar indicaes superiore e iluminadas quanto
aos melhores caminhos para a construo ou apropriao dos seus espaos
sociais. (pag12)
A proposta da pesquisa consiste em uma prospeco de processos e de categorias
que, revelia das suposies tcnicas ou acadmicas, organizam as formas de
classificar e usar o espao coletivo. Trata-se de uma opo antropolgica. (pgs 12-
13)
Objetivos
Entendemos que em qualquer sociedade h cdigos culturais que viabilizam a
leitura, a apropriao e o aproveitamento dos lugares. (pag13)
H dois tipos principais de espaos nas nossas cidades: o construdo, fechado e, em
maior ou menos grau, privatizado (exs. casas, lojas, fbricas, oficinas, escolas,
bares); e o aberto e de uso coletivo (exs. ruas, becos, largos, praas, jardins
pblicos, praias). (pag13)
jogos, reunies, festas, encontros, cerimnias e atividades assemelhadas que se
oponham s idias de privacidade e de intimidade, encontram na rua o seu lugar
ideal. (pag13)
Universo
Tanta diversidade expressiva deu lugar a prticas de identificao comunitria: os
moradores conseguiram se organizar em torno de uma Associao que h quinze
anos vem lutando contra os planos oficiais de renovao urbana que teimam em
ignorar os seus interesses de permanncia. por isto que o bairro ainda existe,
cercado pelas runas dos lugares onde outrora viveram seus vizinhos, que no
tiveram condies de resistir. (pg14) (caso do bairro Catumbi)
O Caso de Controle
O ngulo escolhido para abordar o Catumbi como unidade espacial e ideolgica foi
a apropriao das reas de uso coletivo com fins de lazer. (pag14)
Ao contrrio do Catumbi, na Selva de Pedra j existe um plano de renovao urban
plenamente realizado. (pag15)
PRIMEIROS CONTATOS
(...) intensificaram-se as demolies(...). O levantamento etnogrfico se tornou
urgente e necessrio, alterando as lgicas da metodologia to cuidadosamente
programada. (pag21)
O bairro, que havia sofrido uma escalada de desapropriaes e demolies que
possibilitaram estas obras de vulto, estava espera do assalto final. (pg 21)
Alguns Limites Consensuais
Os edifcios foram demolidos e as ruas desfeitas. Asfalto e concreto soterraram
soleiras e quintais. (pag21)
Comeando pela Etnografia de Trs Ruas
Ruas servem como referenciais definidores dos limites de um determinado territrio.
So tambm unidades de alto significado para quem sabe reconhece-las. (pag23)
A palavra rua vem do latim ruga. Primitivamente o vocbulo significava um sulco
situado entre dois renques de casas ou muros em uma povoao qualquer. Os
romanos costumavam imaginar o urbano sem o recurso noo e imagem de
ruas. A importncia de que desfrutam pode ser percebida pela constatao da
quantidade de atividades e significados para os quais servem de apoio ou de locus.
(pag24)
Podemos medir-lhes o fluxo, avaliar a carga de trfego que suportam, hierarquiza-
las, testa-las quanto vocao circulatria, etc. Mas, as ruas que no so mais do
que vias de passagem esto animadas por um s tipo de vida e mortas para todo o
resto. No so as que nos interessam. (pag24)
(...) o grande acontecimento: a procisso. (pag25)
A Rua das Fogueiras
A rea est vivendo uma fase de transitoriedade fsica e moral. Moradores e
invasores esto se complementando de forma paradoxal. O primeiros so vtimas do
processo de modernizao da cidade levado a cabo pelo urbanismo oficial. O
ltimos so exemplos do desprezo com que so tratados segmentos inteiros da
sociedade brasileira e da explorao cruel com que se escreve a recente histria
urbana do pas. (pag29)
O armazm evoca espaos domsticos. uma extenso do lar dos proprietrios,
que moram nos fundos. (pag30)
So nestes dois lugares que se vem diariamente as pessoas da rua; os seus
moradores. (armazm e atelier de costura) (pag30)
quando a rua passa a ser usada como significante comum. (pag30)
(...) os vizinhos fazem fogueiras prximas ao meio-fio da rua, em torno das quais se
renem. (pag30)
As fogueiras esto a indicar um modo peculiar de apropriao do espao pblico
das ruas e das caladas. (pag30)
A rua Sob Controle
As desapropriaes seccionaram o tecido do bairro, desmantelando unidades
completas que mantinham relaes internas de carter simbitico. (pag32)
A associao, preocupada com os intrusos que tomam conta dos edifcios
abandonados, passou a escrever com tinta vermelha nas fachadas: Este imvel
est sob controle da Associao de Moradores do Catumbi.(pag32-33)
Tivemos que ir aprendendo a ver o lugar e comeamos a formular questes que
fundamentassem a etnografia pretendida. Isto significou ir, aos poucos, tomando p
na situao do bairro e nas suas particularidades.(pag34)
O Viaduto da Linha Lils
O fato de suportar uma infinidade de atividades sob seus vos, no elide seu
carter de smbolo, de marco da tragdia que a renovao urbana trouxe aos
moradores do bairro. (pag39)
Demolir casas, afinal de contas, significa muito mais do que desfazer abrigos.
Significa, s vezes, derrubar um modo de vida. (pag40)
A Rua dos Ciganos
As descontinuidades, dentro de uma arquitetura vernacular do gnero, remetem a
um sistema de signos que fala de status, afiliaes religiosas, identidades tnicas,
situaes econmicas; enfim, dos planos da organizao social e do sistema de
relaes que permeiam a vida no bairro. (pag47)
A fachada contnua do correr de casa registra a memria da rua, no apenas no
sentido da profundidade no tempo, mas tambm como memria descritiva de uma
totalidade atual espacialmente contida. (pag47)
A Economia da Rua
A anlise de espaos deve leva em conta as atividades que se do nos seus
diversos recortes. (pag48)
Mas, na variao mesma dos eventos possveis, existe uma estrutura que torna o
espao apenas mais uma dimenso do social.(pag48)
A regularidade existe precisamente em todas as maneiras pelas quais um local
venha a ser, de fato, apropriado e usado. As regras de utilizao do espao esto
permanentemente em construo. Mas, ao faze-lo, a sociedade estar tambm
construindo um conjunto de relaes teis a seus intrpretes.
As atividades como que escolhem seus espaos, apropriando-se deles,
conformando-os, e sendo conformadas de volta. (pag49)
Em resumo, diramos que um espao sempre o espao de alguma coisa, assim
como as coisas s podem ter lugar em algum espao. O problema da adequao de
forma e contedo se revela uma falsa questo. Da resulta uma dificuldade prtica: a
etnografia de um espao social no pode ser seno a etonografica do que se passa
nele. (pag49)
A Casa e a Rua - Uma Descrio
De imediato, separam0se a rua, espao conotado pela externalidade e o quintal
que, no sento casa, , no entanto, da casa; que apensa de externo, no rua. (...)
A casa, porm, olha igualmente para a rua e para o quintal. (pag49)
A sala (...) uma exposio da casa dentro da prpria casa. (pag50)
Em determinados momentos o quintal (...) vira uma sala informal. O trao de unio
lgica entre o quintal e a sala , ento a hospitalidade. (pag50)
A oposio Casa x Rua vem acompanhada da idia de gradao, tal como aplicado
ao conjunto dos espaos que designamos pela categoria inclusiva de casa (da
Matta, 1979). A rua como domnio oposto ao da casa, tenderia a identificar-se com o
pblico, o formal, o visvel e o masculino. A casa, como sua contrapartida, estaria
vinculada, em princpio, ao privado, ao informal, ao invisvel e ao feminino. Estes, no
entanto, so apenas plos de um eixo para a compreenso do universo social. Os
dados da percepo distintiva do masculino/feminino, do visvel/invisvel, do
pblico/privado, do formal/informal, bem como do dentro/fora, so codificados
diversamente, nas diferentes culturas. So significantes privilegiados cuja
combinao e significados variam contextualmente. (pg 50-51)
A rua pode ser invocada como lugar de passagem, como caminho que leva ao
trabalho, ao lazer, ao culto, mas ela mesma d lugar a todas essas atividades.
(pag51)
As caladas pertencem s casas, o que no significa que sejam parte das mesmas
enquanto propriedade. O seu carter pblico contrasta, por vezes, com as formas
pelas quais so circunstancialmente utilizadas. (pag51)
As relaes mediadas por uma janela-balco situam-se num outro domnio do social
- o trabalho. (pg 53)
A porta aberta (ou entreaberta), sobre a soleira de cantaria, (...) o limiar da casa.
(pag54)
Mas, em ltima anlise, principalmente atravs das portas que o espao da casa
extravaza (sic) para a rua. (pag54)
Alm das casas de famlia, tambm as oficinas, garagens, armazns e quitandas
podem apropriar-se do espao das caladas. (pag54)
As ruas que terminam em dead-end, ou que foram seccionadas por uma
interveno urbanstica favorecem essa atividades e tornam possvel uma
apropriao mais ampla do meio da rua. (pag54)
As Segundas-feiras
A feira voltou recentemente. Mas em outro lugar - na rua Emlia Guimares. Mais
uma vez pode ser vista como mediadora. (pag61)
Surge como que uma nova rua dentro da Emlia Guimares. (pag61)
H tambm o relacionamento com os moradores do morro. A distncia que costuma
separa-los, fsica e socialmente, reduz-se. (pag62)
Laranjas descascadas (para comer na hora), sucos de frutas, as provinhas obtidas
do feirante, a observao de curiosidades, como grilos saltadores e cobras-de-papel
que correm pelo cho sobre um retrs, tudo isso propicia ocasies de lazer,
interrompendo o trabalho dos que fazem feira, proporcionando-lhes um
divertimento, alm da oportunidade de travarem relaes jocosas entre si. (pag62)
OS TRABALHOS E OS DIAS
Desvendar, analiticamente, o familiar pode dar a impresso de estarmos
sistematizando obviedades. (pag65)
Nossa etnogrfica comeou pela busca de uma gramtica. Ocupou-se em descobrir
um sistema de categorias e relaes entre categorias que deve existir em qualquer
recorte do social simplesmente para que ele seja vivel e plausvel. (pag67)
Espaos, Valores e Atividades
A primeira coisa que procuramos descobrir foi como os moradores do bairro ( em
particular da rua Emlia Guimares) classificavam os espaos. Para que venha a t-
lo, preciso que se lhe atribuam determinados valores e categorias (Durkheim, E.
Mauss, M. 1903). (pg67)
Entre si, os elementos do conjunto constituem um sistema de relaes
hierarquizado uma gramtica. (pg67)
Falamos de casa e rua, quintal e calada, de meio da rua, ou ainda de janelas,
portas e balces porque constituem pores do espao e referncias no espao.
(pg67)
(...) um sistema de espaos s existe em conexo com um sistema de valores,
ao passo que ambos so impensveis sem a correlao necessria com um
sistema de atividades. (pg 67-68)
O artifcio consiste na distino de um conjunto articulado de espaos, associado a
um conjunto articulado de valores. O primeiro abrange as categorias casa e rua,
enquanto recortes do espao, e todas as categorias que lhes so homlogas
(quintal, calada, etc.). O segundo abrange as noes de pblico e privado com
todos os seus possveis matizes, a formalidade ou informalidade, a visibilidade ou
invisibilidade aplicveis ao primeiro. Existe, no entanto, o tertius quid - o sistema de
atividades ou usos que se aplica por sua vez aos dois anteriores, dando-lhes uma
dinmica graas qual se prestam manipulao. A sua funo seria a de articular
categorias como praticar ou desfrutar o lazer, trabalhar, morar, com todas as suas
possveis modalidades. As combinaes destes trs sistemas se situam, no
entanto, num eixo temporal. Em funo disso a totalidade social surge no seu carter
processual e dinmico. (pag68)
Combinando Tudo
A conjuno do morar com o trabalhar num mesmo recorte da classificao
sempre problemtica e requer redefinies e, portanto novos recortes do espao.
(pag69)
Um ponto vem a ser um espao, nas caladas, nas esquinas ou no leito da rua, que
apropriado por determinadas prticas e pelas pessoas que a elas se dedicam. O
ponto-do-bicho um bom exemplo desta forma de apropriao do espao coletivo.
Assenhorear-se de um local atravs de uma atividade, implica, de certa forma, em
particulariza-lo no s pela especializao que lhe passa a ser atribuda em termos
de uso, mas tambm pela conseqente vinculao a pessoas, grupos, turmas e
patotas. O pondo pode ser ligado ao trabalho ou ao lazer e caracterizado pelo
exerccio regular de uma atividade. Tal atividade ter de ser necessariamente de
domnio pblico, sem o que seria incapaz de criar o ponto. Este, por sua vez, poder
ser formalmente reconhecido como no caso do ponto de nibus, ponto de txi. O
processo, no entanto, no o mesmo observado no caso do ponto-de-bicho. Aqui
ser a prpria atividade que, ao dota-lo de significao, torna-o passvel de
identificao. Uma casa, porm, s poder ser reconhecida como ponto na medida
em que se acentue sua face pblica por complementos sob forma de signos.
necessrio, no entanto, algo mais do que um signo para constituir um ponto. (pg
70)
Classificao: Um lugar de muitos lugares
Sabemos, no entanto, que a diversidade uma dimenso sem a qual o lugar no
pode ser imaginado. Se verdade o que propomos, esta diversidade um elemento
estrutural do conjunto das relaes scio-espaciais que confere ao bairro a sua
identidade tradicional. (pag71)
No h dvida que o sentido relevante, pois a casa o lugar da moradia, como a
rua o lugar, o domnio do trabalho. Se tomarmos ento, a oposio casa e rua
como significando, respectivamente, moradia e trabalho, fica difcil entender como
possvel que o alfaiate trabalhe em casa, enquanto o freqentador do armazm, que
pertence ao domnio da rua e, portanto, do trabalho, possa dizer dele que sua
casa. (pag73)
As condies da Diversidade
(sobre Jane Jacobs,1973) A partir da sua experincia de crtica urbana, procura
descobrir o que torna as cidades atraentes. Busca na experincia das ruas, dos
bairros, dos variados ambientes urbanos que compem uma cidade, as condies
que a tornam vivel. (pag78)
Nesse sentido, a diversidade urbana, alm de ser uma propriedade das cidades,
deve ser reconhecida como o princpio que as torna cidades. (pag78)
(...)o cotidiano, com sua inevitvel mistura, com suas combinaes complexas
variveis e cambiantes, devia ser a verdadeira fonte e o foco do conhecimento
urbano. (pag78)
Jane Jacobs sintetiza quatro fatores que podem favorecer um optimum de
diversidade num recorte qualquer do tecido da cidade. A multiplicidade de usos
primrios, a necessidade de quadras pequenas, a mistura de edificaes de idades
variadas e uma certa densidade, inclusive residencial, so, para ela, os geradores da
diversidade urbana (jacobs, 1973:162). (pag78)
As desapropriaes expulsaram do bairro unidades domsticas inteiras, e em
grande quantidade. Favoreceram, verdade, o aparecimento de uma nova categoria
de morador e permitiram uma recomposio precria da densidade. Ocasionaram,
no entanto, um perigoso processo de degradao da identidade local. (pg 82)
A Importncia da Diversidade como Princpio Estrutural do Urbano
Comeamos a etnogrfica do Catumbi pelas ruas. Nossa primeira intuio
apontava-as como lugares especialmente favorveis apreenso da maneira pela
qual os habitantes do bairro se apropriavam do espao de uso comum para diversos
fins, inclusive, e principalmente, para o lazer. Por isso decidimos considera-las como
methodos. Elas deviam ser, se a situao era correta, os meios atravs dos quais
era possvel chegar ao sistema de relaes que, nessa sociedade, orientava o uso
dos espaos. (pg82)
Assim, consideramos o significado da rua como sendo o uso ou a multiplicidade de
usos efetivos que dela se fazem. (pag82)
A rua o lugar onde se d o social tambm como espetculo. Da o seu fascnio.
o palco por excelncia do social. (pag83)
Troca, evitao e conflito vo sempre juntos. So termos virtuais de qualquer
relao social e como tais sero considerados. (pag84)
O Contato: A Rua como espao de Sociabilidade
Sua verdadeira importncia fica evidente a partir do momento em que venham a ser
reconhecidos como elementos de um conjunto. O conjunto dos contatos uma das
dimenses em que a diversidade se manifesta e pode ser apreendida. (pg 87)
Mediar, portanto, significa tambm, saber reconhecer as diversas formas e critrios
de aferio de um desempenho em mltiplos contextos. Significa combinar
conhecimentos e habilidade, ou seja, regras e modos vigentes nos domnios sociais
a serem mediados. Isto confere ao indivduo a capacidade legitimada de traduzir
mutuamente estes domnios. (pag88)
O tempo no bairro dir quem ou no confivel. (pag88)
No caso, o ser igual significa ser igualmente desconhecido e, conseqentemente a
desconfiana o princpio que rege as operaes de troca. (pag89)
Muitos Olhos Segurana e Socializao nas Ruas
Estranhar-se desentender-se. perder o solo comum que tornava a troca e
interao possveis.(pg 90)
Como os contatos ocorrem em espao pblicos,(...), podemos aceita-los como atos
pblicos. Eles constituem e alimentam a rede de relaes graas qual se produz
socialmente a confiana. (pag93)
A casa e a rua so elementos do urbano e essa qualidade partilhada as faz
membros de uma classe. (pag94)
Relacionando os dois pares, temos que a casa est para a rua assim como o
provado est para o pblico. Isto quer dizer que guardam entre si o mesmo tipo de
distncia e constituem recortes da mesma ordem de determinados continua. A
casa pode equacionar-se com o pblico, e a rua com o privado, embora, primeira
vista, isso possa parecer paradoxal. (pag95)
Lembramos que existem casas que, enquanto recortes do espao urbano , so
pblicas. Existem ruas particulares, ou momentaneamente particularizadas,
quando, por algum motivo, se fecham, como no caso de festas, feiras, etc. (pag95)
A relatividade do pblico e do privado, ou da casa e da rua, fica mais evidente
ainda se considerarmos sua relao com os respectivos grupos que usam esses
espaos, ou que tm pertinncia dentro deles. A casa est para a famlia como a rua
est para os moradores (pag96)
A Passarela do Samba, sambdromo(...). Neste caso, o ritual de inverso ficou
por conta do poder pblico e dos planejadores, e no do carnaval. Este costuma
redefinir o espao da cidade invertendo-o, para seus efmeros festejos. Aqueles
eternizam o momento, destinando-lhe uma forma exclusiva. (pag102)
Temos a, mais uma vez, a ilustrao da maldio dos vazios fronteirios. Nada
pior do que este tipo de rea para o lazer das crianas e adolescentes. Delas est
ausente a sociedade nas sua complexidade. Livres da vigilncia dos proprietrios
naturais da rua(...). (pag103)
O CASO DE CONTROLE: A SELVA DE PEDRA
Cada um por si
considerado bom vizinho aquele que no perturba. (pag115)
Os blocos de edifcios funcionam, em primeiro lugar, como espao-abrigo(Costa,
1976). Como habitao, no sentido estrito. Atendem s necessidades bsicas do
morar recuperao e abrigo fsico e psquico (sono, alimento, higiene, etc.). Neste
sentido correspondem casa como lugar das relaes de substncia do grupo
domstico na sua forma mais restrita e nucleada. (pag115)
A busca de segurana no isolamento sempre referida em dois contextos quando
se fala da privacidade, como um valor eletivo do estilo de viver (sempre em oposio
aos ambientes em que todo mundo se conhece), ou quando se fala do crescimento
e da transformao do bairro. (pag116)
O Defeito dos Ricos: A Selva
O depoimento revela o carter precrio do controle do espao que, aliado ao temor
de represlias e ao grau elevado de impessoalizao vigente, so os grandes
responsveis pela insegurana. (pag122)
Faltam instncias de mediao e incorporao dos estranhos na Selva de Pedra.
Por isso mesmo a vida pblica com suas redes de contatos e conhecimentos paece
precria. Os ambulantes, jornaleiros ou o pessoal das portarias dos prdios supre
um pouco a deficincia. Mas a impresso que fica a da ausncia de relaes
pessoais no espao pblico. Falta a comunidade nas ruas. (pag122)
CONCLUSO: RUA OU SELVA DE PEDRA?
Queramos recuperar um know-how que supnhamos existir nas regies urbanas
de desenvolvimento autnomo. Suspeitvamos que teriam muito a transmitir.
(pag127)
As reas planejadas mereciam-nos uma certa desconfiana. O planejamento tinha
conotaes de uma interveno normativa autoritria, cuja competncia e eficcia
pareciam duvidosas (pag127)
O Mundo da Rua
O princpio da diversidade, como ressalta a etnografia, d margem a muitas
conjunes de espao e atividade. Elas no se excluem, entretanto. Os conjuntos
que formam tm fronteiras fludas. Podem recobrir-se parcial ou totalmente. Quer
dizer, no h uma coisa apropriada para cada espao, nem um espao apropriado
para cada coisa. A mistura no um acidente. um estilo da vida urbana nessa
rea. Os arranjos que produz esto limitados a um determinado espectro de
possibilidades, o que significa que existem e so admissveis e lgicos vrios tipos
de ordem. (pag128)
Casa possibilidade de combinao um conjunto. Cada conjunto um contexto. A
interseo de dois contextos, no entanto, constitui um terceiro. Deriva dessa
propriedade das classificaes politticas, que categorias e espaos sejam relativos.
Variam de acordo com o contexto: o que trabalho em um, pode ser lazer em outro.
O que pblico, em determinadas circunstncias, pode ser privado em outras. O
que casa de uma perspectiva, pode ser rua de outra. (pag128)
A pedagogia da rua, a rua como methodos, o meio fundamental de elaborao da
cidadania e da civilidade. A cidadania a convico da autopertinncia a um
universo social que compartilha um conjunto de representaes e relaes sociais. A
cidadania, mais do que um estatuto formal, o exerccio da responsabilidade com
relao ao que comum. A civilidade o manejo apropriado do sistema
classificatrio tal como o reconhecemos no outro quotidianamente. o exerccio
apropriado de aplicao das regras e, portanto, sua reproduo diria ao nvel da
sociabilidade. Seu desempenho institui, permanentemente, o social. preciso ter
tempo no bairro... (pg 130-131)
A Selva de Pedra
H uma ntida preocupao com a separao das funes e dos espaos, de
maneira que a cada funo corresponda apenas o uso que lhe adequado.
(pag132)
A linguagem funcionalmente pura tenta estabelecer uma correlao unvoca entre
um espao e a prtica para a qual foi concebido. O nico jeito de fazer isso tentar
chegar a uma classificao minuciosa e exaustiva das prticas e dos espaos, que,
no limite, corresponderia a um sistema de categorias recobrindo toda e qualquer
unidade mnima de espao ou atividade. (pag132)
Divide et Impera
O planejamento urbano racionalista acaba se transformando numa espcie de
taylorismo urbano, que segrega, particulariza e disciplina os espaos. E as
atividades, por conseqncia. Tudo para se obter maior produtividade e eficincia.
(pag135)
O dilema j se incorporou ao senso comum dos habitantes da cidade, que o
discutem, sem floreios acadmicos, mas com o envolvimento de quem precisa
resolve-lo no cotidiano.(pag135)
Voltando ao velho dilema da tradio e da modernidade, uma anlise simplista
poderia julgar que estamos diante de uma opo binria. Ou o meio urbano
tradicional com as suas casas e ruas, onde todo mundo se conhece, as relaes so
pessoalizadas, as regras e prticas de uso dos espaos comuns so negociadas por
todos, e onde h segurana e comunidade nas ruas. Ou a moderna Selva de
Pedra, com seus muitos edifcios voltados pra uma praa, onde as pessoas no se
conhecem, as relaes so impessoais, as regras e prticas de uso dos espaos
comuns esto reificadas nos regulamentos (ou no existem quando os espaos so
pblicos) aplicados pelos sndicos. E onde no h segurana porque no existem os
muitos olhos da comunidade nas ruas. (pg 140)
A lio que retiramos da anlise detida do Catumbi e da Selva de Pedra, nos diz,
em primeiro lugar, que s podemos compreende-los enquanto tipo e modos de vida
urbana, quando os vemos na posio relativa que ocupam sobre o eixo contnuo da
evoluo do Rio de Janeiro. (pg 140)
No outro estariam os condomnios exclusivos(...). (pag140)
Assim, s no de lazer o espao que de fato jamais apropriado por uma
atividade considerada de lazer no sistema classificatrio de uma determinada
sociedade ou cultura. (pag142)
Se o mundo urbano um equipamento potencial de lazer, quanto mais
complexo e diversificado, tanto mais plenamente pode ser apropriado para
este fim. Planejar espaos para fins de lazer no construir campos de
futebol, ciclovias, ou criar reas verdes. cultivar um meio urbano cujas ruas
permitam jogar uma pelada, andar de bicicleta, ou simplesmente passear
sombra. O planejar cultivar no sentido primeiro da palavra; acompanhar o
dia-a-dia, intervir dia a dia na escala do dia-a-dia. (pag142)
Você também pode gostar
- A preservação urbana e a renovação de espaços nas cidadesDocumento5 páginasA preservação urbana e a renovação de espaços nas cidadesSabrina MonteiroAinda não há avaliações
- Comunicação Oral e EscritaDocumento98 páginasComunicação Oral e EscritaNilton Goulart88% (8)
- Espacos Publicos e A Cidade Que QueremosDocumento178 páginasEspacos Publicos e A Cidade Que QueremosEG2016Ainda não há avaliações
- O Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezNo EverandO Fantasma da Utopia: Arquitetura e Pós-Modernismo, Outra VezAinda não há avaliações
- História Da Arte, Arquitetura e Urbanismo - Do Século XX Ao ContemporâneoDocumento255 páginasHistória Da Arte, Arquitetura e Urbanismo - Do Século XX Ao ContemporâneoNicólly Rodrigues100% (1)
- Urbanismo de Le CorbusierDocumento2 páginasUrbanismo de Le Corbusierfumecfumec0% (3)
- Diversidade de usos promove vitalidade urbanaDocumento48 páginasDiversidade de usos promove vitalidade urbanaAmadeu Mello100% (1)
- Compreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoNo EverandCompreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoAinda não há avaliações
- 08-PORTOGHESI 2002 (1980) - Depois Arquitetura Moderna PDFDocumento20 páginas08-PORTOGHESI 2002 (1980) - Depois Arquitetura Moderna PDFMgalo MgaloAinda não há avaliações
- Arquitetura Brasileira ModernaDocumento14 páginasArquitetura Brasileira ModernaGrazonarq100% (1)
- Criatividade e Gramatica Carlos FranchiDocumento37 páginasCriatividade e Gramatica Carlos Franchielizsm0% (1)
- Jane Jacobs e a crítica ao urbanismo modernistaDocumento92 páginasJane Jacobs e a crítica ao urbanismo modernistaInes Pozza100% (2)
- Paisagem urbana: centro e periferiaDocumento20 páginasPaisagem urbana: centro e periferiaArquiteto e Eng. TSST Bombeiro civil Rafael SantosAinda não há avaliações
- Morfologia Urbana ConceitosDocumento53 páginasMorfologia Urbana ConceitosFelipe Felix100% (1)
- A Haussmannização e Sua Difusão Como Modelo Urbano No Brasil.Documento18 páginasA Haussmannização e Sua Difusão Como Modelo Urbano No Brasil.Gilton FerreiraAinda não há avaliações
- Resenha sobre favelas e pobreza urbanaDocumento4 páginasResenha sobre favelas e pobreza urbanaBruna FrigeriAinda não há avaliações
- O significado de Raízes do Brasil segundo Antonio CandidoDocumento39 páginasO significado de Raízes do Brasil segundo Antonio CandidoCésar Aquino Bezerra100% (1)
- Carlos Lemos - Transformações Do Espaço Habitacional Ocorridas Na Arquitetura Brasileira Do Século XIXDocumento14 páginasCarlos Lemos - Transformações Do Espaço Habitacional Ocorridas Na Arquitetura Brasileira Do Século XIXlaura_zmAinda não há avaliações
- Primeiras lições sobre urbanismoDocumento107 páginasPrimeiras lições sobre urbanismoAndresa SantanaAinda não há avaliações
- Plano de massas guia paisagismoDocumento63 páginasPlano de massas guia paisagismoAzul Araújo100% (1)
- As Construções Da Maternidade Do Período Colonial À Atualidade Uma Breve Revisão BibliográficaDocumento8 páginasAs Construções Da Maternidade Do Período Colonial À Atualidade Uma Breve Revisão BibliográficaJonathasAinda não há avaliações
- 13 - A - TAFURI, M. - Projecto e Utopia - As Aventuras Da RazãoDocumento18 páginas13 - A - TAFURI, M. - Projecto e Utopia - As Aventuras Da RazãoLiana Perez de Oliveira100% (1)
- Urbanismo ModernistaDocumento14 páginasUrbanismo ModernistaCarlos Leite Filho100% (2)
- NYdeliranteDocumento2 páginasNYdeliranteBombos Vpancora VpancoraAinda não há avaliações
- Relações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNo EverandRelações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Praças & Parques - Diretrizes de Projeto - Aula de Paisagismo PDFDocumento4 páginasPraças & Parques - Diretrizes de Projeto - Aula de Paisagismo PDFagnaldoAinda não há avaliações
- Arquitetura moderna e identidade culturalDocumento6 páginasArquitetura moderna e identidade culturalleonardofitz0% (1)
- Antropologia Do Espaço: Habitar, Fundar, Distribuir, TransformarDocumento61 páginasAntropologia Do Espaço: Habitar, Fundar, Distribuir, TransformarMonique Candeia75% (4)
- Livro Completo - O QUE É ARQUITETURA - Carlos LemosDocumento40 páginasLivro Completo - O QUE É ARQUITETURA - Carlos LemosAline Escórcio100% (1)
- Relatório Estágio Administração Escola MaputoDocumento35 páginasRelatório Estágio Administração Escola MaputoDinis Miguel MatsinheAinda não há avaliações
- A evolução da praça pública na modernidadeDocumento48 páginasA evolução da praça pública na modernidadeDavid DóriaAinda não há avaliações
- A Cidade Grega OrtogonalDocumento14 páginasA Cidade Grega OrtogonalThamires AdelinoAinda não há avaliações
- TAFURI - Arquitetura e Historiografia PDFDocumento10 páginasTAFURI - Arquitetura e Historiografia PDFAdriana Sabadi100% (1)
- Regionalismo Crítico segundo FramptonDocumento4 páginasRegionalismo Crítico segundo FramptonNatália PaesAinda não há avaliações
- UNIDADE DE HABITAÇÃO - Le CorbusierDocumento15 páginasUNIDADE DE HABITAÇÃO - Le CorbusierThay Vaz100% (1)
- Urbanismo Cultural de Sitte, Howard e UnwinDocumento18 páginasUrbanismo Cultural de Sitte, Howard e UnwinMorgana Abc100% (1)
- Peter ZumthorDocumento5 páginasPeter ZumthorRogério TeodoroAinda não há avaliações
- A teoria da Cidade-colagem de Colin Rowe e Fred KoetterDocumento32 páginasA teoria da Cidade-colagem de Colin Rowe e Fred KoetterMariano Martins80% (5)
- Proteção do Conjunto Arquitetônico de Sylvio de Vasconcellos em Belo HorizonteDocumento64 páginasProteção do Conjunto Arquitetônico de Sylvio de Vasconcellos em Belo HorizonteDi Gaudi0% (2)
- Aula08-Arquitetos Urbanismo Progressista e CulturalistaDocumento24 páginasAula08-Arquitetos Urbanismo Progressista e CulturalistaDebora TorresAinda não há avaliações
- Habitar A RuaDocumento239 páginasHabitar A Ruafdorado100% (4)
- Lições de Arquitetura - ResumoDocumento6 páginasLições de Arquitetura - ResumoRenata SilvaAinda não há avaliações
- Forma e Desenho - Louis KahnDocumento13 páginasForma e Desenho - Louis KahnFelipe MazzaAinda não há avaliações
- Capitulo 2 Do Livro História Da Cidade de Leonardo BenevoloDocumento32 páginasCapitulo 2 Do Livro História Da Cidade de Leonardo Benevoloabilio junior100% (6)
- Fichamento: Regionalismo Crítico - NESBITT, KateDocumento7 páginasFichamento: Regionalismo Crítico - NESBITT, KateJéssica Rabito ChavesAinda não há avaliações
- O Prazer Da Arquitetura (1977) - BERNARD TSCHUMIDocumento9 páginasO Prazer Da Arquitetura (1977) - BERNARD TSCHUMIJaquelineRibeiro100% (1)
- Fichamento - Kevin Lynch - Imagem Da CidadeDocumento2 páginasFichamento - Kevin Lynch - Imagem Da CidadeCaio César Lopes Mendonça100% (1)
- Apropriação de espaços públicos em bairro cariocaDocumento10 páginasApropriação de espaços públicos em bairro cariocaFelipe Fontes100% (2)
- Fichamento - Morte e Vida Das Grandes CidadesDocumento2 páginasFichamento - Morte e Vida Das Grandes CidadesLeandro Mascarenhas100% (1)
- Lições de Arquitetura de Herman HertzbergerDocumento13 páginasLições de Arquitetura de Herman HertzbergerJéssicaRayssa0% (1)
- Função Social Da Arquitetura e Do ArquitetoDocumento3 páginasFunção Social Da Arquitetura e Do ArquitetoCélio Costa100% (1)
- TAFURI - Projeto e Utopia Capítulo VDocumento8 páginasTAFURI - Projeto e Utopia Capítulo Vrodikami100% (1)
- À Procura Dos Novos Modos de Habitar - Ana Silva MoreiraDocumento123 páginasÀ Procura Dos Novos Modos de Habitar - Ana Silva MoreiraRui Corales de OliveiraAinda não há avaliações
- Brutalismo - Ruth Verde ZeinDocumento11 páginasBrutalismo - Ruth Verde ZeinDi GaudiAinda não há avaliações
- Urbanismo Le CorbusierDocumento14 páginasUrbanismo Le CorbusierTiemi CostaAinda não há avaliações
- O significado do conforto na arquitetura moderna brasileiraDocumento5 páginasO significado do conforto na arquitetura moderna brasileiraYohanna BalbinotAinda não há avaliações
- Os CIAMs e Os Projetos de Le CorbusierDocumento48 páginasOs CIAMs e Os Projetos de Le Corbusierhelrego100% (3)
- O DESENHO DE PENSAMENTO EM ÁLVARO SIZA - Universidade Lusíada Do PortoDocumento5 páginasO DESENHO DE PENSAMENTO EM ÁLVARO SIZA - Universidade Lusíada Do Portopedromrsantos2668Ainda não há avaliações
- RESUMO (Jane Jacbs, Kevin Lynch, Aldo Rossi, Rem Koolhaas, Bernado Sechi, Jan Gehl)Documento4 páginasRESUMO (Jane Jacbs, Kevin Lynch, Aldo Rossi, Rem Koolhaas, Bernado Sechi, Jan Gehl)JefersonSantosAinda não há avaliações
- A modernidade preservada na arquitetura de Antônio LuizDocumento14 páginasA modernidade preservada na arquitetura de Antônio LuizNelcia Beatriz FortesAinda não há avaliações
- Check-List de Projeto de PaisagismoDocumento5 páginasCheck-List de Projeto de PaisagismoAzul AraújoAinda não há avaliações
- Redobra 10 6Documento7 páginasRedobra 10 6Azul AraújoAinda não há avaliações
- Redobra 10 11Documento8 páginasRedobra 10 11Kelly MartinsAinda não há avaliações
- O Eixo Público-Privado Da SociabilidadeDocumento4 páginasO Eixo Público-Privado Da SociabilidadeAzul AraújoAinda não há avaliações
- Workshopcaruanas-Arquisur2022-Sem IdentificaçãoDocumento5 páginasWorkshopcaruanas-Arquisur2022-Sem IdentificaçãoAzul AraújoAinda não há avaliações
- Espaços de Uso Público em Empreendimentos de Extensão Do Tecido Urbano No Início Do Milênio: Maceió 2000-2010Documento12 páginasEspaços de Uso Público em Empreendimentos de Extensão Do Tecido Urbano No Início Do Milênio: Maceió 2000-2010Azul AraújoAinda não há avaliações
- 08-29 ProgramaçãoGeral ArquisurDocumento4 páginas08-29 ProgramaçãoGeral ArquisurAzul AraújoAinda não há avaliações
- Workshop CARUANAS-Arquisur 2022Documento5 páginasWorkshop CARUANAS-Arquisur 2022Azul AraújoAinda não há avaliações
- Bicicletaalternativa MCZDocumento8 páginasBicicletaalternativa MCZAzul AraújoAinda não há avaliações
- Grafitti em Tempos Da Pandemia - SABBATINIDocumento30 páginasGrafitti em Tempos Da Pandemia - SABBATINIAzul AraújoAinda não há avaliações
- 123 322 3 SPDocumento20 páginas123 322 3 SPbertameAinda não há avaliações
- Manual de Identidade Visual da UfalDocumento36 páginasManual de Identidade Visual da UfalAzul AraújoAinda não há avaliações
- Ciclovia Ciclofaixa estudoIFAL PDFDocumento4 páginasCiclovia Ciclofaixa estudoIFAL PDFAzul AraújoAinda não há avaliações
- CorpoRua: travessias, atravessamentos, travessurasDocumento160 páginasCorpoRua: travessias, atravessamentos, travessurasAzul Araújo100% (1)
- Ementa PU2-UFCDocumento3 páginasEmenta PU2-UFCAzul AraújoAinda não há avaliações
- Aula SimmelDocumento9 páginasAula SimmelAzul AraújoAinda não há avaliações
- RELATORIOHABITATIII RepositorioDocumento186 páginasRELATORIOHABITATIII RepositorioAzul AraújoAinda não há avaliações
- Arco Metropolitano (Adauto - Flávia) BiblioDocumento25 páginasArco Metropolitano (Adauto - Flávia) BiblioAzul AraújoAinda não há avaliações
- Empreendedorismo UrbanoDocumento28 páginasEmpreendedorismo UrbanoAzul AraújoAinda não há avaliações
- Projeto paisagístico de estradasDocumento28 páginasProjeto paisagístico de estradasAzul AraújoAinda não há avaliações
- Tabela Referencial de Valores para Serviços de Design 2016/2018Documento32 páginasTabela Referencial de Valores para Serviços de Design 2016/2018Juliano LisboaAinda não há avaliações
- Art I Go Cristiane 1Documento12 páginasArt I Go Cristiane 1Azul AraújoAinda não há avaliações
- Projeto RECOR restaura nascentes e áreas degradadas na Bacia do Rio CoruripeDocumento20 páginasProjeto RECOR restaura nascentes e áreas degradadas na Bacia do Rio CoruripeAzul AraújoAinda não há avaliações
- Quando A Rua Vira PraiaDocumento223 páginasQuando A Rua Vira PraiaAzul AraújoAinda não há avaliações
- Projeto paisagístico de estradasDocumento28 páginasProjeto paisagístico de estradasAzul AraújoAinda não há avaliações
- Michel AgierDocumento32 páginasMichel AgierAzul AraújoAinda não há avaliações
- A Arte de Andar Pela Cideade Paola Berensteins Washington Drummond PDFDocumento15 páginasA Arte de Andar Pela Cideade Paola Berensteins Washington Drummond PDFWashington DrummondAinda não há avaliações
- Morando No LimiteDocumento16 páginasMorando No LimiteAzul AraújoAinda não há avaliações
- Discursos Da Sustentabilidade UrbanaDocumento12 páginasDiscursos Da Sustentabilidade UrbanaAzul AraújoAinda não há avaliações
- RESENHA CRÍTICA Ti 2013Documento5 páginasRESENHA CRÍTICA Ti 2013Christianne VianaAinda não há avaliações
- A Disciplina Jurídica Da Cooperativa No Direito Brasileiro - Rodrigo Polotto de LimaDocumento18 páginasA Disciplina Jurídica Da Cooperativa No Direito Brasileiro - Rodrigo Polotto de LimaCaso BancoopAinda não há avaliações
- Referencial de Formação Técnico/a de Apoio à Gestão N4Documento89 páginasReferencial de Formação Técnico/a de Apoio à Gestão N4Vera BarrosAinda não há avaliações
- 201605201149-201601 Masculinidadereconstrucao Sorayabarreto PDFDocumento418 páginas201605201149-201601 Masculinidadereconstrucao Sorayabarreto PDFlilianafrancAinda não há avaliações
- A Gênese Das Teses Do Escola Sem Partido Esfinge e Ovo Da Serpente Que Ameaçam A Sociedade e A Educação - Gaudêncio Frigotto PDFDocumento20 páginasA Gênese Das Teses Do Escola Sem Partido Esfinge e Ovo Da Serpente Que Ameaçam A Sociedade e A Educação - Gaudêncio Frigotto PDFJosevandro Chagas100% (1)
- O Pensamento Social e Político Latino-AmericanoDocumento23 páginasO Pensamento Social e Político Latino-AmericanoCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Designer de Moda Ou Estilisa Resenha CríticaDocumento2 páginasDesigner de Moda Ou Estilisa Resenha CríticaCléo RochaAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO DE SOCIOLOGIA 2B PDFDocumento3 páginasAVALIAÇÃO DE SOCIOLOGIA 2B PDFValeria AmorimAinda não há avaliações
- Medidas socioeducativas: conceito, classificação e aplicaçãoDocumento38 páginasMedidas socioeducativas: conceito, classificação e aplicaçãoDjalma T. De G. NetoAinda não há avaliações
- Criminologia CríticaDocumento4 páginasCriminologia CríticaMatheus VilelaAinda não há avaliações
- Educação na perspectiva marxista segundo Marx e GramsciDocumento4 páginasEducação na perspectiva marxista segundo Marx e GramsciGabriel LiraAinda não há avaliações
- A caminhada de Tanyxiwè: uma teoria Javaé da HistóriaDocumento953 páginasA caminhada de Tanyxiwè: uma teoria Javaé da HistóriajjualmeidaAinda não há avaliações
- Autoridade Católica CarismáticaDocumento262 páginasAutoridade Católica CarismáticaPedro AlexandreAinda não há avaliações
- A valorização da educação pelas classes populares no BrasilDocumento21 páginasA valorização da educação pelas classes populares no BrasilDiego HatadaAinda não há avaliações
- Modulo - 2 - TAPDocumento8 páginasModulo - 2 - TAPAndré Almeida0% (1)
- Design para Comunicação: Design de Solução e de InteraçãoDocumento5 páginasDesign para Comunicação: Design de Solução e de InteraçãowjdrsAinda não há avaliações
- Ensino e Pratica de Relacoes PublicasDocumento20 páginasEnsino e Pratica de Relacoes PublicasRAFAEL VIRGILIO SITHOEAinda não há avaliações
- A importância das tecnologias digitais na Educação de Jovens e AdultosDocumento14 páginasA importância das tecnologias digitais na Educação de Jovens e AdultosGiseli de Almeida PinheiroAinda não há avaliações
- Orientação Profissional com jovensDocumento11 páginasOrientação Profissional com jovensItalo Bruno MerçonAinda não há avaliações
- Dissertação Marlene Do Carmo Meireles MestradoDocumento131 páginasDissertação Marlene Do Carmo Meireles MestradoLarissa DianaAinda não há avaliações
- Compromisso Social Com Crianças Jovens e AdolescentesDocumento212 páginasCompromisso Social Com Crianças Jovens e AdolescentesJuarez PiresAinda não há avaliações
- Teoria do Patrimônio Mínimo e a Evolução do Direito CivilDocumento75 páginasTeoria do Patrimônio Mínimo e a Evolução do Direito CivilDomingos Upinji EmanuelAinda não há avaliações
- Cláusulas gerais e segurança jurídica no Código Civil brasileiroDocumento14 páginasCláusulas gerais e segurança jurídica no Código Civil brasileiroAARNAinda não há avaliações
- Indústria cultural e subjetividade na era digitalDocumento11 páginasIndústria cultural e subjetividade na era digitalPriscillaBibianoAinda não há avaliações