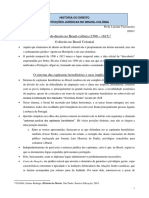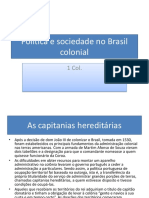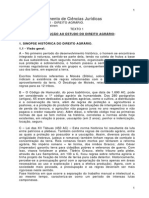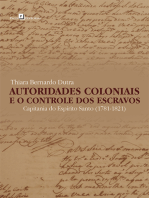Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Versão WEB Livro Memórias Dos Povos Do Campo No Paraná FINAL
Enviado por
Helena KussikDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Versão WEB Livro Memórias Dos Povos Do Campo No Paraná FINAL
Enviado por
Helena KussikDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Organizadores
Liliana Porto, Jefferson de Oliveira Salles
e Snia Maria dos Santos Marques
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO
NO PARAN CENTRO-SUL
Organizadores
Liliana Porto, Jefferson de Oliveira Salles
e Snia Maria dos Santos Marques
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO
NO PARAN CENTRO-SUL
1 edio
Curitiba
Instituto de Terras, Cartograa e Geocincias - ITCG
2013
Presidncia da Repblica
Dilma Rousseff
Ministrio da Cultura
Marta Suplicy
Governo do Estado do Paran
Carlos Alberto Richa
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos
Luiz Eduardo Cheida
Instituto de Terras, Cartograa e Geocincias
Amlcar Cavalcante Cabral
Tcnica Responsvel pelo Convnio no ITCG/PR
Patrcia Moreira Marques
Capa e projeto grco
Adalberto Camargo | Adalbacom
Reviso
Liliana Porto
Colaboradores:
Ana Flvia da Silva (Estagiria ITCG/PR)
Stephani dos Santos Cavalcanti (Estagiria ITCG/PR)
Tainara do Carmo Frana (Estagiria ITCG/PR)
Reinoldo Mascarenhas Heimbecher (Setor de Transportes ITCG/PR)
Dados catalogrcos na fonte Vera Lcia Fritze Moreira CRB9-783PR
MEMRIAS dos povos do campo no Paran centro sul./ Liliana Porto (Org.),
Jefferson de Oliveira Salles (Org.), Snia Maria dos Santos Marques (Org.).
Curitiba : ITCG, 2013.
400p.: il.; 23cm.
ISBN: 978-85-64176-04-1
1 .Comunidades Tradicionais Paran 2. Conitos de Terra Paran
3. Memria Povos Tradicionais I. Porto, Liliana II. Salles, Jefferson de
Oliveira III. Marques, Snia Maria dos Santos IV. Ttulo
CDD: 307.78162
Impresso no Brasil
Sumrio
Introduo Cartograas invisveis Jos Antnio Peres Gediel 07
Parte I: Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran 13
1. Paran: terra, oresta e gentes Claudia Sonda e Raul Cezar Bergold 15
2. Comunidades quilombolas e direitos sociais: modos de fazer,
criar e viver Snia Maria dos Santos Marques 41
3. Uma reexo sobre os faxinais: meio-ambiente, sistema produtivo,
identidades polticas, formas tradicionais de ser e viver Liliana Porto 59
Parte II: A questo quilombola Palmas 81
4. Memrias de dependncia e liberdade em comunidades
quilombolas Cassius Marcelus Cruz 83
5. (Re)conguraes identitrias e direitos sociais: o caso da comunidade
remanescente de quilombo Adelaide Maria Trindade Batista
em Palmas/PR Snia Maria dos Santos Marques 117
Parte III: Comunidades tradicionais, capitalismo
e conitos agrrios Pinho 135
6. Contextualizao: breve histrico sobre Pinho/PR Liliana Porto
e Dibe Ayoub 137
7. Os posseiros do Pinho conitos e resistncias frente indstria
madeireira Dibe Ayoub 151
8. Memrias de um mundo rstico: narrativas e silncios sobre o passado
em Pinho/PR Liliana Porto 173
9. Joo Jos Zattar S.A.: disputas sociais, legitimidade, legalidade Jefferson
de Oliveira Salles 249
10. Desenvolvimento, capitalismo e comunidades tradicionais: reexes
em torno da Zattar e dos faxinalenses Paulo Renato Arajo Dias 295
Parte IV: Perspectivas dos sujeitos de suas prprias histrias 329
11. Reexes sobre vida, poltica e religio Maria Izabel da Silva 331
12. Faxinal dos Ribeiros Equipe da E.R.M. Norberto Serpio 335
13. Agenda Joo Oliverto de Campos 345
7
Introduo
Cartograas invisveis
Jos Antnio Peres Gediel
1
O
s textos que compem este livro retiram da invisibilidade a memria, o
cotidiano, os modos de vida de comunidades tradicionais, quilombolas,
posseiros e faxinalenses, no Estado do Paran.
Dos escritos acadmicos e dos relatos de membros dessas comunidades,
evidencia-se uma identidade em torno do uso e ocupao da terra.
Os conitos e lutas pela manuteno da terra se mesclam com a memria
familiar, da comunidade e suas relaes com os poderes econmicos e polticos
das regies.
Dessas narrativas entrecortadas por lapsos temporais, silncios, conitos e
labutas emerge uma cartograa intolervel e irreconcilivel com as Tordesilhas
e ttulos imobilirios que demarcam esses espaos de vida.
A constante expanso das atividades capitalistas sobre essas terras no
dispensa, inclusive, a violncia das armas, e tem no direito um artefato
poderoso de legitimao dessa violncia.
A apropriao e regulao jurdica da terra no Brasil remonta ao Tratado
de Tordesilhas rmado entre os reinos de Portugal e Castela, em 1494, para
resolver a disputa entre esses reinos, a respeito do domnio poltico e da
titularidade jurdica das terras no recm descoberto Continente Americano.
Note-se que o reino de Portugal considerou vagas todas as terras deste
territrio chamado de Vera Cruz, Santa Cruz e depois Brasil, pois excluiu a
aplicabilidade do direito do reino s populaes indgenas. A elas no era
reconhecido qualquer direito sobre as terras, iniciando-se, assim, o processo
de espoliao e de invisibilizao desses povos.
1
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paran e professor titular de Direito Civil da
UFPR.
8
O Estado colonial portugus utilizou instrumentos jurdicos j existentes
no Reino, para regular a concesso de terras a seus sditos residentes no
Brasil. O instrumento mais importante para a concesso de terras foi o das
Sesmarias, que pode ser denida como uma parcela ou poro de terra cuja
concesso de titularidade a um sdito dependia de ato simblico da tomada
de posse da terra por esse sdito, seguido de ato de concesso do soberano
e posterior registro em um tabelionato.
No regime jurdico das Sesmarias, caso o concessionrio no a ocupasse
tornando-a, efetivamente, produtiva pelo cultivo, em um prazo de at 5
(cinco) anos, deveria devolv-la Coroa. Essa condio resolutiva do direito
do concessionrio no foi aplicada no Brasil e os benecirios das Sesmarias
no sofreram qualquer sano por no terem cultivado a terra, at porque
o empreendimento colonial do Brasil visava extrao de recursos naturais
que independiam do cultivo.
H quem aponte nesta caracterstica da ocupao territorial e na ausncia
de scalizao pela Coroa a origem mais remota dos latifndios improdutivos
no Brasil.
O Sistema Sesmarial no Brasil foi a frmula aplicada, at o ano de 1822.
Destaque-se, ainda, que as Sesmarias que j tivessem sido medidas, lavradas,
demarcadas ou conrmadas, continuaram vlidas e foram reconhecidas
aps 1822, pois os benecirios destas concesses ocupavam posies de
destaque no aparato administrativo do Estado nacional agora independente.
Os ttulos constitudos com base nas concesses de Sesmarias
concentraram-se, sobretudo, na regio abrangida pelo domnio portugus
segundo o Tratado de Tordesilhas (cerca de trezentas e sessenta lguas a
oeste da Ilha dos Aores).
Com a independncia do Brasil, a Constituio do Imprio de 1824
acolheu, em parte, as idias liberais sobre propriedade privada e garantiu
a continuidade dos concessionrios sobre as terras, embora tenha rompido
com o sistema poltico e jurdico at ento vigente.
Os latifndios se consolidaram nas mos de quem detinha o poder
poltico, e os homens livres, sem cargos na administrao ou pobres, que
trabalhavam a terra, continuaram como posseiros sem ttulos que lhes
garantissem juridicamente a ocupao da terra.
O territrio do Estado do Paran fazia parte, inicialmente, da Capitania
de So Vicente (So Paulo) e, posteriormente, da Provncia de So Paulo, at
o ano de 1853, quando foi criada a Provncia do Paran.
Assim, o processo de formao territorial e da propriedade privada no atual
Estado do Paran seguiu os mesmos passos das demais regies brasileiras,
na parte abrangida pelo Tratado de Tordesilhas, o que, em termos atuais,
signica uma grande regio de, aproximadamente, duzentos quilmetros a
9
partir da costa, composta pela regio litornea, Serra do Mar e Primeiro
Planalto, demarcada ao norte pelo Rio Ribeira na divisa com o Estado de So
Paulo e ao sul seguindo o curso do Rio Iguau at a fronteira do atual Estado
de Santa Catarina.
Segundo levantamentos imprecisos, a partir do sculo XVII, em Lisboa,
em So Vicente (So Paulo) e no Rio de Janeiro, foram expedidas sessenta
e nove Sesmarias concedendo terras no Paran. No restante do territrio do
atual Estado do Paran, por no estar claramente sob o domnio portugus,
a expedio de ttulos foi iniciada somente no nal do sculo XIX e perdura
at os dias de hoje.
Aps 1822, o regime jurdico original das Sesmarias foi abolido, mas
o Imprio brasileiro continuou a conceder ttulos a particulares, por meio
de cartas rgias, que em tudo se assemelhavam s Sesmarias e tinham seu
registro efetuado junto s parquias da Igreja Catlica, religio ocial do
Imprio.
At 1850, no havia uma legislao detalhada regulando a concesso de
ttulos imobilirios, embora a Constituio de 1824 reconhecesse o direito
propriedade privada. Ao lado das reas tituladas por meio de Sesmarias ou
de cartas rgias, apareciam reas ocupadas, cujos detentores buscavam a
titulao junto administrao imperial, uma vez que todas as terras no-
tituladas continuavam sob o domnio jurdico da Coroa imperial brasileira,
herdeira da Coroa portuguesa.
No Paran, a ocupao era escassa e, alm dos ttulos concedidos, as
posses eram irrelevantes em termos numricos e econmicos, pois a economia
era extrativista (ouro) ou pecuarista (criao de gado).
A lei 601, de 1850, conhecida como lei de terras veio alterar os requisitos
para se obter ttulos de terras ou revalid-los. nesse perodo que algumas
famlias de escravos alforriados, ou no, vo ocupar reas que hoje constituem
a maior parte dos territrios quilombolas do Paran. Entre eles tambm se
encontram famlias que receberam doaes de seus senhores, como o caso
dos quilombolas do Paiol de Telhas em Guarapuava.
Essas famlias jamais tero o direito de propriedade de suas terras, pois
sua condio de escravos libertos e a exigncia de pagamento de tributos
para obteno do ttulo so obstculos intransponveis.
O Cdigo Civil brasileiros de 1916 vai completar o processo de privatizao
da terra no Brasil iniciado em 1850, tornando-a, denitivamente uma
mercadoria, que poder circular abstratamente representada no ttulo do
registro imobilirio.
Esse mesmo Cdigo ir colocar os indgenas entre os sujeitos relativamente
incapazes, sob a tutela do Servio de Proteo ao ndio SPI e ir transformar
a posse em uma das manifestaes da propriedade.
10
O sculo XX ir transcorrer sem grandes alteraes para esses sujeitos em
relao terra e sua invisibilidade, que somente comeou a ser quebrada
com a emergncia de novos movimentos sociais, a partir da dcada de 1960.
Nas dcadas seguintes, esses movimentos participaram do processo de
redemocratizao do Estado brasileiro e lutaram pelo reconhecimento de
direitos durante a Constituinte.
A Constituio de 1988 contm apenas parcialmente o resultado de tais
demandas, mas mesmo assim abre espao para a discusso sobre a reforma
agrria, a demarcao de terras indgenas e territrios quilombolas.
Entretanto, esses necessrios e signicativos avanos polticos e jurdicos,
nem sempre garantem os direitos constitucionalmente assegurados a esses
povos.
O fato que a terra por eles ocupada passa a ser ainda mais importante
para a expanso da economia capitalista, e sua cultura orientada por valores
prprios como obstculos a essa expanso econmica.
Assim, os processos de reconhecimento de direitos territoriais e culturais
trazem consigo a visibilidade dessas comunidades, mas tambm discursos e
prticas jurdicas de negao desses direitos.
O tratamento jurdico desses direitos vem mediado por um complexo
sistema de categoria, conceitos e prticas jurdicas e tambm por divises de
competncias e atribuies de rgos estatais, o que acaba por dicultar ou
at esvaziar as demandas dessas comunidades.
No que se refere aos sujeitos detentores desses direitos, por exemplo, eles
so enquadrados por classicaes jurdicas amplas e imprecisas, tais como
povos e comunidades tradicionais, que apontam para uma identidade marcada
pela escassa ou nenhuma insero dessas gentes nas atividades de ponta do
sistema capitalista.
Decorre da que indgenas, quilombolas, faxinalenses, cipozeiros, caiaras,
pescadores artesanais entre outros, sejam todos vistos de maneira uniforme
pelo direito, e os indgenas, por exemplo, por vezes so tratados como povos
e outras vezes como comunidades tradicionais.
Alm dessa generalizao e impreciso conceitual, outros obstculos
se levantam contra a efetivao de direitos territoriais desses povos ou
comunidades, porque os direitos reivindicados se referem a interesses ou bens
utilizados por todos, coletivamente, o que se ope, frontalmente, noo de
propriedade que regula, por inteiro, o acesso e uso dos bens nas sociedades
modernas, no tradicionais.
A ocupao e o uso tradicionais da terra por esses povos e comunidades
no se volta para obteno do valor de troca terra por sua circulao mercado,
circulao essa que tornada possvel por meio de um ttulo que representa o
direito de propriedade sobre a terra.
11
Na perspectiva do direito vigente, a ocupao e uso da terra so
compreendidos como posse civil, que ganha relevncia e proteo jurdicas,
por ser a expresso da vontade livre de um indivduo em se tornar ou agir
como proprietrio. A posse civil expresso material da propriedade e um dos
caminhos para se chegar at ela.
No bastasse a comunho de interesses dessas comunidades a respeito
dos bens, outros aspectos jurdicos dicultam, impedem o exerccio de seus
direitos, ou promovem a desagregao de seu modo de vida, como o caso dos
instrumentos de representao, em juzo ou fora dele.
Com efeito, o instrumento jurdico da representao civil, decorrente
de negcio jurdico baseado na vontade individual ou na lei, totalmente
estranho aos modos de constituio da autoridade, nessas comunidades.
Assim, por exemplo, os indgenas so representados ou assistidos, por
fora de lei, pela Fundao Nacional do ndio FUNAI, rgo da Unio Federal.
No caso dos quilombolas, para que possam ocupar e usar suas terras, devem
contar com a mediao de uma pessoa jurdica, organizada e dirigida segundo
os cnones do direito liberal individualista, sobrepondo-se s formas e prticas
de escolha das autoridades da comunidade.
Em todos esses casos, h um lento e quase imperceptvel desencantamento
do mundo tradicional, pois a dimenso e as prticas jurdicas estranhas ao
cotidiano desses povos e comunidades contribuem para enfraquecer e afetam
crenas, prticas ancestrais, redes de parentesco, sua memria e identidade.
A violncia fsica provocada pelo avano do agronegcio sobre essas terras
potencializada e legitimada pela tcnica jurdica. A demora em reconhecer
e assegurar a ocupao tradicional da terra se inscreve em um amplo processo
de desvalorizao desses sujeitos e seus modos de vida.
Esses povos e comunidades esto sujeitos ordem jurdica do Estado
nacional, seus direitos so reconhecidos pela Constituio Federal, mas seu
exerccio traduz a violncia e a negao das diferenas culturais e o desrespeito
pelo outro.
Apesar disso tudo, novas estratgias de resistncia so engendradas, no
cotidiano e no espao pblico. Algumas delas esto presentes neste livro que
reaviva a memria e rearma a identidade dessas comunidades.
Parte I
Meio ambiente
e organizao social
no Centro-Sul
do Paran
1. Paran: terra, oresta e gentes
Claudia Sonda e Raul Cezar Bergold
2. Comunidades quilombolas e direitos sociais:
modos de fazer, criar e viver
Snia Maria dos Santos Marques
3. Uma reexo sobre os faxinais:
meio-ambiente, sistema produtivo, identidades
polticas, formas tradicionais de ser e viver
Liliana Porto
15
Captulo 1
Paran: terra, oresta e gentes
1
Claudia Sonda
2
Raul Cezar Bergold
3
Introduo
O
foco central deste trabalho ilustrar a pluralidade dos povos do campo
e das orestas no estado do Paran que, de algum modo, resistiram
em seus territrios e ainda os disputam, relacionando-os com a
conservao dos recursos naturais. Nesse sentido, sero abordados, sem o
devido aprofundamento terico, mas, mesmo assim, luz da questo agrria,
os conitos sociais e ambientais decorrentes do processo de apropriao da
terra e das orestas durante as fases histricas de reocupao e de colonizao
desse estado.
O que se quer discutir que apesar da fase atual em que praticamente se
consolidou o modo de produo capitalista no campo, cuja expresso atual o
agronegcio (da soja, cana-de-acar, pecuria, reorestamentos) nanciado
e apadrinhado pelo Estado, ainda existem e resistem outros modos de vida
no campo e nas poucas orestas remanescentes do Paran, que deveriam ser
reconhecidos, pautados e fortalecidos por normas jurdicas e polticas pblicas
de verdade e no tempo certo.
Para tanto, ser apresentado um breve panorama da evoluo da
explorao agrcola empresarial no Paran, mencionando os seus diferentes
1
Agradecemos especialmente aos engenheiros agrnomos Francisco Adyr Gubert Filho e Patrcia
Moreira Marques, o primeiro lotado no Instituto Ambiental do Paran IAP e a segunda no
Instituto de Terras, Cartograa e Geocincias - ITCG, pelas valiosas contribuies que deram para
a realizao desse trabalho.
2
Graduada em Engenharia Florestal, mestre em Economia Agrria e Sociologia Rural, doutora
em Engenharia Florestal (Conservao da Natureza). servidora pblica do Instituto Ambiental
do Paran onde atua no Departamento de Licenciamento de Recursos Naturais, especicamente
com o licenciamento ambiental dos assentamentos rurais de reforma agrria.
3
Graduado em Direito, especialista em Direito Ambiental e mestrando em Direito Socioambiental.
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrrio do INCRA no Paran, onde atuou de 2006 a
2010 no Servio de Meio Ambiente e Recursos Naturais. o atual Ouvidor Agrrio Regional no
Paran.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
16
ciclos e a sua relao com as orestas. Isso implica na necessidade de pensar
o processo de colonizao, verdadeira reocupao do territrio do estado.
Desses processos resultaram inegveis conitos com os povos tradicionais,
que possuem outras formas de relao com o territrio, ameaadas pelo
modelo hegemnico do agronegcio.
Diante disso, houve uma ampliao das lutas desses povos por
reconhecimento, que se manifestou em diferentes instrumentos legais, nacionais
e internacionais, j que a expanso desse modelo agrcola padro, alm de
outras formas de ameaa aos territrios tradicionais, no so exclusividade do
Paran ou do Brasil. A legislao correlata, ento, ser abordada, ainda que
de uma forma bastante breve, mas que dever servir para uma compreenso
sobre o direito desses povos. A modicao da realidade produzida por essa
legislao o que demanda igual tratamento.
As abordagens que sero feitas so aplicveis aos povos tradicionais
como um todo, sendo que, no texto, sero tratados com maior detalhe os
indgenas, os quilombolas, os faxinalenses e os camponeses, o que no
signica que no Paran no existam outros grupos e comunidades que se
organizam de modo diferenciado e que precisam de um tratamento que
considere suas diferenas.
Questo agrria, meio ambiente, territrio e povos tradicionais
Tradicionalmente os contornos da questo agrria gravitam em torno
dos problemas fundirios relacionados expanso do capitalismo no campo,
desdobrando-se em aspectos concretos como a formao de um mercado interno
atravs da industrializao da agricultura, o processo de diferenciao camponesa,
o questionamento das relaes de trabalho e das estruturas de poder no campo,
a organizao dos trabalhadores na luta pela terra ou a produo agropecuria
e o abastecimento de alimentos e outros insumos (Delgado, Fernandes, Oliveira,
Stdile, Tavares citados por Montenegro, 2010).
Ainda, de acordo com Veiga (2000), o processo de modernizao da
agricultura levou um grande nmero de agricultores decadncia: forou
grande parte da fora de trabalho rural a se favelizar nas periferias urbanas;
fez aumentar o nmero de pobres rurais, elevando a nveis insuportveis a
violncia, a destruio ambiental e a criminalidade.
As abordagens de literaturas mais recentes, alm de conrmarem os
inmeros conitos gerados pela expanso do capital no campo, reforam a
relao dos conitos socioambientais com a questo agrria.
Muito sinteticamente, pode-se dizer que os autores Altieri (2004), Porto-
Gonalves (2006), Maciel (2005), Norder (2006), Sevilla Guzmn (2006)
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
17
citados por Montenegro (2010), consolidam uma viso crtica dos impactos
ambientais negativos produzidos pela agricultura moderna
4
ou Revoluo
Verde. Esses impactos ainda se expressam fortemente nos dias atuais,
associando-se expanso dos agronegcios (soja, cana-de-acar, pecuria,
reorestamentos) sempre na forma de monoculturas; na ampliao dos plantios
orestais (pinus e eucaliptos), formando os designados desertos verdes; na
liberao e estmulo utilizao das sementes transgnicas; na intensicao
do uso de agrotxicos e de fertilizantes.
De outro lado, ressurgem reivindicaes socioambientais de uma srie de
sujeitos sociais que se pretendia que estivessem extintos: gentes da terra,
das orestas, do mar e ribeirinhos, os quais teceram suas racionalidades
nesses ambientes. Essas gentes ou povos tradicionais
5
, no so hegemnicos
(como poderiam ser?), mas tm resistido ao longo do tempo e do que restou
de seus territrios.
Montenegro (2010) analisou sete documentos
6
, os quais resultaram de
inmeras reunies de diferentes grupos sociais da Amrica Latina nos ltimos
anos. Essa anlise ilustrou uma viso sistemtica e plural das principais pautas
e denncias que marcam as lutas e resistncias desses grupos em relao aos
seus territrios de vida.
4
Inmeros autores estudaram/estudam (Martine, G; Graziano da Silva, Gonalves Neto, W, entre
outros) o fenmeno da modernizao da agricultura. Balsan (2006), a partir de uma reviso
desses autores, sintetiza a concepo de agricultura moderna como o modelo agrcola adotado
na dcada de 1960-70, voltado ao consumo de capital e tecnologia externa, em que grupos
especializados passavam a fornecer insumos desde mquinas, sementes, adubos, agrotxicos e
fertilizantes. Essa opo de aquisio era facilitada pelo acesso ao crdito rural, determinando
o endividamento e a dependncia dos agricultores.
5
A denio de povos e comunidades tradicionais adotada nesse artigo a estabelecida pela
Poltica Nacional de Desenvolvimento Sustentvel de Povos e Comunidades Tradicionais. Em
seu artigo 3, inciso I, dene Povos e Comunidades Tradicionais como grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas prprias de organizao
social, que ocupam e usam territrios e recursos naturais como condio para sua reproduo
cultural, social, religiosa, ancestral e econmica, utilizando conhecimentos, inovaes e
prticas gerados e transmitidos pela tradio (Decreto Federal 6040/2007). Conforme, Little
(2002) o conceito de povos tradicionais procura encontrar semelhanas importantes dentro da
diversidade fundiria do pas, ao mesmo tempo em que se insere no campo das lutas territoriais
atuais presentes em todo Brasil.
6
Os documentos analisados foram os seguintes: 1) Declarao Final da IV Cpula dos Povos
e Nacionalidades Indgenas de Abya Yala (Puno-Per, 31/05/2009); 2) Resoluo de Povos
Indgenas sobre a IIRSA (La Paz-Bolvia, 19/01/2008); 3) Proposta da Via Campesina de
Declarao dos Direitos das Camponesas e dos Camponeses (Seul-Coreia do Sul, 08/03/2009);
4) Declarao dos Conselhos Comunitrios e Organizaes tnico-Territoriais Afro-Colombianas
e Indgenas do Litoral Pacco (Tumaco-Colmbia, 18/06/2007); 5) Declarao Poltica do
Frum Nacional Tecendo Resistncias pela Defesa de Nossos Territrios (Oaxaca-Mxico,
18/04/2009); 6) Acordo e Concluses do 10 Encontro da Unio de Assemblias Cidads (UAC)
Contra o Saqueio dos Bens Naturais e a Poluio, pela Soberania Alimentar e a Vida (Jujuy-
Argentina, 26/07/2009); 7) Carta dos Povos e Comunidades Tradicionais do Semirido (Paulo
Afonso-Brasil, 12/12/2008).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
18
Destaca-se, do conjunto de documentos analisados, a concepo da relao
homem/natureza provinda fundamentalmente dos grupos indgenas e povos
tradicionais, os quais consolidam suas crticas contundentes contra a extrao
intensiva dos recursos naturais e a construo de megainfraestruturas, e levanta
uma dura alegao contra o produtivismo txico, seja da grande propriedade
empresarial ou da agricultura familiar empresarial.
Nesse sentido, o estado do Paran um exemplo concreto da pertinncia
dessas anlises: seu (re)povoamento
7
e formao foram impulsionados pelos
grandes ciclos econmicos do Brasil, sob a forte inuncia dos contextos do
comrcio internacional. Serra (2010) arma que a histria agrria do Paran
marcada pela forte relao entre os processos de apropriao da terra agrcola e
da sua explorao econmica, ocasionando conitos rurais que se estabeleceram
ao longo do espao e do tempo. Com o incio do processo da modernizao
da agricultura brasileira a partir de 1960, e que no Paran ocorrer a partir
dos anos 1970, Germer (2003) arma que as estruturas agrrias e agrcolas
paranaenses foram profundamente modicadas em menos de 10 anos. Essa
alterao no ocorreu somente do ponto de vista das tecnologias e dos tipos
de produtos, mas tambm e especialmente, em termos das guras humanas, da
rediviso em classes, dando origem a um proletariado rural
8
com muita rapidez
e, ao mesmo tempo a formao de uma burguesia moderna agrria
9
.
O processo de modernizao da agricultura, particularmente no Paran,
est praticamente consolidado, com a burguesia moderna agrria esparramada
e, ainda, esparramando-se nos territrios remanescentes da agricultura
camponesa, povos indgenas, quilombolas e faxinalenses. Ou seja, ainda h
luta e disputa por terra e territrio nesse estado.
O processo de disputa territorial uma das dimenses da questo
agrria que reete os embates entre o modelo hegemnico da agricultura
empresarial, a dos agronegcios, e os outros modelos, nada hegemnicos, mas
plurais e resistentes, das agriculturas camponesas, dos povos indgenas, dos
7
Utilizou-se o termo (re)povoamento do Paran, corroborando-se com o conceito de Motta,
citado por Ribeiro (2005), que diz o seguinte: A representao de um espao geogrco
desocupado ou vazio tributria das metas de expanso do capitalismo, que incorpora uma
nova rea ao seu sistema produtivo, desmisticando a noo de um processo harmonioso e
pacco elaborado pela tica colonialista. Diante desta concepo, possesses indgenas
so qualicadas como espaos ideais a serem inseridos no mbito da economia nacional e
subsequentemente capitalista. Os responsveis pela projeo do imaginrio das terras virgens,
bem como pelo surgimento do mito do pioneiro colonizador, so agentes determinados da
sociedade nacional, dentre os quais se incluem as companhias colonizadoras, representantes
governamentais, os gegrafos dos anos de 1930 a 1950 e historiadores desta mesma poca.
8
O proletariado rural representado pela agricultura camponesa ou campesinato cujo conceito
associa-se ao de povos tradicionais.
9
A classe da burguesia moderna agrria representada pelas agriculturas empresarial de grande
dimenso e tambm pelas familiares tecnicadas e intensivas no uso de capital.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
19
quilombolas, dos faxinalenses e tambm dos trabalhadores rurais sem terra,
assentados pela reforma agrria.
Os interesses conitantes sobre o uso e ocupao de um mesmo territrio
geram disputas territoriais: grilagens, titulaes ilegais ou que do a terra
como um privilgio, genocdio de populaes tradicionais, ocupaes de terra
praticadas pelos movimentos sociais de luta pela terra, reintegraes de posse,
aes de usucapio, processos de regularizao fundiria, aes judiciais
envolvendo demarcao de territrios indgenas e quilombolas, entre outras.
Os conitos por terra so tambm conitos pela imposio dos modelos de
desenvolvimento territorial rural e nestes se desdobram (Fernandes, 2004: 2).
Ainda, de acordo com Fernandes:
Pensar o territrio nesta conjuntura deve-se considerar a conitualidade
existente entre o campesinato e o agronegcio que disputam
territrios. Esses compem diferentes modelos de desenvolvimento,
portanto formam territrios divergentes, com organizaes espaciais
diferentes, paisagens geogrcas distintas. Nesta condio, temos trs
tipos de paisagens: a do territrio do agronegcio que se distingue
pela grande escala de homogeneidade da paisagem, caracterizado pela
deserticao populacional, pela monocultura e pelo produtivismo para
a exportao; o territrio campons, que se diferencia pela pequena
escala e heterogeneidade da paisagem geogrca, caracterizado pelo
frequente povoamento, pela policultura e produo diversicada de
alimento principalmente para o desenvolvimento local, regional e
nacional; o territrio campons monopolizado pelo agronegcio, que
se distingue pela escala e homogeneidade da paisagem geogrca, e
caracterizado pelo trabalho subalternizado e controle tecnolgico das
commodities que se utilizam dos territrios camponeses (2008: 296).
Para Fernandes, citado por Cleps Junior:
a conitualidade inerente ao processo de formao do capitalismo
e do campesinato. Acrescenta-se que a questo agrria gera,
continuamente, conitualidade, porque movimento de destruio e
recriao de relaes sociais: de territorializao, desterritorializao
e reterritorializao do capital e do campesinato (2010: 37).
Nesse sentido, para compreender a organizao de cada territrio especco,
preciso consider-lo em sua totalidade e em sua multidimensionalidade
cultural, religiosa, tnica, econmica, social, ambiental, entre outras
organizado em diferentes escalas, a partir de suas diferentes paisagens.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
20
Fernandes, citado por Cleps Junior (2010), diz ainda que as polticas pblicas
de desenvolvimento favorecem as relaes capitalistas em detrimento das
relaes no capitalistas ou familiares e comunitrias. O que, historicamente,
contribuiu e ainda contribui para a expropriao do conjunto de agricultores
camponeses (quilombolas, trabalhadores sem terra, faxinalenses, indgenas,
entre outros), que perdem continuamente seus territrios para a livre e
incentivada expanso do capital no campo.
No item a seguir explicita-se o processo, histrico e econmico, de
eliminao da cobertura orestal do estado do Paran, tendo como pano de
fundo os velhos e novos conitos ou impactos socioambientais negativos.
Distribuio das orestas no Paran: quem tem e quem no tem
oresta e por qu?
At meados do sculo XIX, a cobertura orestal do Paran, em suas
diferentes formaes orsticas, ocupava 83% da sua superfcie. Ao longo
do processo histrico de ocupao e, consequentemente, de disputas por
terra e territrios desse estado, assistiu-se a uma rpida eliminao de sua
vegetao natural. Tal eliminao foi produto dos ciclos econmicos a que
o Paran foi submetido, particularmente o da explorao da madeira, o do
caf, e principalmente pela modernizao da agricultura, inicialmente com a
monocultura da soja. Estes ciclos impulsionaram a reocupao do territrio
paranaense que ocorreu de forma diferenciada no espao e no tempo.
possvel constatar que num primeiro momento, entre 1880 a 1930
com incio na regio do Paran Tradicional e, mais tarde, estendendo-se
regio Oeste-Sudoeste quando a economia centrava-se, primeiramente, na
explorao da erva-mate e, posteriormente, na extrao da madeira, ambas
orientadas exportao, que grande parte da oresta foi explorada e eliminada
para este propsito. H que salientar o fato da explorao madeireira ter sido
bastante seletiva e exclusivamente assente na prtica extrativista. O carter
seletivo dessa explorao reete-se nos dias atuais na eliminao quase total
de biodiversidade, sobretudo das orestas estacional semidecidual (distribuda
ao norte do Paran) e oresta ombrla mista (distribuda no centro-sul do
estado). Na Figura 1, destacam-se mapas que ilustram, nitidamente, o processo
de eliminao da cobertura orestal do Paran, no perodo de 1890 a 1980,
elaborados por Gubert Filho (1988).
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
21
Figura 1: Involuo da cobertura orestal no estado do Paran 1890 a 1980
Fonte: Gubert Filho, 1988
No mesmo patamar de importncia da perda de biodiversidade, destacam-
se tambm os conitos sociais advindos desse modelo de reocupao e de
colonizao da regio Oeste-Sudoeste
10
, estimulado pelo ento governador
do estado e conduzido pelas companhias colonizadoras de terras, envolvendo
posseiros, caboclos e colonos que ocupavam as terras com oresta nesse
perodo histrico e que foram expulsos de seus territrios.
Num segundo momento (a partir de 1930 at 1960), cujo contexto
econmico favorecia a exportao do caf, outra grande parte da oresta
foi eliminada para dar lugar s lavouras de caf. Este fato foi constatado
para a regio do Grande Norte. Porm, nesta regio, a oresta nem sequer
10
Ver Gomes, Iria Zanoni. 1957: a revolta dos posseiros. Curitiba: Criar Edies, 2005.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
22
foi economicamente aproveitada. Grandes extenses de oresta estacional
semidecidual e seus ecossistemas associados foram queimados, restando
apenas alguns escassos remanescentes orestais e, obviamente, extinguindo a
biodiversidade regional (Figura 1).
Os conitos sociais tambm permeiam este momento histrico da
reocupao e colonizao dessa regio. Prova disso foi a revolta dos posseiros
de Porecatu, onde camponeses e posseiros lutaram para permanecerem em suas
terras, contra jagunos, fazendeiros e grileiros, apoiados pelas foras policiais
do Paran e tambm de So Paulo que apoiavam o modelo de colonizao e de
implantao da monocultura do caf
11
.
A partir de 1960, com incio do processo de modernizao da agricultura
no Brasil, e que chegar ao Paran na dcada de 1970, se implanta uma
nova maneira de fazer agricultura, marcada pela monocultura, orientada
exportao. Nesse momento, assiste-se, ento, a eliminao quase que total
dos ltimos remanescentes orestais do estado situados, sobretudo, em
terras mecanizveis pertencentes a grandes fazendeiros ou latifundirios
agricultores empresariais, burguesia agrria moderna que por sua vez as
desmataram para implantar monoculturas de soja, cana-de-acar, com vistas
exportao (Figura 1).
Os conitos sociais no campo se intensicam. De um lado, agricultores
camponeses, posseiros, caboclos, quilombolas, faxinalenses povos
tradicionais resistem para manter-se em suas terras e territrios, via de
regra, com remanescentes de cobertura orestal, mas sem acesso a polticas
pblicas agrrias, agrcolas, socioambientais, culturais que os reconheam e
os legitimem. De outro, os agricultores empresariais, ainda mais fortalecidos
pelas polticas pblicas que estimulam os agronegcios, sobretudo da soja, da
cana-de-acar, da pecuria e do reorestamento. Vale destacar que essa classe
de agricultores inuenciou, decisivamente, a revogao do Cdigo Florestal
(Lei 4771/1965), o que lhes assegurou ampliar ainda mais seus territrios de
agronegcios. Com a aprovao do novo Cdigo Florestal (Lei 12.651 de 25
de maio 2012 Lei de Proteo da Vegetao Nativa) eles foram perdoados de
crimes ambientais, notadamente os desmatamentos realizados at 22 de julho
de 2008.
Deste processo histrico e econmico, resulta a atual cobertura orestal
do estado, no mais do que 10%. No mapa Uso do Solo 2001/2002 Estado do
Paran, produzido pelo ITCG/PR (ver Mapa 1), ilustram-se os principais usos do
solo no Paran, em 2001/2002, cando evidente o uso da terra com agricultura
intensiva. No mapa Uso do Solo 2001/2002 e povos tradicionais, tambm
11
Ver Oikawa, Marcelo Eiji. Porecatu: a guerrilha que os comunistas esqueceram. So Paulo:
Expresso Popular, 2011.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
23
produzido pelo ITCG/PR (ver Mapa 2) ilustra-se o mesmo contexto, porm com
a sobreposio da informao de localizao de povos tradicionais no estado
do Paran. Fica evidente, ainda, que os remanescentes orestais esto mais
presentes nos territrios desses povos.
A distribuio do que sobrou de oresta nas regies paranaenses a
seguinte:
a) Na regio Extremo Oeste, territrio da agricultura empresarial
onde predomina o agronegcio da soja, restou apenas a oresta do
Parque Nacional do Iguau
12
, que uma ilha de vegetao em meio
s lavouras mecanizadas de soja convencional e, mais recentemente,
da soja transgnica (Mapa 1).
b) Na regio Leste, marcada por um mosaico de territrios em
disputa unidades de conservao, chcaras de lazer, comunidades
quilombolas, povos tradicionais e empresas orestais restou a
cadeia montanhosa da Serra do Mar. Nesse mosaico, predominam as
unidades de conservao (de proteo integral e de desenvolvimento
sustentvel, de domnio pblico e privado), as chcaras de lazer com
nalidade para o ecoturismo
13
(agronegcio do turismo ecolgico)
e as empresas orestais cujo objetivo ampliar suas reas para
implantar plantios orestais (pinus e eucaliptos); h tambm a
presena, no hegemnica, de comunidades quilombolas, situadas
prximas ou mesmo no interior do Parque Estadual das Laurceas;
e de povos tradicionais desalojados de seus territrios quer pela
expanso do capitalismo no campo, quer pelo modelo americano
14
de conservao da natureza, adotado pelos rgos ambientais, federal
e estadual. Esse modelo transformou o espao de vida e de produo
camponesa em unidades de conservao de proteo integral, as
quais no permitem a presena humana (Mapa 2).
12
O Parque Nacional do Iguau uma unidade de conservao de mbito federal, pertencente
categoria de manejo de reas de proteo integral, cujo domnio pblico.
13
Pode-se armar que essas chcaras pertenciam a pequenos posseiros tambm designados de
caiaras (enquadrando-se como povos tradicionais), os quais no tiveram acesso a polticas
publicas socioambientais adequadas, o que tambm contribuiu para a perda de suas terras para
empresrios urbanos que ali implantaram seus negcios de turismo ecolgico.
14
A criao de reas naturais protegidas nos Estados Unidos a partir de meados do sculo
XIX se constituiu numa das polticas conservacionistas mais utilizadas pelos pases em
desenvolvimento, a exemplo do Brasil. Os conservacionistas americanos, a partir do seu
processo de desenvolvimento de rpida expanso urbano-industrial, propunham ilhas de
conservao ambiental, de grande beleza cnica, onde o homem urbano pudesse apreciar a
natureza selvagem. Esse modelo conservacionista ao ser adotado em pases com realidades
econmicas, sociais, culturais distintas dos Estados Unidos, conduziu a uma srie conitos entre
populaes residentes em espaos naturais, que foram transformados em Parques, os quais no
mais permitiam a presena humana, desalojando-as de seu lugar. Ver Diegues, Antonio Carlos
SantAna. O mito moderno da natureza intocada. So Paulo: NUPAUB/USP, 1994.
M
E
M
R
I
A
S
D
O
S
P
O
V
O
S
D
O
C
A
M
P
O
N
O
P
A
R
A
N
C
E
N
T
R
O
-
S
U
L
2
4
Mapa 1: Uso do solo 2001/2002 - Estado do Paran
P
a
r
t
e
I
|
M
e
i
o
a
m
b
i
e
n
t
e
e
o
r
g
a
n
i
z
a
o
s
o
c
i
a
l
n
o
C
e
n
t
r
o
-
S
u
l
d
o
P
a
r
a
n
2
5
Mapa 2: Uso do solo 2001/2002 e povos tradicionais
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
26
c) Na regio Centro-Sul, territrio das agriculturas familiares empresariais
e povos tradicionais faxinalenses, onde restam fragmentos de oresta
natural (Floresta com Araucria) cuja distribuio concentra-se,
principalmente, nas terras faxinalenses (Mapa 2).
d) Nas demais regies do estado, predominam os territrios das
agriculturas empresariais (agronegcios da cana-de-acar e
pecuria, empresas orestais) em expanso mas tambm em
disputa, principalmente, com os territrios da reforma agrria (os
assentamentos rurais do INCRA). Nessas regies restam poucas e
esparsas rvores isoladas ou pequenos fragmentos de oresta natural.
Vale destacar que nos territrios da reforma agrria encontra-se em
desenvolvimento um processo de recuperao ambiental
15
, que vem
se constituindo como uma possibilidade real de ampliao de reas
ambientalmente protegidas.
Muito bem, feita esta breve e sinttica anlise da distribuio do que
sobrou das orestas naturais nos distintos espaos geogrcos paranaenses,
conceituados como territrios, resta mencionar, tambm de forma breve e
sinttica, o processo de apropriao da terra e das orestas nesse estado.
No incio da reocupao do espao paranaense, por volta de 1650, a terra era
distribuda segundo o regime de sesmarias, isto , grandes extenses de terras,
cedidas a particulares que deveriam promover a sua ocupao produtiva. O regime
de sesmaria salienta a inuncia dominialista acobertada pela concesso estatal,
em benefcio de alguns poucos privilegiados que, muitas vezes, no estavam
interessados em explorar economicamente a terra (Costa apud Serra, 2010:134).
O regime de sesmarias foi extinto, no Brasil, em 1822. O estado do Paran
conquistou sua emancipao poltico-administrativa em 1853, trs anos aps
a edio da Lei de Terras (Lei 601, de 1850) que estabeleceu o mecanismo da
compra como segunda forma jurdica de acesso terra (Serra, 2010).
No perodo de 1822-1850 as posses se constituram, no Paran, em mecanismo
amplamente utilizado, marcado por um vazio jurdico em termos de legislao
agrria no Brasil. Esse vazio jurdico propiciou a algumas categorias aproveitarem
para se apropriar de extensas reas, na expectativa de conseguir a sua regularizao
por meio de alguma brecha criada da nova Lei, o que realmente aconteceu. A
15
Destaque-se que o INCRA tem declarado e pautado como princpio na execuo da reforma
agrria, a produo agroecolgica nos assentamentos rurais, com polticas pblicas e programas
de nanciamento para tal. Uma vez que esse princpio seja fortalecido nas polticas pblicas
de reforma agrria, poder, ento, haver uma contribuio decisiva para a recuperao e
conservao da biodiversidade nesses territrios. Alm disso, a criao e o desenvolvimento dos
projetos de assentamentos rurais esto submetidos ao licenciamento ambiental, o qual impe
a recuperao ambiental, sob pena de o INCRA no poder criar assentamentos. Vale dizer que
nenhuma implantao de monocultura submetida ao licenciamento ambiental, embora haja
previso legal para isso.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
27
Lei 601/1850, num primeiro momento, estabeleceu a mercantilizao da terra
como forma jurdica para, em seguida, garantir o pleno domnio sobre as sesmarias
conquistadas at 1822 e sobre as posses mansas e paccas, apropriadas nos 28
anos que vo de 1822 a 1850. O Paran, diante, disso, comea sua histria agrria
j convivendo com as bases do latifndio, construdas pelas sesmarias e pelas
grandes posses consolidadas pela Lei 601/1850 (Serra, 2010: 132).
O Estado, ento, promove a colonizao das terras vendendo ttulos a
particulares, destacando-se a o papel de grandes companhias colonizadoras,
nomeadamente estrangeiras, no processo de instalao neste espao natural,
econmico e social.
Do ponto de vista social, o legado do regime de concesso de terras bem
como do processo de colonizao das mesmas, conduzido pelo Estado, foram os
violentos conitos e revoltas sociais, j mencionados e localizados no tempo
e nos espaos geogrcos paranaenses.
Sonda (1996) arma que do ponto de vista ambiental e particularmente no
que se refere s orestas naturais, vericou-se que o regime de distribuio de
terras, seja atravs da concesso das sesmarias ou da aquisio, em ambos os
casos tratando-se de particulares, distribuiu tambm (obviamente) as orestas.
Estas foram eliminadas pelos seus legtimos proprietrios que procuravam,
em cada contexto econmico, dar o uso mais rentvel s suas terras. Desta
forma, pode-se dizer que no Paran a oresta foi eliminada proporcionalmente
quantidade de terra recebida ou comprada. Isto ocorreu em contextos
econmicos determinados, em ritmo e formas diferenciadas para cada uma das
grandes regies que compem o Estado.
Via de regra quem concentra a terra, concentra ainda mais as orestas. Os
dados do Censo Agropecurio de 1985 analisados por Sonda (1996), relativos ao
municpio de Guaraqueaba, expressam bem essa relao: 3,6% das exploraes
agrcolas (29 em nmero absoluto) detm 80,6% da terra e 90,8% das orestas.
Signica dizer que a biodiversidade orestal desse municpio est concentrada
em 29 estabelecimentos agropecurios, os quais poderiam ser scalizados pelos
rgos ambientais em um nico ms. Ao contrrio, representando os grupos
sociais de agricultores camponeses, tem-se, no mesmo municpio o seguinte:
46,7% (380) detm 4,4% da terra e 2,8% das orestas. Ou seja, muito pouca
terra e muito pouca oresta, o que ensejaria polticas pblicas de ampliao
de terras (ou territrios) para a manuteno desses grupos sociais no campo,
respeitando suas racionalidades prprias e seus vnculos com a terra/territrio.
A seguir, ser relacionado de forma sucinta o tratamento jurdico nacional
e internacional do qual se pode vislumbrar o reconhecimento e a proteo dos
territrios dos povos tradicionais. As normas indicadas so fruto de disputas
acirradas e representam, ainda que com as suas decincias, conquistas dessas
minorias. Mas apesar disso, as polticas pblicas que necessariamente devem
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
28
decorrer dessa legislao tm um longo caminho a avanar para que sejam
promovidas melhorias efetivas para esses grupos na defesa e reconquista dos
espaos necessrios manuteno de seu modo de ser.
Normas jurdicas e polticas pblicas para povos tradicionais
A anlise do contexto abordado a partir do vis jurdico possibilita
averiguar os fundamentos legais que ensejam essa expanso do agronegcio
sobre territrios tradicionais, aparentemente de modo inexorvel. Essa possvel
irresistibilidade reforada pela omisso do Estado ou, pior, pela sua atuao
como coordenador e nanciador de projetos que violam os direitos dos povos
tradicionais, relegando-os a uma condio de marginalidade ou de obstculo
ante os projetos de desenvolvimento nacional.
Com a ampliao dos debates acerca da democracia e com a recorrente e cada
vez maior presso sobre os seus modos de produo, indgenas, quilombolas,
camponeses, faxinalenses e outras populaes tradicionais passaram a demandar
uma proteo jurdica que contemplasse seus interesses, exigindo que fossem
considerados como integrantes da sociedade brasileira em sua diversidade. O
antroplogo Paul Little (2002) explica o processo de avano sobre os territrios
dessas gentes, quando aborda as migraes estimuladas pelo Estado com pesados
investimentos em infraestrutura, a partir da dcada de 1930:
Da perspectiva dos distintos povos tradicionais, esses mltiplos
movimentos mudaram radicalmente sua situao de invisibilidade
social e marginalidade econmica. Agora essas invases a suas terras
foram acompanhadas por novas tecnologias industriais de produo,
transporte e comunicao, que alteraram as relaes ecolgicas
de forma indita, devido sua intensidade e poder de destruio
ambiental. A partir da dcada de 1980, o fortalecimento da ideologia
neoliberal e a incorporao economia mundial de grupos antes
afastados dela (ou, como indicado antes, re-inseridos nela depois de
uma poca de afastamento) agravaram ainda mais as presses sobre
os diversos territrios dos povos tradicionais, particularmente no que
se refere ao acesso e utilizao de seus recursos naturais.
(...)
Frente a essas novas presses, os povos tradicionais se sentiram
obrigados a elaborar novas estratgias territoriais para defender suas
reas. Isto, por sua vez, deu lugar atual onda de territorializaes
em curso. O alvo central dessa onda consiste em forar o Estado
brasileiro a admitir a existncia de distintas formas de expresso
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
29
territorial incluindo distintos regimes de propriedade dentro
do marco legal nico do Estado, atendendo s necessidades
desses grupos. As novas condutas territoriais por parte dos povos
tradicionais criaram um espao poltico prprio, na qual a luta por
novas categorias territoriais virou um dos campos privilegiados de
disputa. Um dos principais resultados dessa onda tem sido a criao
ou consolidao de categorias fundirias do Estado. Devido grande
diversidade de formas territoriais desses povos, houve a necessidade
de ajustar as categorias s realidades empricas e histricas do
campo, em vez enquadr-las nas normas existentes da lei brasileira
(Little, 2002: 12-13).
Nesse aspecto, a Constituio de 1988 foi um marco no reconhecimento e
proteo da pluralidade cultural nacional, que pode afastar a aceitao passiva
de argumentos relacionados ao desenvolvimento e ao crescimento econmico,
ainda que se prestem ao atendimento direto ou indireto de um dito interesse
social, com a nalidade de justicar intervenes em territrios tradicionais.
Anal, essa Constituio, ainda que possa ter privilegiado um sistema
econmico, no deixou de amparar outras formas de organizao que escapam
ao modelo hegemnico. Ao comentar a ordem econmica na Constituio, o ex-
Ministro do Supremo Federal Eros Roberto Grau (2008) manifesta a importncia
do reconhecimento dessa pluralidade:
No obstante e por isso mesmo, de resto ela [a Constituio], e
sobretudo sua ordem econmica, retratam dedignamente a realidade
nacional, a heterogeneidade da sociedade brasileira e seus mltiplos
interesses, estruturados sobre a coexistncia de inmeros modos de
reproduo social.
() a Constituio do Brasil, do Estado e do povo brasileiros, a
Constituio de 1988. Na sua ordem econmica, em especial apesar
disso no contraditria, mas coerente encontram-se projetadas todas
as contradies do nosso Estado, da nossa sociedade, do nosso povo.
Eis a podemos dizer, quase solenemente, ao apresent-la nesta
Constituio, o fundamento do direito brasileiro (Grau, 2008: 345).
A proteo das diferentes sociedades que integram a nao se expressa
na concepo unitria do meio ambiente, que compreende tanto os bens
naturais quando os bens culturais, de acordo com Juliana Santilli (2005).
Existe, portanto, uma assimilao constitucional do multiculturalismo, com
o que os povos tradicionais tm resguardado o seu direito de manter sua
identidade cultural diferenciada, para o que lhes devem ser asseguradas
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
30
as condies de sobrevivncia fsica e cultural (Santilli, 2005), como
decorrncia da interpretao principalmente dos artigos 215, 216 e 216-A,
dos quais se destacam os seguintes dispositivos, sem ignorar a relevncia do
texto omitido:
Art. 215. O Estado garantir a todos o pleno exerccio dos direitos
culturais e acesso s fontes da cultura nacional, e apoiar e
incentivar a valorizao e a difuso das manifestaes culturais.
1 - O Estado proteger as manifestaes das culturas populares,
indgenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatrio nacional.
(...)
Art. 216. Constituem patrimnio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referncia identidade, ao, memria
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:
I - as formas de expresso;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criaes cientcas, artsticas e tecnolgicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edicaes e demais espaos
destinados s manifestaes artstico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e stios de valor histrico, paisagstico,
artstico, arqueolgico, paleontolgico, ecolgico e cientco.
1 - O Poder Pblico, com a colaborao da comunidade, promover
e proteger o patrimnio cultural brasileiro, por meio de inventrios,
registros, vigilncia, tombamento e desapropriao, e de outras
formas de acautelamento e preservao.
(...)
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime
de colaborao, de forma descentralizada e participativa, institui
um processo de gesto e promoo conjunta de polticas pblicas
de cultura, democrticas e permanentes, pactuadas entre os
entes da Federao e a sociedade, tendo por objetivo promover o
desenvolvimento humano, social e econmico com pleno exerccio
dos direitos culturais.
1 O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na poltica nacional
de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de
Cultura, e rege-se pelos seguintes princpios:
I - diversidade das expresses culturais;
II - universalizao do acesso aos bens e servios culturais
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
31
(...)
X - democratizao dos processos decisrios com participao e
controle social (Constituio da Repblica Federativa do Brasil de
1988).
Em 1989, a Organizao Internacional do Trabalho OIT adotou a
Conveno n 169 sobre Povos Indgenas e Tribais em Pases Independentes,
que representa, no plano internacional, o documento de maior relevncia
para a proteo dos direitos dos povos tradicionais, tendo como seu objetivo
primordial promover a realizao dos direitos sociais, econmicos e culturais
dos povos indgenas e tribais, bem como proporcionar-lhes um mecanismo
de participao no processo de desenvolvimento nacional (Garzn, 2009).
Essa conveno foi raticada pelo Brasil em 2002, de forma que o pas est
obrigado a apresentar relatrios anuais sobre a sua implementao
16
.
A Conveno n 169 da OIT faz previso ao direito de propriedade e posse
dos territrios tradicionais e tem como principal instrumento para a sua
proteo a consulta prvia, que deve existir antes de que os governos estatais
empreendam ou autorizem qualquer programa de prospeco ou explorao
dos recursos existentes nas terras destes povos (Garzn, 2009). A falta de
regulamentao da consulta, entretanto, impede a denio do seu alcance,
sendo que essa ferramenta deveria servir efetivamente para inuenciar o
resultado decisrio relacionado pretenso de interveno nos territrios, ao
contrrio de ser mera formalidade a ser observada e superada (Garzn, 2009).
Outro documento internacional central para o tema a Conveno para a
Diversidade Biolgica CDB, de 1992, cujo texto foi promulgado pelo Brasil
em 1998. O artigo 10.c estabelece que os Estados-Parte devem proteger
e encorajar a utilizao costumeira de recursos biolgicos de acordo com
prticas culturais tradicionais compatveis com as exigncias de conservao
ou utilizao sustentvel, enquanto o artigo 8.j fala no dever de respeitar,
preservar e manter o conhecimento, inovaes e prticas das comunidades
locais e populaes indgenas com estilo de vida tradicionais relevantes
conservao e utilizao sustentvel da diversidade biolgica.
Juliana Santilli (2005) destaca que:
Os processos, prticas e atividades tradicionais dos povos indgenas,
quilombolas e populaes tradicionais que geram a produo de
conhecimentos e inovaes relacionados a espcies e ecossistemas
dependem de um modo de vida estreitamente relacionado com a
16
De acordo com o artigo 22 da Constituio da OIT, Os Estados-Membros signatrios
comprometem-se a apresentar Repartio Internacional do Trabalho um relatrio anual sobre
as medidas por eles tomadas para execuo das convenes a que aderiram.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
32
oresta. A continuidade da produo desses conhecimentos depende
de condies que assegurem a sobrevivncia fsica e cultural dos povos
indgenas, quilombolas e populaes tradicionais (Santilli, 2005: 195).
Santilli prossegue para explicar que esses conhecimentos se prestam ao
uso e atribuio de signicados aos elementos da natureza, que conferem
a prpria identidade dos grupos. Existem interesses estritamente econmicos
sobre os recursos genticos das comunidades tradicionais, tanto porque estas
mantm espaos de grande diversidade como porque possuem conhecimentos
associados s possibilidades de uso desses recursos. E nesse aspecto, a
biopirataria representa mais um fator de ameaa ao territrio desses povos.
Retornando ao direito brasileiro, a Poltica Nacional de Desenvolvimento
Sustentvel dos Povos e Comunidades Tradicionais PNPCT, instituda pelo
Decreto n 6.040/2007, foi bastante minuciosa, procurando detalhar princpios
e objetivos relacionados proteo das populaes tradicionais. Essa poltica
reconhece, valoriza e respeita a diversidade socioambiental e cultural desses
povos, compreendendo as suas formas prprias de integrao com o ambiente,
sendo que a sua invisibilidade histrica dever ser superada com o pleno
exerccio da cidadania. Dos objetivos elencados nos artigos 2 e 3, ca evidente
a importncia da proteo do territrio para a existncia das comunidades.
Apesar do tratamento legal existente, que se estende por outras normas,
a realidade denuncia uma grave decincia na execuo das polticas pblicas
voltadas ao atendimento dos povos tradicionais. De acordo com informaes do
ISA Instituto Socioambiental (2013), existem 26 Terras Indgenas no Paran.
Destas, somente 15 se encontram demarcadas, sendo que a maioria das demais
est na fase de identicao, que corresponde primeira etapa dos trabalhos
para reconhecimento dos direitos territoriais indgenas. Olhando imagens de
satlite com a delimitao das reas demarcadas (ISA, 2013 ver Imagem
1), possvel observar que essas Terras Indgenas possuem os remanescentes
orestais signicativos das regies em que esto distribudas.
Na regio Oeste do estado, a mo de obra indgena foi utilizada para
a derrubada da oresta, cuja comercializao ampliava os rendimentos das
companhias colonizadoras (Silva, 2007). A retribuio concedida aos ndios
Guarani foi a destruio e a espoliao de seu territrio. Espremido s margens
do rio Paran, esse povo foi ignorado na construo da hidreltrica de Itaipu,
cujo lago inundou suas terras remanescentes.
Os Guarani tambm sofrem com o modelo conservacionista da natureza.
As trs terras indgenas da regio somam cerca de 2,2 mil hectares
17
,
17
Reserva Indgena Santa Rosa do Ocoy, em So Miguel do Iguau, com rea de 251,00 hectares;
Terra Indgena Tekoh Aetete, em Diamante dOeste, com rea de 1.744,00 hectares; e Tekoh
Itamar, tambm em Diamante dOeste, com rea de 242,00 hectares.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
33
conquistadas a duras penas, o que contrasta com mais de 300 mil hectares
de reas destinadas conservao ambiental no Parque Nacional do Iguau,
no Parque Nacional da Ilha Grande e nas reas de preservao permanente
do lago de Itaipu, espaos em que h evidncias de ocupao tradicional
indgena.
Alm da perda do territrio, a modicao do ambiente por si s condenou
os indgenas impossibilidade de alcanar o seu eko por, o viver bem. O
modo Guarani de ser foi inviabilizado (Albernaz, 2008). O estabelecimento de
fronteiras nacionais, a apropriao privada das terras, a criao de grandes
espaos de conservao e o lago de Itaipu criaram obstculos mobilidade
tpica desses indgenas. E a eliminao das orestas e o uso de veneno
suprimiram as condies de extrativismo. Os animais, outrora abundantes, so
apenas memrias entalhadas no artesanato Guarani.
Como contraponto a essa situao de desamparo, existe um movimento de
resistncia e reconquista do territrio indgena na regio. Diferentemente do
que se tem noticiado (FAEP, 2013), esse movimento no busca a demarcao
de 100 mil hectares, englobando reas urbanas e de produo agrcola
intensiva, mas reivindica o reconhecimento do espao necessrio existncia
em conformidade com o seu modo guarani de se organizar.
Aproximadamente mil indgenas encontram-se concentrados nos municpios
de Guara e Terra Roxa, onde existem 13 aldeias instaladas em reas rurais
e urbanas. Uma delas, a Tekoh Marangatu, situada na rea de preservao
permanente do lago de Itaipu, foi declarada como Terra Indgena pela Justia
Federal, em ao de reintegrao de posse movida pela Itaipu Binacional, que
pretendia retirar os indgenas do local
18
.
18
Ao de reintegrao de posse n 2005.70.04.001764-3/PR, da 1 Vara Federal de Umuarama/PR.
Terra Indgena Iva
Municpios: Pitanga e Manoel
Ribas
rea da TI: 7.306,00 hectares
Terra Indgena Mangueirinha
Municpio: Mangueirinha
rea da TI: 7.400,00 hectares
Terra Indgena Tibagy/Mococa
Municpio: Ortigueira
rea da TI: 859,00 hectares
Imagem 1: Terras indgenas e conservao ambiental
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
34
A situao dos Guarani parece se relacionar com uma poca j superada
de colonizao que considerava os territrios indgenas como espaos vazios
a serem ocupados. Ou, no caso da hidreltrica de Itaipu, com a truculncia
da ditadura militar e o mote de desenvolvimento a qualquer custo. O tempo
passou, no se fala mais de colonizao no Paran e a democracia vigora
formalmente. Mas as ameaas e violaes aos direitos dos indgenas persistem.
Como exemplo, a construo da usina hidreltrica de Mau, no rio Tibagi,
entre os municpios de Telmaco Borba e Ortigueira, no considerou, em sua
fase de licenciamento ambiental, os impactos do empreendimento sobre as
comunidades indgenas da regio.
Diante disso e de uma srie de irregularidades, o Ministrio Pblico Federal
ingressou com uma Ao Civil Pblica
19
, no mbito da qual a Justia Federal,
em primeira instncia, declarou a bacia do rio Tibagi como territrio indgena
Kaingang e Guarani, para que outros eventuais empreendimentos hidreltricos
contemplem essa territorialidade na denio da rea de inuncia para meio
scio-econmico e cultural (Alecrim, Moimas, Pinheiro, 2009). Alm disso,
a empresa responsvel pela elaborao dos estudos ambientais exigidos para o
empreendimento foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 40 milhes
por danos morais causados s comunidades indgenas da bacia do rio Tibagi.
Entre os quilombolas, a questo territorial ainda mais delicada. Das 34
comunidades certicadas no estado pela Fundao Cultural Palmares, nenhuma
delas foi efetivamente titulada em conformidade com a Constituio de 1988 e
o Decreto n 4.887/2003. Essas comunidades tambm se veem ameaadas pela
expanso do agronegcio, que desestabiliza as relaes comunitrias no campo
e exerce presso sobre os recursos naturais indispensveis permanncia dos
quilombolas organizados em conformidade com os seus costumes.
No Vale do Ribeira, h a maior concentrao de comunidades quilombolas
no Paran. Essa regio foi historicamente abandonada pelo Poder Pblico e
todos os seus municpios possuam, em 2007, um ndice de Desenvolvimento
Humano IDH abaixo das mdias estadual e nacional (IPARDES, 2007). O
avano dos reorestamentos de pinus no Vale do Ribeira tem tornado as terras
economicamente atrativas aos investimentos privados
20
, que pem em risco
as comunidades quilombolas, sujeitas a aes de reintegrao de posse porque
no detm, via de regra, o ttulo de domnio das reas que ocupam.
No caso dos faxinalenses, que tm 227 comunidades identicadas,
concentradas especialmente na regio Centro-Sul do estado (Souza, 2008),
as ameaas so as mesmas que recaem sobre indgenas e quilombolas, mas
19
Ao Civil Pblica n 2006.70.01.004036-9/PR, da 1 Vara Federal de Londrina/PR.
20
A ttulo de exemplo, no nal de 2011, foi amplamente noticiada a aquisio, por uma holding
das empresas Klabin e Arauco, de uma rea de 107 mil hectares no Vale do Ribeira, pelo valor
de R$ 840 milhes (Fadel, 2011).
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
35
no tm uma proteo especca expressa na Constituio, o que, apesar da
legislao estadual, diculta a denio e implementao de polticas pblicas
prprias. No Paran, uma forma de proteo dessas comunidades tem se dado
especialmente atravs da criao de reas Especiais de Uso Regulamentado
ARESUR
21
, que uma modalidade de unidade de conservao estadual de
uso sustentvel, a qual, porm, no prev a proteo do territrio de forma
diferenciada. Com a ARESUR, os municpios em que se localizam os faxinais
reconhecidos sob essa modalidade de unidade de conservao recebem
repasses do ICMS Ecolgico, que muitas vezes investem nas comunidades sem
observar as suas prticas tradicionais, mas buscando convert-las em espaos
de agricultura convencional (Souza, 2008).
No que diz respeito aos camponeses, considerando a prevalncia do aspecto
da proteo territorial nesta abordagem, haver uma delimitao para tratar
apenas do pblico da reforma agrria, sem que isso signique a inexistncia
de outras comunidades camponesas. oportuno fazer nova referncia a Paul
Little, que observa que as aes relacionadas demarcao e homologao
das terras indgenas, ao reconhecimento e titulao dos remanescentes de
comunidades de quilombos e ao estabelecimento das reservas extrativistas
constituem uma outra reforma agrria (cf. Little, 2002: 2-3).
Feita essa meno, cabe registrar que, de acordo com dados do Instituto
Nacional de Colonizao e Reforma Agrria INCRA (2013), existem 297
assentamentos no Paran, que ocupam 390 mil hectares (1,95% da rea total
do estado) e que beneciam diretamente 18.614 famlias. Apesar disso, mais de
5 mil famlias permanecem acampadas no estado, demandando a continuidade
da obteno de terras para a realizao dessa poltica.
Esses espaos da reforma agrria tm potencial para proteger, em suas reas
de preservao permanente e de reserva legal, o equivalente s unidades de
conservao estaduais de proteo integral, que somam aproximadamente 84
mil hectares (Sonda, 2010). importante destacar que, diferentemente do que
ocorre com os extensos monocultivos do agronegcio, voltados para a exportao,
a implantao de assentamentos est condicionada ao licenciamento ambiental
desses empreendimentos, o que exige rigor em relao ao planejamento do uso
dos recursos naturais de forma sustentada nessas reas.
Alm disso, a produo desenvolvida nos assentamentos tem como preferncia
tecnolgica a agroecologia, que no sujeita a natureza a um modelo previamente
estipulado de produo, mas aproveita as potencialidades do ambiente para uma
produo orientada pela sua vocao. Com isso, a produo da reforma agrria
pode integrar a preservao ambiental ao fornecimento de alimentos saudveis.
21
Decreto Estadual n 3.446/1997.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
36
Mas tambm os assentamentos da reforma agrria esto sujeitos
conformao a um padro hegemnico de produo, com apoio inclusive
do Poder Pblico. Nesse caso, nos lotes dos assentamentos so implantados
monocultivos de gros ou de espcies orestais exticas, eliminando o
modo de produo campons, do que resulta o endividamento, em razo
da impossibilidade de ganho em escala exigido pelo modelo adotado,
acompanhado de uma desestruturao que inviabiliza a permanncia no local,
fazendo retornar as terras ao mercado, de maneira indevida.
Alis, esse um aspecto contraditrio da reforma agrria, inerente forma
como essa poltica tem sido concebida. que o seu coroamento se d com
a titulao do domnio dos lotes dos assentamentos para os benecirios
dessa poltica (INCRA, 2011). Assim, as reas retiradas do domnio privado,
por serem de interesse social, retornam condio de propriedade privada,
sujeitando-se exclusivamente s condies do mercado. Ainda que no haja
concordncia com essa interpretao, pode-se concluir que a instituio de
territrios camponeses tem um carter provisrio, vigorando at que haja
uma integrao ao modelo hegemnico. E essa forma de tratamento dos
povos tradicionais que se busca superar com os instrumentos legais atuais, que
no tm como nalidade essa integrao, mas que objetivam uma proteo
diferenciada para a manuteno da sociodiversidade.
O fator determinante para a alterao desse cenrio a efetiva preservao
do territrio dessas gentes. Pois a terra que d condies de manuteno e
reproduo social e cultural dos povos tradicionais, sendo que a relao com o
territrio que permite essa classicao como grupo diferenciado:
O fato de que um territrio surge diretamente das condutas de
territorialidade de um grupo social implica que qualquer territrio
um produto histrico de processos sociais e polticos.
()
A cosmograa de um grupo inclui seu regime de propriedade, os
vnculos afetivos que mantm com seu territrio especco, a histria
da sua ocupao guardada na memria coletiva, o uso social que d
ao territrio e as formas de defesa dele.
()
Parajuli (1998) elaborou o conceito de etnicidades ecolgicas
na tentativa de mostrar a importncia desses regimes na prpria
constituio identitria os grupos (Little, 2002: 3,4,8).
O reconhecimento e a proteo desses espaos, considerando as peculiaridades
da relao dos povos tradicionais com o ambiente, um importante instrumento
de preservao dos recursos naturais. Por essa razo, Juliana Santilli (2005)
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
37
aponta que as polticas de conservao da diversidade biolgica no podem
excluir as terras indgenas e os territrios quilombolas. Destaca-se, tambm, a
importncia das unidades de conservao, sobretudo as reservas extrativistas e
de desenvolvimento sustentvel, no para a conservao dos recursos naturais
como nalidade precpua, mas como uma consequncia da proteo do territrio
de populaes tradicionais que se desenvolvem numa relao de dependncia mais
estreita das condies do ambiente. No caso paranaense, as reas Especiais de Uso
Regulamentado esto adaptadas realidade dos faxinalenses, mas poderiam ser
incrementadas para assegurar de uma forma mais evidente a proteo territorial.
Para completar, a criao de assentamentos da reforma agrria precisa
ser igualmente considerada na implementao de polticas ambientais e dos
povos tradicionais. A agricultura familiar rica em variedade e representa
uma alternativa produtiva ao agronegcio, integrando a gerao de renda
manuteno da diversidade de sistemas agrcolas voltados produo
de alimentos. Na leitura de Juliana Santilli (2009), a agricultura familiar
fundamental para a segurana alimentar, a gerao de emprego e renda e o
desenvolvimento local em bases sustentveis e equitativas, alm de alcanar
esses resultados empregando diferentes tcnicas que integram o uso dos diversos
elementos naturais disponveis, constituindo uma agrobiodiversidade.
Os povos tradicionais tm um conhecimento nico, expresso na forma de se
relacionar com o meio, o que representa uma diversidade por si s interessante
(Cunha, 1999). Essa diversidade traz riqueza sociedade brasileira e, para que
se mantenha, manifeste-se e se reproduza, precisa de espao, de territrio e
estmulos, para o que existe forte amparo no ordenamento jurdico vigente e
que deve, portanto, ganhar plena aplicao.
Consideraes nais
O que se pode concluir seno o bvio?
Os diferentes povos tradicionais do Paran integram a sua sociedade e
contriburam e contribuem, de diversas formas, para a sua conformao. A
riqueza cultural e ambiental do estado se devem existncia dessa populao,
que deve, portanto, ser destinatria de polticas pblicas prprias, sobretudo
para proteo de seus territrios. E alm disso, as polticas de desenvolvimento
social e econmico no podem ignor-las, mas devem sempre consider-las
como benecirias da atuao do Poder Pblico.
O Estado deveria elaborar normas jurdicas e formular e executar polticas
pblicas, plurais e singulares, de verdade e no tempo certo, para todas as
gentes que vivem e produzem na terra e que tm relaes e vnculos no
somente econmicos com seus territrios.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
38
A diversidade de formas de relao com o ambiente tem se mostrado
interessante preservao ambiental e diversidade cultural, que por si s
deve ser valorizada. Por outro lado, a expanso de um modelo baseado na
monocultura voltada exportao poder ampliar os resultados negativos para
a natureza e, contraditoriamente, para a prpria economia.
Referncias bibliogrcas
ALBERNAZ, Adriana Cristina Repelevicz de. O Provisrio em Denitivo: a organizao
social dos Av-Guarani da rea indgena de Ocoy (PR). Tellus, Campo Grande/MS,
ano 8, n. 14, p. 115-144, abr. 2008.
ALECRIM, Aguinaldo da Silva; MOIMAS, Denis; PINHEIRO, Ana Claudia Duarte. A usina
hidreltrica de Mau: interesse do estado antagnico proteo dos direitos difusos
e fatores sociais. Revista de Direito Pblico, Londrina, v. 4, n. 2, p. 43-58, maio/
ago. 2009.
BALSAN, Rosane. Impactos decorrentes da modernizao da agricultura brasileira.
CAMPO-TERRITRIO: revista de geograa agrria, v. 1, n. 2, p. 123-151, ago.
2006. Disponvel em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/
viewFile/11787/8293>. Acesso em: 2 abr. 2013.
BRASIL. Constituio, 1988.
CLEPS JUNIOR, JOO. Questo agrria, estado e territrios em disputa: os enfoques sobre
agronegcio e a natureza dos conitos no campo brasileiro. In: SAQUET, Aurelio,
SANTOS, Rosel Alves (orgs). Geograa agrria, territrio e desenvolvimento. So
Paulo: Expresso Popular, 2010, p.35-54.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Populaes tradicionais e a Conveno da Diversidade
Biolgica. Estud. av. So Paulo, v. 13, n. 36, Aug. 1999. Disponvel em: <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141999000200008&lng
=en&nrm=iso>. Acesso em 18 abr. 2013.
FADEL, Evandro. Klabin e Arauco pagam R$ 840 mi por empresa de reorestamento no
PR. O Estado de S. Paulo, So Paulo, 04 nov. 2011. Disponvel em <http://economia.
estadao.com.br/noticias/negocios-industria,klabin-e-arauco-pagam-r840-mi-por-
empresa-de-reorestamento-no-pr,91134,0.htm>. Acesso em: 18 abr. 2013.
FAEP [FEDERAO DA AGRICULTURA NO ESTADO DO PARAN]. Boletim informativo. Ano
27, n. 1205, 18-24/02/2013.
FERNANDES, Bernardo Manzano. Questo Agrria: conitualidade e desenvolvimento
territorial. 2004. Disponivel em: http://www.geograa.fch.usp.br/graduacao/
apoio/Apoio/Apoio_Valeria/Pdf/Bernardo_QA.pdf. Acesso em 2 abr. 2013.
_________. Entrando nos territrios do territrio. In: Campesinato e territrios em
disputa. So Paulo: Expresso Popular, 2008, p.273-301.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
39
GARZN, Biviany Rojas. Conveno 169 da OIT sobre povos indgenas e tribais:
oportunidades e desaos para a sua implementao no Brasil. So Paulo: Instituto
Socioambiental, 2009.
GERMER, Claus Magno. Paran rural. Simpsio de cultura paranaense terra, cultura
e poder: a arqueologia de um estado, 1 a 5 de dezembro de 2003. Curitiba:
Secretaria de Estado da Cultura, 2003. v.4. (Cadernos Paran de Gente).
GRAU, Eros Roberto. A ordem econmica na Constituio de 1988. 13. ed. So
Paulo: Malheiros, 2008.
GUBERT FILHO, Francisco Adyr. Levantamento de reas de Relevante Interesse Ecolgico
no Estado do Paran. Anais do II Congresso Florestal do Paran - Instituto Florestal
do Paran, 136 -160, Curitiba, 1988.
INCRA [INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA]. (2011). Titulao
de assentamentos. Disponvel em: <http://www. incra.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog& id=286&Itemid=299>
Acesso em: 21 nov 2011.
_____. Sistema de Informaes de Projetos da Reforma Agrria - SIPRA. Consulta em
18 abr. 2013.
IPARDES [INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL].
Diagnstico socioeconmico do Territrio Ribeira: 1 fase: caracterizao global.
Curitiba: Ipardes, 2007.
ISA [Instituto Socioambiental]. De olho nas Terras Indgenas. Disponvel em:
<http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/pesquisa/uf/PR>.
Acesso em: 17 abr. 2013.
LITTLE, Paul Elliott. Territrios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma
antropologia da territorialidade. Srie Antropologia, v. 322. Braslia: Universidade
de Braslia, Departamento de Antropologia, 2002.
MONTENEGRO, Jorge. Conitos pela terra e pelo territrio: ampliando o debate sobre
a questo agrria na Amrica Latina. In: SAQUET, Aurelio, SANTOS, Rosel Alves
(orgs). Geograa agrria, territrio e desenvolvimento. So Paulo: Expresso
Popular, 2010, p.13-34.
RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. Os guarani no oeste do paran: espacialidade e
resistncia. Espao Plural Ano VI - N 13 - 2 Semestre de 2005. Disponvel
em: < e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/download/476/390>.
Acesso em: 26 mar. 2013.
SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. So Paulo: Peirpolis,
2005.
________. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. So Paulo: Peirpolis,
2009.
SILVA, Evaldo Mendes da. Folhas ao vento. A micromobilidade dos Mby e Nhandva
(Guarani) na Trplice Fronteira. Tese (Doutorado em Antropologia Social) PPGAS/
MN, UFRJ, Rio de Janeiro, 2007, p. 39.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
40
SERRA, Elpdio. A posse da terra e os conitos rurais no Paran. In: SAQUET, Aurelio,
SANTOS, Rosel Alves (orgs). Geograa agrria, territrio e desenvolvimento. So
Paulo: Expresso Popular, 2010, p.131-154.
SONDA, Cludia. Reforma agrria, desmatamento e conservao da biodiversidade no
Estado do Paran. In: SONDA, Claudia (org.); TRAUCZYNSKI, Silvia Cristina (org.).
Reforma agrria e meio ambiente: teoria e prtica no Estado do Paran. 1. ed.
Curitiba: ITCG, 2010.
_____. A oresta no estado do Paran: condicionantes naturais, econmicos e sociais.
Dissertao (Mestrado em Economia Agrria e Sociologia Rural) Instituto Superior
de Agronomia, Universidade Tcnica de Lisboa, Lisboa, 1996.
VEIGA, J. E. da. Diretrizes para uma nova poltica agrria. In: BRASIL. Ministrio
do Desenvolvimento Agrrio. Reforma Agrria e Desenvolvimento Sustentvel.
Braslia, 2000. p.19-35.
ZEN, Eduardo Luiz. Movimentos sociais e a questo de classe: um olhar sobre
o Movimento dos Atingidos por Barragens. 2007. Dissertao (Mestrado em
Sociologia) Universidade de Braslia UNB, Braslia/DF. Disponvel em <http://
bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2415>.
Acesso em: 26 mar. 2013.
41
Captulo 2
Comunidades quilombolas e direitos sociais:
modos de fazer, criar e viver
Snia Maria dos Santos Marques
1
Porque a gente aqui como essa rvore, a gente tem razes
profundas, a gente dessa terra. Nos diferenciamos, mas
camos como os galhos da rvore: ligados a ela, mas todos
diferentes Dona Maria Arlete, 2005.
Se por um lado o quilombo torna-se um pleito legtimo,
adquire um espao nas polticas governamentais, na mdia e
em outros setores da sociedade, por outro lado a identicao
desses sujeitos referidos no texto constitucional passa a
depender de um arcabouo conceitual, terico, de pesquisas
histricas e etnogrcas destinadas a atestar, certicar,
sobre a sua existncia na atualidade Leite, 2004.
O
s dois textos usados como epgrafe chamam ateno ao processo de
inveno de identidades. No primeiro, a moradora da comunidade
remanescente de quilombo Adelaide Maria Trindade Batista
2
, expressa, por
meio de uma metfora, a forma como se veem. A mulher
3
alude a diferena como
constitutiva do grupo e da mesma forma reconhece que h algo profundo que
os une e faz com que se mantenham como coletividade. No segundo, constitui-
se uma interrrelao entre polticas pblicas e processos de identicao. O
objetivo do artigo estabelecer interseco entre processos de inveno de
1
Professora no Programa de Mestrado em Educao da Universidade Estadual do Oeste do
Paran, Campus de Francisco Beltro.
2
Palmas, Paran.
3
D. Maria Arlete considerada, pelos moradores da comunidade, narradora privilegiada pela
memria. Conhece as histrias do lugar e partilha tal conhecimento com os demais moradores,
com pesquisadores em processos investigativos.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
42
identidades exigidos pela legislao e o movimento dos sujeitos no sentido
de continuar a inventar-se e inventariar sua trajetria histrica que permita a
garantia de direitos sociais. Assim, h relao direta entre as formas de viver,
os modos de fazer e criar em comunidades quilombolas e as reivindicaes dos
direitos sociais dos agrupamentos tnicos.
1. Quilombolas: conceituaes e reivindicao de direitos
A preocupao com a ocupao territorial do Sul do pas com populao
europeizada imps uma reorganizao da posse da terra, mesmo para sujeitos
que j se encontravam na regio (caboclos, negros, ndios). Sobre esta questo
importante considerar que a consolidao da nao teve como suporte
ideolgico um projeto de orientao liberal que no procurou compatibilizar
as diversas culturas e as desigualdades sociais existentes (Leite, 1995: 112).
Nesse sentido, os grupos negros que j viviam no Sul do Brasil foram submetidos
a variados processos de expropriao e discriminao tnico-racial. Assim, h
comunidades negras rurais e urbanas nas mais variadas situaes: grupos que
se mantm, mas que no tm mais terras; terras doadas, mas com diferentes
termos de doao; situaes em que o grupo pagou pela terra, mas esta no foi
legalizada; situaes em que parte das terras foi vivenciada, criando diferentes
interesses mesmo entre as pessoas do grupo; grupos que moram em terras por
emprstimo, aluguel ou permuta, herana, dentre outras.
A partir das formas de organizao possvel perceber que a maioria das
comunidades no provm de antigos quilombos em que se agrupavam escravos
fugitivos. Se, de um lado, temos como caracterstica as diferentes formas de
convvio e organizao, de outro, existem traos que podem ser considerados
comuns e que se mantiveram e demarcaram: imposio da precariedade social,
diculdades de acesso s polticas pblicas, situaes de discriminao,
educao em descompasso com a identidade social e expropriao da terra.
Assim, muitas vezes predominaram situaes de trnsito que marcam a falta
de lugar, no apenas geogrco, territorial, mas social (Leite, 1995: 118).
Neste contexto, a compreenso das construes identitrias se faz por
meio do reconhecimento das prticas culturais que garantam as formas de
reproduo da vida cotidiana. Para Certeau, o cotidiano aquilo que nos
dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha). (...) Aquilo que assumimos ao
despertar, (...) com esta fadiga, com este desejo (1996: 31). Na escritura do
texto adentramos em processo que se produz por meio de uma dupla fascinao:
tangenciar os conceitos e a forma como o termo quilombo foi ressignicado
e as intercorrncias das aes dos sujeitos que se produzem nesse processo.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
43
As discusses a respeito das comunidades quilombolas se intensicaram
desde 1996, quando saiu o primeiro laudo antropolgico sobre comunidades
rurais - Quilombo do Rio das Rs. Desde ento muito se escreveu sobre a
temtica. Vemos que o conceito de comunidade remanescente se ampliou
no sentido de englobar as diferentes experincias histricas presentes na
sociedade brasileira. No entanto, ainda hoje, quando nos referimos a quilombo
as pessoas associam a esse grupo negro uma imagem de frica recriada no
Brasil, com exerccio de atividades econmicas de sobrevivncia e produo
semelhantes. Contudo, a experincia de pesquisa acumulada faz que se arme
a compreenso que:
O termo quilombo tem assumido novos signicados na leitura
especializada e tambm para grupos, indivduos e organizaes. Ainda
que tenha um conceito histrico, o mesmo vem sendo ressemantizado
para designar a situao presente dos segmentos negros em diferentes
regies e contextos do Brasil. Contemporaneamente, portanto,
o termo no se refere a resduos ou resqucios arqueolgicos da
ocupao temporal ou de comprovao biolgica. Tambm, no se
trata de grupos isolados ou de populao estritamente homognea
[...]. A identidade desses grupos tambm no se dene pelo tamanho
e nmero de membros, mas pelas experincias vividas e as verses
compartilhadas de sua trajetria comum e de continuidade, enquanto
grupo (ODwyer, 1995: 1).
Historicamente, aos negros foi negada a terra, seja pela falta de
movimentos de distribuio ou possibilidades de acesso a terra para
escravos, ex-escravos ou negros libertos, seja pela ocupao de terras que,
tradicionalmente, pertenciam ou estavam sendo ocupadas por comunidades
negras, descendentes de escravos. Nesse sentido, o Artigo 68 do ADCT (Ato das
Disposies Constitucionais Transitrias) trata da possibilidade de concesso
de ttulos de propriedade para as comunidades constitudas, circunscrevendo o
direito a terra para aqueles constitucionalmente protegidos.
A legislao abre possibilidades para reconhecimento das populaes, bem
como identica as diferenas entre os grupos. No entanto, reconhecemos que
existe uma lacuna entre a existncia da lei e a sua aplicao e efetivao para
as comunidades envolvidas.
No Brasil vemos emergir as reivindicaes das comunidades remanescentes
de quilombos. Tal temtica aparece na mdia, na intensicao dos trabalhos
acadmicos nas mais variadas reas de pesquisa, nas discusses educativas,
no crescimento da violncia localizada contra os grupos quilombolas, no
questionamento dos direitos conquistados, dentre outras. Dessa constatao
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
44
advm questionamentos: quem so estes sujeitos sociais? Como se mobilizam
para reivindicao de direitos?
ODwyer (2005) lembra que a reivindicao de direitos sociais das
comunidades remanescentes de quilombo associada a autoidenticao. A
Conveno 169, aprovada na Conferncia Internacional do Trabalho em 1989
estabeleceu o direito dos povos indgenas e tribais de se autodenirem. Arma
que a autoidenticao como indgena ou tribal dever ser considerada um
critrio fundamental para a denio dos grupos aos quais se aplicam as
disposies da presente Conveno. Em 2003 a Conveno 169 da OIT passou
a vigorar no Brasil (o documento fora raticado no ano anterior).
Na mesma direo, o Decreto 4887/03 expressivo nessa denio e, no
Artigo 2, assinala que:
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para
os ns deste Decreto, os grupos tnico-raciais, segundo critrios de
autoatribuio, com trajetria histrica prpria, dotados de relaes
territoriais especcas, com presuno de ancestralidade negra
relacionada com a resistncia opresso histrica sofrida.
A aprovao e posterior manuteno do Decreto 4887/03 evidenciou
conitos com setores conservadores que contestam a legislao vigente. Em
2012 foi julgada a Ao Direta de Inconstitucionalidade impetrada pelo DEM
4
que questionava a autoidenticao. Naquele momento, houve manifestaes
da sociedade civil e movimentos sociais contra a ao do partido que tinham
por objetivo retroceder conquistas histricas. As manifestaes de dois
setores foram selecionadas para dar a conhecer o contexto: a ABA (Associao
Brasileira de Antropologia), em razo do histrico de aes e discusses
relacionadas ao processo de ressemantizao do termo quilombo, e a CONAQ
(Coordenao Nacional das Comunidades Quilombolas), como representante dos
atores sociais e pelo lugar histrico que ocupa
5
. Nesse sentido, importante
assinalar a Nota Pblica
6
divulgada pela Associao Brasileira de Antropologia
na qual demarca sua posio e salienta o signicado do Decreto 4887/03 para
que as comunidades remanescentes de quilombo tenham acesso aos direitos
territoriais. Assim se manifesta:
4
Partido Democratas refundado em 2007. Congrega membros do antigo Partido da Frente
Liberal.
5
Poderamos citar manifestaes do Movimento Negro, do Ministrio Pblico Federal, de
pesquisadores de diferentes reas do conhecimento que desenvolvem estudos sobre a temtica,
dos Movimentos Sociais, das federaes quilombolas regionais, dentre outros.
6
O documento foi tornado pblico em 17 de abril de 2012.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
45
Em sua argumentao contrria ao decreto 4.887, o DEM sustenta
a inconstitucionalidade do emprego do critrio de auto-atribuio,
estabelecido no art. 2, caput e 1 do citado decreto, para
identicao dos remanescentes de quilombos, bem como questiona
a caracterizao das terras quilombolas como aquelas utilizadas
para reproduo fsica, social, econmica e cultural do grupo
tnico (art. 2, 2 do Decreto 4.887/03) conceito considerado
excessivamente amplo assim como o emprego de critrios de
territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades de
quilombos para medio e demarcao destas terras (art. 2, 3),
pois isto sujeitaria o procedimento administrativo aos indicativos
fornecidos pelos prprios interessados (ABA, 2012: 1).
No documento a ABA contra-argumenta ao que fora estame da Ao Direta
de Inconstitucionalidade e elucida que:
[...] o processo de identicao e titulao que se faz ao abrigo
do decreto 4.887 prev a elaborao de um detalhado relatrio
antropolgico que deve contemplar mais de trinta itens, incluindo
fundamentao terica e metodolgica, histrico de ocupao das
terras, anlise documental com levantamento da situao fundiria e
cadeia dominial, histrico regional e sua relao com a comunidade.
Inclui, ainda, a identicao de modos de organizao social e
econmica que demonstrem ser imprescindvel a demarcao das
terras para a manuteno e reproduo social, fsica e cultural do
grupo. Alm disso, o processo prev a contestao administrativa
por parte de quem se sentir lesado, sem prejuzo de recursos judiciais
cabveis (ABA, 2012: 1).
Como possvel perceber no documento, a ABA reitera a complexidade
dos processos para o reconhecimento e titulao, e assinala o compromisso
tico dos prossionais envolvidos no processo no qual o envolvimento com
os grupos fator que imprime densidade e qualidade tcnica aos relatrios
exigidos pela legislao.
Em relao temtica, tambm a Coordenao Nacional das Comunidades
Quilombolas lanou um manifesto em defesa dos seus direitos sociais. A ideia
era se coligar com a sociedade para encaminhar correspondncias
7
aos Ministros
7
Sabemos que esta foi uma das tantas aes em rede mobilizadas pela CONAQ no sentido de
difundir o debate para alm dos setores especializados, dos sujeitos quilombolas e dos parceiros
atuantes nos movimentos sociais. Com a ao poltica da CONAQ, ampliaram-se os espaos de
interlocuo com a sociedade.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
46
do Supremo Tribunal Federal-STF, dando a conhecer suas dinmicas de vida e
o signicado da autoidenticao para as comunidades. Neste documento
possvel ler:
As comunidades quilombolas so grupos tnicos, predominantemente
constitudos pela populao negra rural ou urbana, que se
autodenem a partir das relaes com a terra, o parentesco, o
territrio, a ancestralidade negra relacionada com a resistncia
opresso histrica sofrida, as tradies e prticas culturais prprias
(Manifesto CONAQ, 2012: 1).
A apresentao de dois exemplos demonstra que a garantia das formas
de reproduo da vida cotidiana no esto associadas ideia de pensar o
territrio como rea ocupada, mas a multidimensionalidade que a percepo
do acesso ao direito social envolve. Sobre esta questo expressiva a ideia de
Projeto Quilombola tal como sugere Leite:
Quando o quilombo passa paulatinamente a condensar, a integrar
diversas noes de direito que abrangem no s o direito a terra
mas todos os demais; quando esse vai do territrio s manifestaes
artsticas; quando o direito quilombola quer dizer educao, gua,
luz, saneamento, sade, todos os direitos sociais at ento negados
a essas populaes; quando o direito vai do campo cidade, do
individual ao coletivo; e, principalmente, quando o quilombo como
direito confronta projetos e modelos de desenvolvimento, questiona
certas formas de ser e viver, certos usos dos recursos naturais, seus
usufrutos, o parentesco, a herana, as representaes polticas e
muito mais; quando o quilombo deixa de ser exclusivamente o direito
a terra para ser a expresso de uma pauta de mudanas que, para
serem instauradas, precisam de um procedimento de desnaturalizao
dos direitos anteriores: de propriedade, dos saberes supostos sobre a
histria, dos direitos baseados nas concepes de pblico e privado,
entre tantos outros (2008: 975).
A autora chama ateno para a complexidade da ideia de direito social e
da mesma forma indica que o quilombo como direito vem alterando a prpria
ordem da Nao, dos discursos que sustentam ou sustentaram as mais diversas
concepes de nao (Leite 2008: 975). Em tal perspectiva, a instituio do
quilombola como sujeito de direito pe em circulao formas de resistncia
dos grupos: s vezes associadas aos uxos da vida cotidiana e capacidade
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
47
inventiva da existncia diria, s vezes associadas formao de redes polticas
que se retroalimentam nas aes empreendidas.
No relatrio do Programa Brasil Quilombola, publicado em julho de 2012
8
,
encontramos informaes que ajudam a compreender o panorama atual das
comunidades quilombolas. Os nmeros apresentados referem:
Estimativa: de 214 mil famlias em todo o Brasil e 1,17 milho de
quilombolas.
Socioeconmico: 72 mil famlias quilombolas cadastradas no
Cadnico
9
; 56,2 mil famlias, 78% do total, benecirias do Programa
Bolsa Famlia; 75,6% das famlias quilombolas esto em situao de
extrema pobreza; 92% autodeclaram-se pretos ou pardos; 23,5% no
sabem (Relatrio do Programa Brasil Quilombola, 2012: 17).
A discusso sobre quilombolas se amplia e, da mesma forma, assistimos ao
crescimento do nmero de grupos que se organizam para solicitar a certicao
junto Fundao Cultural Palmares. No parecer do Grupo de Trabalho Quilombos
da ABA-2012, encontramos os seguintes nmeros:
Quadro 1- Comunidades quilombolas certicadas pela Fundao Cultural
Palmares
Estado Nmero de Comunidades Quilombolas
Alagoas 64
Amazonas 1
Amap 27
Bahia 438
Cear 36
Esprito Santo 29
Gois 22
Maranho 408
Minas Gerais 148
8
De acordo com o relatrio, o Programa se articula nos eixos: Acesso a terra; Infraestrutura e
qualidade de vida; Desenvolvimento local e incluso produtiva; Direitos e cidadania. O conjunto
de informaes permite ver as polticas pblicas implementadas na sociedade, e da mesma forma
indica a situao de precariedade social e econmica a que foram submetidos. A totalidade
das informaes pode ser encontrada em http://www.seppir.gov.br/destaques/diagnostico-pbq-
agosto.
9
O Cadastro nico para Programas Sociais (Cadnico), regulamentado pelo Decreto n 6.135,
de 26 de junho de 2007. Tem a nalidade de identicar e caracterizar as famlias de baixa renda
que usam programas sociais governamentais.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
48
Estado Nmero de Comunidades Quilombolas
Mato Grosso do Sul 20
Mato Grosso 66
Par 103
Paraba 34
Pernambuco 108
Piau 43
Paran 34
Rio de Janeiro 26
Rio Grande do Norte 21
Rio Grande do Sul 86
Santa Catarina 11
Sergipe 22
So Paulo 45
Tocantins 27
TOTAL 1.818
Fonte: Parecer do Grupo de Trabalho Quilombos da ABA-2012
O crescimento nacional das comunidades quilombolas certicadas tambm
pode ser observado no Paran. As comunidades negras (rurais ou urbanas)
ocupavam um lugar de opacidade nas narrativas histricas, na ideia de
identidade regional, nas polticas pblicas, dentre outras. Nesse sentido,
cabe assinalar a contribuio do Grupo de Trabalho Clvis Moura para o
conhecimento das comunidades quilombolas do estado. Tinha como funo
proceder Levantamento Bsico das Comunidades Remanescentes de Quilombos
e Terras de Preto do Estado do Paran.
O grupo foi constitudo pelo governo do Estado do Paran pela Resoluo
Conjunta 01/2005-SEED
10
SEEC
11
SEAE
12
SEMA
13
-SECS
14
. Na sequncia novas
Resolues intersecretarias 01/2006 e 01/2007 permitem a continuao
das atividades. O Trabalho empreendido pelo grupo
15
foi determinante para
identicao das comunidades certicadas pela Fundao Cultural Palmares,
conforme tabelas a seguir:
10
Secretaria de Estado da Educao.
11
Secretria de Cultura.
12
Secretaria para Assuntos Estratgicos.
13
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hdricos.
14
Secretaria da Comunicao Social.
15
O relatrio pode ser encontrado em http://www.itcg.pr.gov.br/arquivos/File/Terra_e_
Cidadania_v3.pdf. Acesso em 10/02/2013.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
49
Quadro 2- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Adrianpolis
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4100202 Joo Sur 19/08/2005
4100202 Comunidade Negra Rural de Sete Barras 07/06/2006
4100202 Porto Velho 07/06/2006
4100202 Bairro Crrego do Franco 13/12/2006
4100202 Bairro Trs Canais 13/12/2006
4100202 Estreitinho 13/12/2006
4100202 Praia do Peixe 13/12/2006
4100202 So Joo 13/12/2006
4100202/3542602
Comunidade Negra Rural de Crrego das
Moas
07/06/2006
Total 9
Fonte: Fundao Cultural Palmares
16
Quadro 3- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Bocaiva
do Sul
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4103107 Areia Branca 13/12/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 4- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Palmital dos
Pretos
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4104204 Palmital dos Pretos 07/06/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 5- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Candoi
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4104428 Cavernoso 1 13/12/2006
4104428 Despraiado 13/12/2006
4104428 Vila So Tom 13/12/2006
Total 3
Fonte: Fundao Cultural Palmares
16
As informaes foram coletada no site da Fundao Cultural Palmares. http://www.palmares.
gov.br/quilombola/. Acesso: 10/03/2013.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
50
Quadro 6- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Castro
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4104907
Comunidade Negra Rural de Castro
(Limito - Serra do Apon - Mamans)
12/09/2005
4104907 Tronco 13/12/2006
Total 2
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 7- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Curiva
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4107009 gua Morna 19/08/2005
4107009 Guajuvira 19/08/2005
Total 2
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 8- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Doutor Ulysses
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4128633 Varzeo 07/06/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 9- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Guaira
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4108809 Manoel Cirico dos Santos 13/12/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 10- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpios de
Guarapuava/Pinho/Reserva do Iguau
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4109401 /
4119301/ 4121752
Invernada Paiol de Telha* 25/04/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 11- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Guaraqueaba
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4109500 Batuva 13/12/2006
4111407 So Roque 16/04/2007
Total 2
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
51
Quadro 12- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Iva
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4111407 Rio do Meio 16/04/2007
4111407 So Roque 16/04/2007
Total 2
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 13- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Lapa
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
113205 Feixo* 13/12/2006
4113205 Restinga 13/12/2006
4113205 Vila Esperana 13/12/2006
Total 3
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 14- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Palmas
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4117602 Adelaide Maria Trindade Batista 16/04/2007
4117602 Castorina Maria da Conceio 16/04/2007
Total 2
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 15- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Ponta Grossa
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4119905 Comunidade Negra Rural de Sutil 19/08/2005
4119905 Santa Cruz 19/08/2005
Total 2
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 16- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio So Miguel do
Iguau
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4125704 Apep 13/12/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
Quadro 16- Comunidades remanescentes de quilombo, Municpio Turvo
Cdigo do IBGE Comunidade Data de publicao
4127965 Campina dos Morenos 13/12/2006
Total 1
Fonte: Fundao Cultural Palmares
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
52
Como possvel perceber, temos 34 comunidades remanescentes de
quilombo certicadas pela Fundao Cultural Palmares. Convm lembrar que
muitas outras esto em processo de organizao para solicitar a certicao.
Ao olharmos as datas de publicao da certicao perceberemos que todas so
posteriores resoluo que instituiu o Grupo de Trabalho Clvis Moura, o que
demarca o signicado das aes empreendidas. Tambm a criao da Federao
das Comunidades Quilombolas do Paran (FECOQUE), que atua no sentido de
proposio de polticas pblicas, avaliao das aes e dos procedimentos para
o processo titulao das terras.
No relatrio encontramos uma imagem multitnica do Paran, que suscitou
novos estudos e atividades de investigao tais como Camargo (2012), Hoffmann
(2012), Grokorriski (2012), Soares (2012), que usaram como temtica: a vida
cotidiana, as formas educativas, a resistncia diria, as formas de organizao
poltica, dentre outras.
2. Quilombolas e territorialidade: modos de fazer, criar e viver
As reivindicaes dos direitos territoriais dos grupos tnicos implica a
vivncia do conito social em uma sociedade patrimonialista na qual a terra
mercadoria regulada na esfera das relaes econmicas de compra e venda.
Essa sociedade oblitera direitos associados s formas de viver e interagir que
envolvem outras dinmicas de organizao.
importante dizer que h diculdade de operar uma traduo entre o vivido
por determinados grupos e a nossa possibilidade de apreenso de seus cdigos,
dos ditos, dos no-ditos, das palavras entrecortadas, das gestualidades. No
entanto, sabemos que, nos processos de traduo, operamos, tambm, por
semelhana. H sempre o que escapa, que ui e que estamos a perseguir para
alcanar compreenso, em meio conuncia de signicados, dos modos de
fazer, criar e viver. nesse movimento que compreendemos as possibilidades
de acesso s socialidades que impregnam as tecituras do viver em comunidades
quilombolas e ao pathos que atravessa ser quilombola, inventar-se
17
quilombola
e se inscrever como sujeito de direitos. Nesse sentido, ODwyer arma que:
...contemporaneamente, portanto, o termo quilombo no se refere
a resduos de resqucios arqueolgicos de ocupao temporal ou de
17
importante compreender a acepo de inventar nesse texto. Entendemos um duplo
movimento: de reconhecimento social de sujeitos que sempre estiveram a falar de si, mas que
no encontravam eco na histria ocial; reconhecimento de direitos que garante o exerccio da
cidadania e acesso a bens materiais, culturais, simblicos negados em nome de uma pseudo-
igualdade.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
53
comprovao biolgica. Tambm no se trata de grupos isolados ou
de uma populao estritamente homognea. Da mesma forma nem
sempre foram constitudos a partir de movimentos insurrecionais ou
rebelados mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram
prticas cotidianas de resistncia na manuteno e reproduo de
seus modos de vida caractersticos e na consolidao de um territrio
prprio. A identidade desses grupos tambm no se dene pelo
tamanho e nmero de seus membros, mas pelas experincias vividas e
as verses compartilhadas de sua trajetria comum e da continuidade
enquanto grupo (1995: 2).
A apresentao das falas de lideranas das comunidades quilombolas
do Paran
18
, coletadas em um evento proposto pela Secretaria de Estado de
Educao-SEED/PR, pode auxiliar na compreenso do grupo. Para iniciar as
atividades, os sujeitos se apresentavam e indicavam caractersticas do seu
local de vida. Esse foi um momento interessante porque, ao expor o que
faziam, descreviam a localidade em que moravam ou trabalhavam. Nesse
movimento delineavam o espao de vida e estabeleciam conexes do tipo ...
na minha comunidade tambm tem isso..., ...ns trabalhamos assim..., ...
tambm vivemos algo semelhante..., ...est sendo muito difcil lutar pelo
reconhecimento do nosso direito a terra..., entre outras. De alguma forma se
estabelecia um vnculo gregrio. Ressaltamos que no procuramos estabelecer
um conceito monoltico do que seja ser quilombola e inscrever-se como tal.
Estamos, sim, estabelecendo pontos de interseco, que possibilitam perceber
as formas do estar junto em diferentes comunidades e certo reconhecimento
de uma proximidade existencial, de uma vivncia histrica com grandes
similaridades e de elementos internos de coeso, que potencializam um
conceito ou ideia de ns.
Ainda nesse momento de apresentao, foi voz corrente ...eu ainda me
lembro disso... ...meus avs sempre contavam que no tempo dos antigos...,
...antes de tomar qualquer deciso ns consultamos o senhor (...) que dos
antigos, ...eu disse para eles no assinem nada.... Ao apresentar as falas
recortadas, de alguma forma esmaece a intensidade, entretanto, ao apresent-
las, chama a ateno signicao da memria e suas relaes com os
processos de identicao. Para Pollak:
18
Em 2011 ministramos uma ocina - Comunidades quilombolas: saberes e fazeres cotidianos
para as lideranas quilombolas do estado e docentes atuantes nas escolas localizadas nas
comunidades ou no seu entorno, no VIII Encontro de Educadores Negros, organizado pela SEED/
PR em Pontal do Paran.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
54
...a memria um fenmeno construdo social e individualmente,
quando se trata da memria herdada, podemos dizer h uma ligao
fenomenolgica muito estreita entre memria e o sentimento de
identidade. Aqui, o sentimento de identidade est sendo tomado no
seu sentido mais supercial, mas que nos basta no momento, que o
sentido da imagem de si, para si e para os outros (1992: 5).
Conforme indica o autor, os sujeitos constroem imagens de si da mesma
forma que investem para que os outros os reconheam como tal, procurando
legitimar as representaes que tm de si e, de alguma forma, estabelecerem
indicativos do que desejam ver reconhecido nos seus grupos de referncia.
A memria opera de maneira que o retorno ao passado um voltar ao
que j no est l. Essas questes tornam possvel pensar que a memria
sempre negociada e que os movimentos de evocao e criao se articulam de
diferentes formas, compondo variados desenhos e signicados. Nesse sentido,
as alocues remetem para a composio tnica inicial dos locais onde vivem,
armam a relao vital entre as jovens lideranas das comunidades e os
antigos, aqueles que sabem da histria do grupo. Assim, a apresentao
estabelece uma diadela entre identidade e memria. nessa interseo que
os membros de um grupo percorrem os espaos de vida e constroem imagens
de si e dos outros em um determinado tempo e espao. Um tempo que para
eles, muitas vezes, unica origem e destino de cada um e de todos em relao
ao territrio em que vivem e onde viveram os seus. Anjos arma que:
Esse trabalho da memria , aqui, fundamentalmente um processo
de iconicao dos eventos histricos, de modo a se transformarem
em marcadores de tempo e espao. No deixa a memria coletiva
de trabalhar com fatos histricos, mas eles so submetidos a um
processo que no o da comprovao, mas, sim, do tornar exemplar,
com um sentido gerado pelos esquemas prvios e que, atravs de
transformaes sutis, gera novos esquemas de interpretao e ao
(2004: 65).
Parece que expressam a marcao de tempo tempo vivido com quando
armam uma relao de recriao com o passado, quando assumem uma
identicao quilombola, quando traam elementos de continuidade na relao
com a terra onde vivem e viveram os ancestrais e na qual projetam o futuro
(expressa na preocupao com o conhecimento das crianas sobre suas formas
de viver e se relacionar no grupo, no desejo de criar escolas quilombolas, na
preocupao com a ao poltica que garanta direitos sociais). Neste sentido,
parece que o substrato cotidiano que entrecruza o ser quilombola e o instituir-
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
55
se como sujeitos de direitos
19
marcado por uma inscrio espao-temporal.
No fazemos armao essencialista
20
, como se houvesse algo inscrito na
natureza e que vinculasse, de forma indelvel, aqueles seres entre si. Quando
referimos ideia ser quilombola, estamos fazendo aluso s disposies
experienciais identicadas e reconhecidas por aqueles que as vivem como parte
de um grupo que guarda profundas diferenas entre si, da mesma forma que
mantm relaes de contiguidade, laos de vizinhana e familiaridade prprios
de quem vive nas mesmas cercanias e que conduzem a uma proximidade
existencial. Sobre esta questo talvez fosse possvel justapor ao que Guatarri
chama de Agenciamentos Territorializados de Enunciao. Arma que:
Atravs de diversos modos de semiotizao, de sistemas de
representao e de prticas multirreferenciadas, tais agenciamentos
conseguiam fazer cristalizar segmentos complementares de
subjetividade, extrair uma alteridade social pela conjugao da
liao e da aliana, induzir uma ontognese pessoal pelo jogo
das faixas etrias e das iniciaes, de modo que cada indivduo se
encontrasse envolto por vrias identidades transversais coletivas ou,
se preferirem, no cruzamento de inmeros vetores de subjetivao
parcial. Nestas condies, o psiquismo de um indivduo no est
organizado em faculdades interiorizadas, mas dirigido para uma
gama de registros expressivos e prticos, diretamente conectados
vida social e ao mundo externo (1992: 127).
No desenvolvimento do trabalho chamaram a ateno armaes como
estas: eu falei para eles no assinar nada
21
, eu no sei ler, mas no assino
nada. J referimos que, ao retirar uma frase do contexto que ela se apresenta
e fragment-la, temos o risco da perda de vigor e da emoo que compunha
o discurso do sujeito. Mas a alocuo expressa uma fora vital, e um poltico
transgurado. Maffesoli arma que:
Precisa-se de energia para resistir s diversas imposies sociais. O
mesmo vale para o que diz respeito ao desvio do poltico. Talvez se
deva ler a o duplo do poltico, e do poder que a sua expresso. A
ironia, a absteno, o distanciamento, o exlio interior poderiam ser
19
Terra, educao, polticas sociais...
20
Woodward arma que uma explicao essencialista da identidade (...) sugeriria que existe um
conjunto cristalino, autntico de caractersticas que todos (...) partilham e que no se altera ao
longo do tempo (2000: 12).
21
A narradora contou que foram comunidade e pediram que assinassem documentos que
tinham por funo expropri-los das terras em que vivem e na qual viveram seus ancestrais.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
56
compreendidos como passividade, no nal das contas propcia aos
poderes, do que como fora de inrcia com o qual preciso contar
(1997: 117).
No h uma ao direta contra aqueles que impuseram suas normas, suas
leis, suas determinaes. A fala da mulher expressa uma derriso, no h
um enfrentamento direto, por meio de um risinho a pessoa fecha a frase eu
no assinei. Parece indicar certo riso zombeteiro ao poder, e um desviar-se
que, em ltima instncia, signica contornar o poder e armar estratgias
de sobrevivncia como sujeito. Mais que isso, a continuidade como grupo,
que ao desdenhar, resiste; ao resistir, institui-se quilombola; ao instituir-
se quilombola, assegura direitos. Aqui, o direito a terra. Quando a mulher
quilombola, ainda que em um gesto solitrio, diz no assino e falei para
os meus, no assinem ela, de alguma forma, estende sua ao que deixa de
ter uma conotao individual e passa a ser assumida por um conjunto social.
Temos a hiptese que h, neste caso, uma transgurao do poltico.
O que a princpio pode ser pensado como algo individual e individualizante
torna-se um gesto de resistncia e mais que isto, h uma astcia (isto porque
o poder identica tal ao como alheamento, teimosia individual...). No gesto
h claro desdm em relao ao poder que diz assine. Ainda que referindo-se
a outra situao, Maffesoli entende que tal atitude exprime, antes de tudo
o amor pela vida, vida que se deve proteger a longo prazo, vida da qual se
devedor diante das geraes futuras (...) garantia de uma eternidade vivida
dia-a-dia (1997: 116). importante no ler aqui uma relao causa e efeito,
mas um movimento de fazer, refazer e negociar com o poder.
Nesse movimento, produz-se um impulso para o estar junto, algo que
liga e aproxima pessoas que partilham uma mesma espacialidade, que pode
ser imaginada, simblica ou real (ou, muito provavelmente, essas diferentes
instncias entrecruzadas). A participao na vida poltica para a conquista
dos direitos sociais aventura atual empreendida pelas lideranas das
comunidades quilombolas, neste processo conhecem e atuam em novos
cenrios, se articulam em diferentes instncias de poder, descobrem novos
aliados, identicam opositores. As novas dinmicas de participao esto
associadas vida cotidiana, e aos modos de fazer, criar e viver dos grupos.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
57
Referncias bibliogrcas
ANJOS, Jos Carlos Gomes, SILVA, Srgio Baptista. So Miguel e Rinco dos Martimianos:
ancestralidade negra e direitos territoriais, Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
ARRUTI, Jos Maurcio Andion. Agenciamentos Polticos da Mistura: Identicao
tnica e Segmentao Negro-Indgena entre os Pankarar e os Xoc. Estud. Afro-
asiticos., 2001, vol.23, no.2, p.00-00. ISSN 0101-546X.
CALHEIROS, Felipe Peres e STADTLER, Hulda Helena Coraciara. Identidade tnica
e poder: os quilombos nas polticas pblicas brasileiras. Rev. katlysis [online].
2010, vol.13, n.1, pp. 133-139. ISSN 1414-4980.
CAMARGO, Mbia. Atlntico negro paiol: como esto sendo conduzidas as questes de
raa e etnia nas aulas de Lngua Inglesa. Orientadora Aparecida de Jesus Ferreira.
Dissertao de Mestrado em Linguagem, Identidade e Subjetividade, Ponta Grossa,
2012.
FERREIRA, Haroldo da Silva et al. Nutrio e sade das crianas das comunidades
remanescentes dos quilombos no Estado de Alagoas, Brasil. Rev Panam Salud
Publica, Jul 2011, vol.30, no.1, p.51-58. ISS 1020-4989.
FREITAS, Daniel Antunes et al. Sade e comunidades quilombolas: uma reviso da
literatura. Rev. CEFAC. 2011 Set-Out; 13(5):937-943.
GROKOSSIKE, Carlos Ricardo. Sutilezas entre cincia, poltica e vida prtica:
alfabetizao vem uma comunidade remanescente de quilombo. Dissertao de
Mestrado Em Educao. Universidade Estadual de Ponta Grossa. Orientador Fernando
Cerri, Ponta Grossa: 2012.
GUATARRI, Felix. Caosmose: um novo paradigma esttico. So Paulo: Editora 34, 1992.
HOFFMANN, Claudia Cristina. Fronteiras de um quilombo em construo: um estudo
sobre o processo de demarcao das terras da Comunidade Negra Manoel Criaco dos
Santos. Programa de Ps- Graduao em Sociedade, Cultura e Fronteiras, Orientador
Valdir Gregory. Universidade Estadual do Oeste do Paran,Foz de Iguau 2012.
LEITE, Ilka Boaventura. O projeto poltico quilombola: desaos, conquistas e
impasses atuais. Rev. Estud. Fem., Dez 2008, vol.16, n 3, p.965-977. ISSN 0104-
026X.
LEITE, Ilka Boaventura.. O legado do Testamento: a comunidede de Casca em percia,
Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianpolis: NUER/UFSC, 2004.
LEITE, Ilka Boaventura. Classicaes tnicas e as terras de negros no sul doBrasil.In:
ODWYER, Eliane Cantarino (Org.). Terra de quilombos. ABA-Associao Brasileira
de Antropologia,Rio de Janeiro: DECANIA CFCH/UFRJ, julho de 1995.
MAFFESOLI, Michel, Elogio da razo sensvel, Petrpolis: Vozes,1998.
MAFFESOLI, Michel. A transgurao do poltico: a tribalizao do mundo, Porto
Alegre: Sulina, 1997.
ODWYER, Eliane Cantarino (Org). Terra de quilombos. ABA- Decnia CFCH/UFRJ, Rio
de Janeiro: 1995.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
58
ODWYER, Eliane Cantarino. Os quilombos e as fronteiras da antropologia. Antropoltica
(UFF), v. 19, p. 91-111, 2005.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Antropologia e a crise dos modelos explicativos.
Estud. av. [online]. 1995, vol.9, n.25, pp. 213-228. ISSN 0103-4014.
POLLAK, Michael. Memria e identidade social Estudos Histricos, Rio de Janeiro,
vol. 5, n. 10, 1992, p. 200-212.
SOARES, Edimara Gonalves. Educao escolar quilombola: quando a diferena
indiferente. Tese (Doutorado em Educao) Setor de Educao, Orientadora: Tnia
Maria Baibich, Universidade Federal do Paran: 2012.
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual.
In SILVA, Tomas Tadeu da (Org). Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos
culturais. Petrpolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
Documentos
Conveno n 169 sobre povos indgenas e tribais e Resoluo referente ao da
OIT. Organizao Internacional do Trabalho. Braslia: OIT 2011.
Decreto n 4.887, de 20 de novembro de 2003: Regulamenta o procedimento para
identicao, reconhecimento delimitao, demarcao e titulao das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art.
68 do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias. Disponvel em ttp://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm.Acesso 20/3/2013.
Manifesto da Coordenao Nacional das Comunidades Quilombolas CONAQ, 2012:
Disponvel em http://www.petitiononline.com/conaq123/petition.html Acesso
5/04/2013.
Nota Pblica da Associao Brasileira de Antropologia de 17 de abril de 2012.
Disponvel em http://www.abant.org.br/news/show/id/238 Acesso 5/04/2013.
Parecer Grupo de Trabalho Quilombos da ABA. 2012. Disponvel em http://www.
abant.org.br/news/show/id/238 Acesso 5/04/2013.
Relatrio do Programa Brasil Quilombola. Diagnstico de Aes Realizadas, Secretaria
de Polticas de Promoo da Igualdade Racial, Braslia: 2012.
Terra e cidadania: terras e territrios quilombolas. Grupo de Trabalho Clvis Moura,
relatrio 2005-2008.
59
Captulo 3
Uma reexo sobre os faxinais: meio-ambiente,
sistema produtivo, identidades polticas, formas
tradicionais de ser e viver
Liliana Porto
1
A
proposta deste texto reetir sobre um contexto ambiental, social,
econmico e poltico de fundamental importncia para a compreenso
da presena e organizao de populaes tradicionais no Centro-Sul
do Paran, que se explicita atravs dos vrios usos da noo de faxinal. Para
tanto, ter como base uma reviso bibliogrca sobre o tema, bem como a
experincia de pesquisa de campo em Pinho/PR municpio caracterizado
por grandes reas cobertas por matas mistas de araucria, contingente
signicativo de populao tradicional, bem como prticas passadas e presentes
de organizao produtiva que se estruturam de acordo com a lgica do que a
literatura denomina sistema faxinal.
Ao analisarmos a maneira como a noo mobilizada, tanto na bibliograa
quanto nos contextos contemporneos, por historiadores, acadmicos,
moradores locais, agentes estatais ou militantes na luta pela terra, observamos
perspectivas distintas sobre os faxinais. Destacam-se trs: 1) faxinal como
descrio de um determinado meio-ambiente, que em alguns momentos se
aproxima da noo de faxinal como criadouro comum; 2) faxinal como sistema
produtivo; 3) faxinal como identidade e proposta poltica de construo de
direitos e usos do territrio. Apesar de distintas, contudo, tais perspectivas
no so desarticuladas: dialogam e se contrapem, resultando tais contatos
em uma dinmica de deslocamentos e resignicaes. Alm disso, a ordem
acima apresentada tambm cronolgica, sendo a utilizao do termo para
denir um contexto ambiental (geralmente vinculado a um uso especco:
1
Doutora em Antropologia pela UnB e professora do Departamento de Antropologia da UFPR.
Realizando ps-doutorado no PPGAS/Museu Nacional. Autora dos livros A ameaa do outro e
Curitiba entra na roda.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
60
como criadouro comum) anterior quela que o dene como sistema produtivo,
e esta, por sua vez, antecede sua denio como identidade na luta poltica.
E, ainda, todas elas trazem consigo, embora muitas vezes de maneira no
explcita, referncia a certa forma de ser e viver que implica em valores que
denem as relaes com o meio natural, com os demais membros dos grupos
sociais e com o mundo sobrenatural. Valores estes que se relacionam com regras
de convivncia grupal pautadas em respeito, reciprocidade e responsabilidade
ambiental e social
2
.
Denido como um regionalismo do sul do pas, a noo de faxinal como
meio-ambiente pode ser encontrada em textos sobre a regio desde o sculo
XIX. Assim, por exemplo, ao descrever sua viagem pelos sertes de Guarapuava,
Jos Francisco Nascimento arma que:
A 13 de Maio entramos no Chag ao rumo de 78 gros noroeste,
e depois de 26 dias de tempo chuvoso e frio conseguimos com
difculdade abrir 9 leguas de picada, por onde passavam 6
cargueiros carregados. No lugar onde fazia as 9 leguas de picada,
tivemos de invernar 11 dias, por causa das chuvas e ribeiros cheios;
dalli pretendamos seguir quando o tempo melhorasse, visto que o
terreno parecia ser menos montanhoso, e menos difcultoso para
os trabalhos, porque j se avistavam faxinaes e vestgios de campos
(Nascimento, 1886: 269).
Neste contexto, ela se aproxima muito das denies do dicionrio Houaiss
sobre o termo (campo que avana pelo interior de uma oresta ou cercado
por altas rvores) ou do dicionrio Michaelis (campo coberto de mato curto).
Distancia-se, no entanto, daquela utilizada dos depoimentos de moradores de
Pinho
3
, em que faxinal remete s matas de araucria comuns no local. Nestas,
alm da presena do pinheiro, destacam-se a existncia de madeira de lei
como a imbuia, bem como de ervais nativos. Aqui, embora a nfase ambiental
seja clara, h uma relao entre o ambiente e as atividades econmicas nele
realizadas, e os faxinais so pensados a partir de sua oposio s capoeiras.
Vistos como adequados tanto para atividades extrativistas (de erva-mate, pinho
e madeira esta ltima restrita devido atual legislao ambiental) quanto de
2
necessrio, contudo, no construir uma viso romntica idealizada sobre os grupos
tradicionais que se vinculam, de formas diversas, aos faxinais. Embora as caractersticas
citadas sejam efetivas, tambm se observa a presena de conitos e tenses signicativos na
estruturao de tais grupos inclusive vinculados questo do compscuo.
3
rea em que concentro minhas pesquisas sobre o tema, e que reconhecida como um dos
principais municpios do Paran quando se considera a relevncia da presena de faxinais.
tambm o municpio de origem de um dos principais lderes do movimento faxinalense na
atualidade.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
61
criao de gado, cavalos e animais de pequeno porte
4
, seriam inapropriados
(devido excessiva acidez do solo) para a produo agrcola. Tal atividade,
portanto, precisaria ocorrer em uma rea especca, as capoeiras, pensadas
como terras de cultura em geral situadas em terrenos mais dobrados, sem a
presena da oresta e mais prximas dos rios. Trecho de entrevista com Renato
Passos, memorialista de Pinho, exemplica tal perspectiva:
R: O faxinal aquele mato mais alto que... vamos distinguir, tem a
capoeira, um mato no, quase sempre formado por bracatinga. Hoje
quase no tem mais. E o faxinal aquele que era pinheiro, imbuia,
e erva-mate, e canela, um mato mais alto. E embaixo pasto. Que o
pessoal costumava criar tambm gado ali, e porco solto, que comia o
pinho, e criava muito cabrito, que o cabrito se d bem no faxinal.
E muito cavalo tambm que era criado no faxinal (Entrevista com
Renato Passos realizada em 09/06/12).
Acrescente-se, ainda, serem os faxinais o espao onde se construam as
moradias no passado, o que leva a que vrios dos grupos rurais de Pinho sejam
conhecidos a partir desta denominao: como exemplo, Faxinal dos Taquaras,
Faxinal dos Ribeiros, Faxinal dos Silvrios, Faxinal dos Coutos, entre outros.
As terras de cultura, a m de terem a produo protegida da eventual
destruio pelos animais criados solta nos faxinais, eram ou distantes
dos mesmos, ou deles separadas por algum acidente natural, ou mesmo por
cercas construdas pelos habitantes regionais. Nestas terras se localizavam os
paiis, utilizados tanto para armazenamento dos produtos agrcolas quanto
para abrigo e morada durante perodos em que h intensicao do trabalho
na lavoura.
o uso das reas de faxinal como compscuo por grupos rurais tradicionais
5
que leva a que o termo passe a designar no apenas o ambiente, mas tambm
um sistema produtivo complexo, marcado pela conjugao da policultura de
subsistncia, criao solta e extrao de erva-mate (tambm de pinho,
madeira, frutos e ervas medicinais). Tal sistema conjugar uso familiar e comum
do territrio, produes diversicadas destinadas tanto para o autoconsumo
quanto para o mercado, ciclos produtivos de durao diferenciada (vrios deles
ultrapassando o mnimo de dois anos como o caso da extrao de erva-
mate e madeira, ou criao de alguns animais).
4
Porcos, cabras, ovelhas, galinhas e outros animais.
5
O dicionrio Houaiss apresenta outra denio de faxinal, como campo de pastagem com
presena de arvoredo esguio, que aponta na identicao entre faxinal e criao de gado. No
h, contudo, nenhuma referncia ao carter de pastagem coletiva dos faxinais em qualquer dos
dicionrios consultados.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
62
A nova denio, por sua vez, ser desenvolvida em um contexto bastante
especco: a produo de pesquisadores vinculados ao IAPAR (Instituto
Agronmico do Paran) e com insero acadmica, ocorrida na dcada de 1980.
O primeiro texto resultante do grupo interdisciplinar de pesquisa constitudo
pelo IAPAR o de Horcio Martins (1984), no publicado. Nele, o autor relata
ter partido de uma inquietude pessoal quanto existncia de criadouros
comunitrios na organizao da produo da pequena burguesia agrria do
Estado do Paran e de Santa Catarina (:04), e da ausncia de textos acadmicos
sobre o tema. Criadouros estes conhecidos como faxinais
6
. Aproveita, ento,
a possibilidade de pesquisa aberta pelo IAPAR para fazer registros sobre o
tema, mas no redige um relatrio, sendo o texto apresentado uma reexo
que ocorre fora do ambiente institucional e tem como base estudo de caso
realizado no Faxinal Rio do Couro, em Irati/PR. A nfase dada pelo autor no
criadouro comunitrio marcar, como veremos, todas as discusses estatais e
acadmicas posteriores sobre os faxinais. Ele assim os dene:
O criadouro comunitrio uma forma de organizao consuetudinria
que se estabelece entre proprietrios de terra para sua utilizao
comunal tendo em vista a criao de animais. A rea de um criador
comunitrio constituda por vrias parcelas de terras de distintos
proprietrios, formando, umas ao lado das outras, um espao contnuo
(1984: 12).
O criador comunitrio um resultado histrico da criatividade
do trabalhador direto na condio de pequena burguesia agrria,
sob determinadas condies de trabalho e a necessidade objetiva
de equacionar seus problemas de produo determinaram suas
inventivas, dando-lhe a fora da descoberta nas prticas do seu viver
com a natureza e com os outros homens (1984: 07).
6
No entanto, Carvalho arma que, embora se possa estabelecer esta relao, criador
comunitrio e faxinal no so sinnimos (retoma a noo de faxinal como descrio de um
tipo de meio-ambiente), como se percebe no seguinte trecho: O criador comunitrio tambm
denominado de faxinal. Entretanto, ainda que aceito vulgarmente esta sinonmia, faxinal e
criador comunitrio apresentam substanciais distines./Originalmente (...) o faxinal se referia
ao mato denso ou grosso, ou seja, a rea de vegetao mais cerrada, se comparadas com outras
reas s quais se denominava mato ralo. No faxinal ocorria a presena das espcies orestais
pinheiro (araucria) e erva mate, alm de apresentar razoveis condies de pastagem natural.
O faxinal era preservado para prticas extrativistas da madeira (pinho) e da erva mate, alm de
servir de espao para a criao extensiva e semi-extensiva de animais. As derrubadas de mato
para a formao de lavouras eram realizadas em reas onde se observava a presena de mato
ralo (...)/(...)/Nesse sentido posso armar que a expresso faxinal possui um signicado mais
amplo do que a de criador comunitrio. Este uma forma de organizao da criao de animais
em terras de uso comunal que se d em reas de faxinal. Assim, num faxinal pode-se encontrar
rea que destinada a criador comunitrio e outra(s) para uso privado (1984: 14-15).
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
63
Abordando o modelo do criador comunitrio fechado em seu permetro, e
estabelecendo relaes no muito claras entre sua existncia e os interesses
dos capitalistas, explicita a relao entre os faxinais como compscuo e o
interesse dos proprietrios na extrao de madeira e erva-mate. Constri,
portanto, o modelo do trip econmico fundado no extrativismo, lavoura e
criao animal posteriormente desenvolvido como sistema faxinal por Man Yu
Chang (1988), mas no explora de maneira sistemtica este trip. Com foco
permanente no criador, dene como motivo central para sua criao a economia
de material na construo de cercas que separassem as reas de pastagem das
de lavoura. No entanto, a partir do momento em que ele se estabelece, marca
a sociabilidade local e instaura relaes de amizade, vizinhana e compadrio
entre os participantes do sistema. Tambm dene padres mais amplos de
trabalho, uso da terra, compra e venda, herana.
Menos preocupado com a elaborao de um modelo geral, e voltado anlise
do contexto de pesquisa no Faxinal Rio do Couro, o autor aponta as vrias
etapas histricas de constituio, consolidao e desarticulao do criadouro
comunitrio. Ressalta as mudanas ocorridas ao longo do perodo entre 1910
e 1981, sendo relevantes aspectos como a alterao dos principais produtos
comerciais batata, trigo, erva-mate, sunos, madeira, fumo , substituio
de mo de obra familiar e processos de trabalho coletivo (mutiro, localmente
denominado puxiro) pelo trabalho assalariado, emigrao de mo de obra
local, conjugao de produtos para o autoconsumo e produtos para o mercado
(havendo duplo destino em alguns casos), ocorrncia de crises econmicas
ao longo do perodo. Atravs desta anlise se esclarece a denio dada
pelo autor dos participantes do criador comunitrio como pequena burguesia
agrria pois que proprietrios de terras, produtores para o mercado e, aps
um perodo, contratantes de mo de obra assalariada.
A anlise de um caso particular, se por um lado no permite elaborar um
modelo geral na medida em que, por exemplo, questes como a propriedade das
terras no se aplicam a situaes como a de Pinho, em que predomina o direito
pela posse no documentada , por outro possibilita perceber dinmicas sociais
mais detalhadas e que no ocorrem em um sentido nico. Assim, o criadouro
comunitrio coexiste com produes distintas, bem como com distintos usos
da mo de obra. Alm disso, no h um caminho predeterminado no sentido
de sua desagregao (ou seja, mais fcil reconhecer a historicidade prpria
do sistema): apesar da crise identicada pelo autor na dcada de 1970, ele
retomado posteriormente, encontrando-se em posio mais slida na dcada
seguinte. Conjugam-se o uso comum e o uso individual/familiar da terra, a
produo para o autoconsumo e para o mercado, a explorao prpria e por
grandes empresas (p.ex. madeireiras) das reas de faxinais, os arrendamentos,
a diferenciao econmica entre as famlias locais ao longo do tempo. Alm
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
64
disso, apesar de o foco se dar na produo, h indcios da inuncia do criador
comunitrio nas relaes sociais locais.
No entanto, ao nal, apesar de armar a organizao slida do criadouro
comunitrio em Rio do Couro no momento da pesquisa, Carvalho aponta foras
que indicariam no sentido da futura dissoluo do criador entre as quais
as tendncias de emigrao e assalariamento das famlias locais, a ao de
empresas madeireiras, a modernizao da pecuria, discursos higienistas. E
termina por armar a necessidade de resgate desta forma de organizao
produtiva abrindo espao para se pensar o modelo de criador comunitrio
como proposta poltica de organizao de pequenos produtores rurais:
O criador comunitrio, como forma de organizao dos produtores
rurais no uso comum da terra para a criao de animais, se
constituiu, e se constitui, em parte da histria da agricultura do
Paran (e de Santa Catarina), em particular de algumas de suas
regies e para determinadas classes sociais. Resgat-la, recuperar
seus traos mais relevantes, mobilizar os prprios autores da sua
gerao e consolidao para a reconstrurem, e dela tecerem novas
ou renovadas alternativas para a organizao da criao de animais,
tarefa que no se deveria relegar para tempos futuros. As memrias,
como as saudades, necessitam de contnuo alento para se tornarem
imorredouras (1984: 78).
Mas se no texto de Carvalho h uma perspectiva do faxinal como um
sistema produtivo mais complexo e articulando aspectos de economia familiar
para o autoconsumo e economia de mercado, no de Man Yu Chang (1988),
publicado como boletim tcnico n. 22 do IAPAR, que ocorre a sistematizao
de referncia desta perspectiva marcando a ao posterior do Estado,
principalmente atravs da publicao do Decreto Estadual 3446/97, que dene
a criao de reas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR) em regies
caracterizadas pelo sistema faxinal, e da realizao de levantamentos dos
faxinais existentes no Paran; bem como a discusso do movimento social sobre
a caracterizao dos faxinais, a construo de uma identidade faxinalense e a
elaborao de um mapeamento concorrente queles dos rgos estatais. J na
primeira pgina da Introduo, a autora traz uma sntese de sua abordagem,
ao armar que:
O sistema faxinal, objeto central deste estudo, uma forma de
organizao camponesa caracterstica da regio Centro-Sul do
Paran que ainda se apresenta de forma marcante. Sua formao
est associada a um quadro de condicionamentos fsico-naturais da
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
65
regio e a um conjunto de fatores econmicos, polticos e sociais
que remonta de forma indireta aos tempos da atividade pecuria
nos Campos Gerais no sculo XVIII, e mais diretamente atividade
ervateira na regio das matas mistas no sculo XIX.
A semelhana dos demais sistemas de produo familiares, o sistema
faxinal apresenta tambm os seguintes componentes: produo
animal criao de animais domsticos para trao e consumo com
destaque s espcies equina, suna, bovina, caprina e aves; produo
agrcola policultura alimentar de subsistncia para abastecimento
familiar e comercializao da parcela excedente, destacando as
culturas de milho, feijo, arroz, batata e cebola; coleta de erva-
mate ervais nativos desenvolvidos dentro do criadouro e coletados
durante a entressafra das culturas, desempenhando papel de renda
complementar.
(...)
O que torna o sistema faxinal atpico sua forma de organizao. Ele
se distingue das demais formas camponesas de produo no Brasil
pelo seu carter coletivo no uso da terra para a produo animal. A
instncia do comunal consubstanciada nesse sistema em forma de
criadouro comum, espao no qual os animais so criados solta
(Chang, 1988: 13-14)
7
.
Este trecho j indica a complexidade da anlise da autora, bem como
a diversidade de caractersticas que mobiliza para construir a denio de
sistema faxinal. Um primeiro aspecto signicativo o carter histrico do
sistema: ele se constitui a partir de um contexto especco de relao entre a
economia local e a comercializao da erva-mate que, no nal do sculo XIX
e incio do XX, se torna o principal produto de exportao do Paran, chegando
a ser o terceiro do pas. E, aqui, importante lembrar a armao de Magnus
Pereira (1996) sobre a relevncia da burguesia do mate no estabelecimento de
uma indstria em moldes capitalistas no Paran, embora a sua produo fosse
realizada por populaes rurais localizadas em reas de ervais nativos:
O comrcio do mate entre o Paran e a regio platina, desde a sua
legalizao em 1722, esteve nas mos de um pequeno grupo de
comerciantes que controlava esse mercado. J a produo estava
a cargo de uma innidade de produtores artesanais autnomos.
7
interessante observar que, em nota ao longo deste trecho, Chang reconhece a referncia local
a faxinal como um tipo de vegetao, bem como o uso do termo para se referir exclusivamente
ao criadouro comum, alm deste uso em que a referncia a todo um sistema produtivo, que
se estende alm dos faxinais ambientalmente denidos.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
66
Em princpio, qualquer pessoa adulta estava habilitada a produzir
mate. As tcnicas artesanais de beneciamento eram de domnio
pblico e no exigiam instrumentos ou edicaes dispendiosos.
Os arbustos do mate eram nativos e disseminados nas matas que
cobriam boa parte da regio. Portanto, em relao erva-mate ou s
populaes que dela faziam uso, no havia nada que prenunciasse o
ulterior desenvolvimento de tcnicas industriais de beneciamento.
A produo do mate no exigia necessariamente nenhuma
concentrao de capital (Pereira, 1996: 42).
Chang aponta, portanto, para um sistema que, se em uma ponta desenvolve
um processo de industrializao responsvel pela implantao de processos
produtivos em moldes capitalistas no Paran, bem como redene grupos de
poder estaduais e altera a congurao de sua regio leste principalmente
Curitiba , na outra ponta se baseia no trabalho dos produtores artesanais que,
a m de conservar os ervais, lidar com um ciclo produtivo de no mnimo dois
anos, aproveitar com outras atividades as reas onde se encontram, e mesmo
facilitar o corte do mate, instauram um modelo de uso comum da terra. Em
outras palavras, em que ao desenvolvimento capitalista esto relacionadas
formas de trabalho e territorialidades no capitalistas.
O uso comum, contudo, se d atravs do modelo de compscuo, e no se
estende a todas as possibilidades produtivas relacionadas rea abrangida pelo
criadouro coletivo aberto ou fechado
8
. Com efeito, se a criao de animais
solta se d com base no uso comum, as atividades extrativas so realizadas
pelas famlias que reconhecidamente detm a propriedade ou posse de certas
parcelas do territrio denido como compscuo. Conjuga-se, portanto, o uso
familiar e comum de certas regies.
Acrescente-se a isto um segundo aspecto apontado pela autora: a
separao entre reas de criao/extrativismo e de lavoura. Esta pode se
dar tanto pelo sistema de cercas descrito por Carvalho quanto por acidentes
naturais, ou ainda a distncia estabelecida entre as terras destinadas a cada
uma destas atividades. O que indica uma organizao territorial em que h
descontinuidade entre as parcelas controladas por um nico grupo domstico.
Assim, se as moradias so construdas nos faxinais, elas se encontram muitas
vezes distantes alguns quilmetros ou separadas por rios ou outras barreiras
naturais das terras de lavoura da famlia. Tal fato dene, ainda, a importncia
8
Os dois modelos se relacionam com a disponibilidade de terras na regio: enquanto o criador
aberto em geral ou no apresenta cercas quando h outras formas de separao dos animais
das terras de cultura ou no as apresenta em toda sua extenso (no havendo divisas em
algumas extremidades), o criador fechado todo ele cercado, sendo a responsabilidade na
manuteno das cercas distribudas entre seus participantes.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
67
dos paiis, que no s permitem o armazenamento da produo alimentar,
mas tambm so utilizados como moradia temporria, por parte do grupo
domstico, durante alguns perodos do ciclo agrcola.
O sistema faxinal tambm se caracteriza pela conjugao da produo para
o autoconsumo e para o mercado. Quase todos seus produtos inclusive a erva-
mate e os produtos agrcolas so tanto comercializados quando consumidos
localmente. Aqui, importante lembrar a denio de Afrnio Garcia Jr. de
lavoura de subsistncia, ao abordar regies vinculadas plantation nordestina:
Usamos aqui a expresso lavoura de subsistncia num sentido bem
particular (...): trata-se de lavouras (...) que se destinam tanto
ao autoconsumo quanto venda eventual. Tm, por conseguinte,
a marca da alternatividade: ou uso comercial, ou uso domstico.
Identic-las a cultivos no mercantis, economia natural cair
no erro... (1989: 87-88).
No caso dos faxinais, importante ressaltar que esta perspectiva da
alternatividade, por sua vez, no se aplica apenas lavoura, mas tambm
ao extrativismo e criao animal. E no adequado, em tal contexto,
dar destaque especial s atividades agrcolas (como ocorre nas abordagens
clssicas sobre o campesinato); ao contrrio, o trip produtivo que envolve
agricultura, extrativismo e criao pode ter como nfase mais as duas ltimas
atividades que a primeira.
Mais um aspecto relevante do sistema se refere diversidade daqueles
que fazem parte da formao do compscuo. Como apontamos anteriormente,
estes podem ser tanto proprietrios ociais de suas parcelas quanto terem seus
direitos a elas denidos por posse no documentada. Alm disso, Chang ressalta
que o criadouro englobava terras de grupos distintos: a populao tradicional
da regio das matas mistas (os caboclos), imigrantes europeus vindos para
esta regio entre meados do sculo XIX e as primeiras dcadas do sculo XX,
grandes proprietrios rurais (os fazendeiros), agregados destas fazendas que
no tinham controle direto sobre o territrio. Assim, movimentos de poltica
externa de povoamento das reas do interior do Paran e a necessidade de
readequao de grandes proprietrios regionais aps a retrao da atividade
do tropeirismo levaram a que os novos habitantes se adequassem ao contexto
social e ambiental no qual se inseriam, bem como que os grandes proprietrios
respondessem de novas maneiras a um contexto econmico diferenciado. No
que se refere especicamente aos imigrantes europeus, a autora ressalta os
conitos existentes entre a forma de produo agrcola que tentam implantar
e a prtica de criao a solta dos moradores regionais e como o compscuo
se torna uma soluo interessante para conciliar os conitos surgidos entre
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
68
estes dois grupos com distintas formas de produo camponesa. Novamente,
portanto, pode-se inferir a inadequao de um modelo dicotmico que
tenha por base noes como tradicional x moderno, ou antagonismos como
populao tradicional x expanso do capitalismo para pensar as dinmicas e
a historicidade do sistema faxinal.
Apesar disto, contudo, algumas das pressuposies de Chang impedem com
que ela reconhea e desenvolva tal complexidade ao se referir ao presente.
A historicidade reconhecida no processo de constituio e consolidao
do sistema negada quando, a partir do momento em que este atinge
congurao semelhante do modelo desenvolvido, qualquer mudana passa
a ser interpretada como desagregao (transformao se apresenta como
sinnimo de desestruturao cf. 1988: 77). Desagregao esta inevitvel,
pois a autora, j no incio do texto, arma que a racionalidade da produo
capitalista (que pensada como dada e de expanso bvia) deniria a
propriedade e uso privado dos meios de produo como suposio bsica. E,
se o uso comum que determina a inadequao do sistema expanso do
capitalismo, o criadouro comum, que apenas uma de suas caractersticas,
passa a ser o aspecto fundamental e, portanto, restries ao criadouro
comum se tornam sinnimo de m do sistema. Acrescente-se que a nfase
excessiva nos ciclos econmicos, a partir da crise da economia do mate,
refora ainda mais o argumento anterior, na medida em que uma das bases
de constituio e manuteno do sistema vista como perdendo fora para o
ciclo madeireiro este com tendncia de destruio das matas mistas, e no
de sua conservao. So, portanto, quatro os elementos identicados como
responsveis por esta desintegrao (apresentada, em certa medida, como
inevitvel): intensicao e tecnicao da produo pecuria; valorizao da
terra; reduo das matas nativas (principalmente pela ao de madeireiras);
polticas desenvolvimentistas estatais. Assim, nas palavras de Chang:
Finalmente, cremos que podemos sugerir que, se mantido esse ritmo
de transformao analisado e desenvolvido nesse trabalho, cremos
que dentro de 10 ou 12 anos, o sistema faxinal no mais far parte
do setor produtivo rural do Paran, e sim ser lembrado, talvez, como
parte da histria da agricultura desse Estado (1988: 109).
Entretanto, no desta maneira que a autora termina seu texto, mas
com o que chama de Constataes Ps-Pesquisa, em que relata o impacto
das atividades do IAPAR na organizao dos moradores de faxinais, que
passam a se mobilizar no sentido de constituir um movimento de defesa
dos criadouros tambm como resposta a determinadas polticas para o
associativismo de pequenos produtores implementadas pelo governo estadual.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
69
Embora esta possibilidade se abra, a autora, ao analisar as complexidades
envolvidas na manuteno do criadouro comum, no coloca em xeque sua
perspectiva anterior de limitao do sistema faxinal a este aspecto, nem da
aparente inevitabilidade da desagregao do sistema atravs da reduo ou
desaparecimento do criadouro. Por m, refora a importncia da manuteno
do mesmo no devido estrutura do sistema faxinal, mas experincia do
coletivismo que instaura, e que aparece como alternativa poltica que pode
ser extrapolada para outras esferas de produo e organizao (1988: 112).
H, ainda, duas outras referncias bibliogrcas da produo de autores
vinculados a rgos pblicos do Paran que tm em Carvalho e Chang
referncias privilegiadas: Gubert Filho (1987) e Gevaerd Filho (1986). Apesar da
publicao anterior do texto de Geaverd, este cita tanto Gubert como Carvalho
e Chang, em verses no publicadas de seus trabalhos. Aqui, as formaes
especcas dos autores marcam sua perspectiva da temtica. Assim, Gubert,
engenheiro agrnomo, preocupa-se em denir ambientalmente as reas de
faxinais, marcadas pela predominncia de matas de araucria degradadas pelo
pastoreio extensivo, realizado em criadores comuns (1987: 32). Concentrando
suas reexes no contexto de Irati, considera apenas os criadouros cercados,
e destaca a fertilidade natural do solo no perodo de ocupao regional como
um dos elementos denidores da separao entre reas de lavoura e reas
de criao-extrativismo (sendo estas signicativamente menos frteis).
Seu texto tambm traz uma questo relevante: como o deslocamento de
colonos gachos
9
para a regio provocou conitos e uma desarticulao dos
criadouros comuns, pois outra concepo de produo e a nfase na agricultura
colocaram em xeque os modos tradicionais de organizao social e produtiva
dos faxinalenses
10
. Conitos que tambm estimularam os fazendeiros locais a
fecharem seus pastos. O autor, portanto, destaca elementos muito concretos
de inviabilizao do compscuo, mas termina por reforar a relao entre este
e a denio de faxinal, bem como a perspectiva de sua desagregao.
J no caso de Geaverd (1986), com formao em Direito, a grande questo
a presena da gura do compscuo na legislao brasileira, e a reexo
sobre como lidar com pedidos de usucapio especial por parte de trabalhadores
rurais, principalmente no que se refere a conitos relativos a cercamento de
pastos comunais. Aqui, a sinonmia entre faxinais e compscuo dada, bem
como a armao de sua extino prxima apesar de ser este um modelo
poltico pensado como interessante , como se percebe no seguinte trecho:
9
Neste caso, assim como em Pinho, os gachos so provenientes do oeste do Paran, sendo
descendentes de famlias migrantes do Rio Grande do Sul.
10
Aqui, cabe ressaltar que o conito se d entre dois grupos camponeses tradicionais, mas com
distintas dinmicas produtivas um deles com foco na agricultura, enquanto outro na criao
animal a solta no sistema de compscuo.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
70
bvio que os faxinais ou compscuos encontram-se em fase de
extino, devido, entre outras coisas, a brutalidade inerente s
formas odiosas e distorcidas de concentrao e explorao de terra
vigentes em nosso pas. Essa constatao, todavia, no ilide nem
tem o condo de desaconselhar uma anlise cuidadosa e crtica do
fenmeno, mormente num momento em que a ateno nacional
volta-se para a questo da reforma agrria e da proteo ao meio
ambiente. O desprezo com que o historiador e o jurista ptrio
contemplaram o instituto no pode ser imitado por aqueles que
sentem-se compromissados com a pesquisa de formas alternativas,
comunais e justas de explorao do solo (1986: 46).
Os quatro autores aqui considerados permitem perceber que se constri,
a partir de meados da dcada de 1980, no interior dos rgos estatais de
reexo sobre a terra e a questo ambiental no Paran, o faxinal como uma
temtica relevante de pesquisa, reexo e ao poltica. E, se podemos ver
principalmente nos textos de Carvalho (1984) e Gevaerd Filho (1986) estmulos
importantes para a percepo do faxinal (pensado como criadouro comum)
como proposta poltica de organizao de grupos rurais (embora tambm
aqui haja a previso de sua dissoluo inevitvel), o trabalho de Chang ser
a grande referncia para as aes estatais posteriores sobre esta temtica.
No entanto, no por sua descrio renada e historicizada do sistema, mas
principalmente a partir da tese de sua desagregao, tendo como referncia o
criador comum. Com efeito, em todos os textos do perodo, este passa a ser
sinnimo de faxinal, invisibilizando os outros aspectos do sistema, retirando
sua dinamicidade e desconsiderando as estratgias e a agncia dos sujeitos que
vivem na regio das matas mistas e estruturam suas relaes com o territrio e
suas formas de produo de maneiras especcas.
a partir do debate provocado pela produo acima esboada que, em
1997, o ento governador do estado do Paran, Jaime Lerner, lana o Decreto
Estadual 4887/97, criando as reas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR),
assim denidas:
Art. 1. Ficam criadas no Estado do Paran, as reas Especiais
de Uso Regulamentado ARESUR, abrangendo pores territoriais
do Estado caracterizados pela existncia do modo de produo
denominado Sistema Faxinal, com os objetivos de criar condies
para a melhoria da qualidade de vida das comunidades residentes e
a manuteno do seu patrimnio cultural, conciliando as atividades
agrosilvopastoris com a conservao ambiental, incluindo a proteo
da Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paran).
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
71
Alguns aspectos do decreto j se explicitam no caput do primeiro artigo e
nos pargrafos que o seguem. Em primeiro lugar, embora se faa referncia
qualidade de vida e patrimnio cultural das populaes residentes nas ARESUR,
a nfase se d na denio a partir da produo e na questo ambiental. Assim,
as ARESUR so assemelhadas s APA (rea de Proteo Ambiental), e um ato
administrativo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hdricos
que as estabelece. Alm disso, a denio do sistema de Chang a referncia
para o registro de um faxinal especco como ARESUR no Cadastro Estadual de
Unidades de Conservao (CEUC) em outras palavras, a adequao a todo o
modelo, com destaque dado ao criadouro comum. Acrescente-se a necessidade
de avaliao anual dos faxinais registrados, que, embora no explicitamente,
parece trazer a ideia da desagregao e dos riscos provocados pelas mudanas
a um sistema pensado como tradicional
11
.
Tal perspectiva, portanto, coloca duas questes fundamentais para a
legislao de 1997: 1) a nfase quase exclusiva nos aspectos de preservao
ambiental dos faxinais, provocando uma restrio signicativa na compreenso
de um sistema que, alm de se caracterizar como modo de produo e de
relaes com o meio ambiente, tambm aponta para formas particulares de
ser, viver e pensar o mundo (envolvendo aspectos sociais, culturais, religiosos,
polticos e identitrios especcos); 2) o reforo de um modelo produtivo
muito bem denido e caracterizado pela produo animal coletiva, policultura
alimentar de subsistncia e extrativismo orestal de baixo impacto (cf. Decreto
3446/97 Art. 1. - 1.), que tende a engessar os grupos quanto a dinmicas
especcas do processo histrico que possam provocar mudanas em algum
desses aspectos. Acrescente-se, ainda, que se a previso de Chang do m dos
faxinais no se concretizou, ela continua aparecendo como discurso ocial
de agentes estatais o que pode ser percebido no levantamento realizado por
Cludio Marques (2004) para o Instituto Ambiental do Paran.
contra o horizonte de inevitvel desagregao dos faxinais que, j
neste sculo, se desenvolve uma nova produo sobre o tema, relacionada
diretamente organizao da Articulao Puxiro dos Povos Faxinalenses
(inicialmente Articulao Puxiro dos Povos dos Faxinais), bem como ao
Projeto Nova Cartograa Social, coordenado pelo antroplogo Alfredo Wagner
Almeida. Do ponto de vista poltico, a atuao da Articulao Puxiro tem
desdobramentos signicativos no contexto de luta por direitos especcos
no Paran: um dos pilares para a formao da Rede Puxiro de Povos e
Comunidades Tradicionais que rene entre seus membros indgenas de vrias
11
Uma das diculdades trazidas pelo uso da noo de tradio no caso de polticas pblicas
a tendncia a negar historicidade ao tradicional. Ou seja, qualquer mudana decorrente do
processo histrico, nesses casos, vista como ameaa ao sistema. Para a reexo sobre o
conceito, ver Porto (1998).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
72
etnias, quilombolas, benzedeiras, cipozeiros, ilhus, pescadores artesanais,
caiaras, e religiosos de matriz africana, alm dos faxinalenses , bem como
para a formao do Conselho Estadual de Povos Indgenas e Comunidades
Tradicionais. Alm disso, a organizao poltica dos faxinalenses resultou na Lei
Estadual 15673/07, que reconhece os faxinais e sua territorialidade especca,
apresentando suas caractersticas prprias no como fechadas (mas usando a
expresso tais como), e armando a identidade faxinalense como critrio para
denio dos povos tradicionais que integram essa territorialidade especca
(embora a questo do uso comum tambm se coloque). Acrescente-se que o
reconhecimento da identidade por autodenio vincula-se esfera do rgo
estadual de assuntos fundirios, retirando a questo faxinalense do mbito
apenas ambiental. A lei estipula, ainda, que as prticas e acordos estabelecidos
pelos grupos faxinalenses devem ser preservados como patrimnio cultural
imaterial do estado.
Alm dos impactos polticos, a Articulao Puxiro tem inuncia
signicativa nas reexes acadmicas sobre o tema. Roberto Martins de
Souza (2010, in Almeida, Souza, 2009), um dos principais expoentes desta
reexo, parte do questionamento das concepes vigentes de faxinal por seu
carter evolucionista, anulador da agncia dos sujeitos envolvidos, baseado
exclusivamente nas questes produtivas com a consequente desconsiderao
dos aspectos culturais, polticos e identitrios. Escrevendo no contexto
acadmico, mas a partir de uma relao direta com a Articulao Puxiro, o
autor aponta a necessidade de uma abordagem que, ao considerar tais aspectos,
possibilite ao movimento se fortalecer nos processos de luta pela garantia no
apenas do acesso ao territrio, mas tambm do direito manuteno de sua
diversidade sociocultural e de um sistema de organizao produtiva baseado no
uso comum. A nfase no uso comum, por sua vez, dene estratgias polticas
prprias: no a proposta de regularizao fundiria de lotes familiares, mas
a denio de reas Especiais de Uso Regulamentado (ARESUR), tendo por
base o Decreto 3446/97 do Estado do Paran, que faz referncia especca ao
sistema faxinal.
O acesso a direitos a partir da denio de determinadas reas como
ARESUR e dos grupos, consequentemente, como faxinalenses coloca,
ento, duas questes cruciais para o movimento e para intelectuais a ele
vinculados: em primeiro lugar, a necessidade de redenir faxinal; depois, a
de mapear a presena de faxinais no Paran tendo como parmetro a nova
denio. A m de enfrentar a primeira delas, Souza (2010) estabelece uma
contraposio entre uma perspectiva cientca de faxinais e outra dos
prprios faxinalenses. Questiona fortemente a primeira, ressalta a diculdade
dos estudos sobre campesinato em lidar com a diversidade dos povos do campo
no Brasil, bem como a ausncia de dados quantitativos sobre os vrios grupos
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
73
que compem a populao rural brasileira. Tendo como objetivo sustentar a
fora poltica de seu discurso, arma a relao direta do que dene como
cientco com uma declarao do desenvolvimento como valor inquestionvel.
Questiona, ento, o que identica como um sistema interpretativo sobre a
histria do Paran que apresenta como eixo os grandes ciclos econmicos
excluindo todas as demais formas de ocupao territorial, invisibilizando os
vrios agentes que compem o rural paranaense ou os visibilizando apenas
no momento em que no se encaixam nos novos ciclos e correm o risco da
desagregao e desaparecimento. E, a partir de tal debate, estabelece sua
prpria denio de faxinal:
Deste modo, quando fao uso da expresso faxinal ou terras
de faxinais (...) me rero ao seguinte signicado: terras
tradicionalmente ocupadas que designam situaes onde a produo
familiar, de acordo com suas possibilidades, variavelmente combinam
apropriao privada e comum dos recursos naturais, tendo o controle
e uso dos recursos considerados comuns existncia fsica e social
especialmente pastagens naturais, cursos dgua e recursos orestais ,
e exercido de maneira livre e aberta de acordo com normas especcas
consensualmente denidas por grupos de pequenos criadores e
agricultores que, circunstancialmente, denominam suas reas de
uso comum por expresses locais, a saber: criador comum aberto,
criador comum cercado, criador criao alta e mangueiro,
presentes no Sul do Brasil (Souza, 2010: 15-16).
a partir desta denio que o autor contribuir para a realizao de
novo mapeamento, em contraposio a levantamentos anteriores realizados
pelo Estado, como o de Marques (2004). Assim, enquanto Marques falava em
no mnimo 44 faxinais em 2004, em sua tese de doutorado de 2010, Souza
arma o mapeamento de 227 faxinais, em 32 municpios do Paran
12
45 deles
se situando em apenas 3 municpios da microrregio de Guarapuava: Pinho,
Incio Martins e Turvo (cf. Souza in Almeida e Souza, 2009: 63).
A nova denio proposta por Souza traz questes relevantes para a reexo.
Em primeiro lugar, exibiliza a noo de sistema faxinal presente no Decreto
3446/97 que, ao tomar o modelo ideal de Chang como referncia, exige a
presena tanto da criao animal solta em criadouros coletivos, quanto da
policultura de subsistncia e do extrativismo orestal de baixo impacto para
o estabelecimento de uma determinada rea como adequada aplicao da lei.
12
O autor arma, ainda, que estes so nmeros parciais, pois houve indcios da presena de
faxinais em outros municpios que a equipe de pesquisa no conseguiu visitar.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
74
Na concepo de Souza, os limites so menos restritivos, havendo referncia
a uma produo familiar que tem por base tanto a apropriao privada quanto
comum dos recursos naturais, de acordo com normas denidas pela tradio.
Vemos, portanto, um embate poltico por denies da lei semelhante quele
ocorrido com relao ao Decreto Federal 4887/03, que normatiza o acesso a
direitos de remanescentes de comunidades de quilombos.
Por outro lado, contudo, ao nal Souza restringe sua perspectiva de faxinal
existncia de alguma forma de criadouro solta e com carter, mesmo que
relativo, de uso comum. Assim, embora arme a importncia de aspectos
identitrios e socioculturais para uma perspectiva mais ampla dos povos dos
faxinais, termina refm de limitaes colocadas pelos trabalhos anteriores
pois apenas um elemento do sistema produtivo, o criadouro, tomado
como sinnimo das possibilidades de construo da identidade faxinalense.
Acrescente-se, ainda, que as categorias selecionadas, e que orientam o processo
de mapeamento (na medida em que os faxinais so registrados a partir de
sua classicao em uma das formas de criadouro citadas), trazem consigo
uma perspectiva que remete ao evolucionismo e desagregao do sistema
questionados pelo autor. Em outras palavras, o criador comum aberto
tomado como o modelo original, que sofre modicaes a partir de conitos
e presses com seus antagonistas, e a partir de ento se transforma nas
demais conguraes de criador. Em outras palavras, mesmo no sendo cada
um dos tipos visto como uma etapa pois possvel passar diretamente do
tipo 1 ao tipo 3 ou 4 existe um modelo original, o criador comum aberto.
H, ainda, outro aspecto relevante da reexo de Souza que necessrio
considerar: uma perspectiva dicotmica que ope os faxinalenses a seus
antagonistas, e que consequentemente provoca uma simplicao de ambos
os grupos, alm de uma valorao tambm simplicada de cada um deles.
Embora se possa relacionar tal posicionamento ao vnculo muito direto com
o movimento social faxinalense, no h como no apontar o risco de reduo
da multiplicidade de contextos e de conitos a um modelo opositivo. O que,
a princpio, poderia ser uma importante estratgia de armao da identidade
coletiva, pode trazer problemas em sua constituio ao operar com um
modelo idealizado que desloca os conitos para fora, e que no reconhece as
diculdades e tenses envolvidas em processos identitrios e nas negociaes
internas aos grupos.
Desta forma, toda a complexidade do sistema faxinal apresentada no
trabalho de Chang passa a ser desconsiderada tanto por ela quanto pelos autores
posteriores. Alm disso, a diversidade de vises de mundo, organizao social,
formas de ser e de viver acaba subsumida na noo restrita de criador comum.
A potencialidade de um modelo ideal pensado como uma matriz a partir da qual
as aes dos sujeitos frente a novos contextos, sempre complexos, produzem
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
75
novas conguraes, em que alguns elementos so mantidos, enquanto outros
transformados ou descartados, no se realiza. E tambm no se desenvolve
uma reexo mais sosticada sobre a construo de identidades e seu vnculo
com o jogo poltico de luta por direitos. A objetividade do criador leva a crer
que seu m implica no m de uma forma mais ampla de pensar o mundo e ser
no mundo.
A pesquisa entre grupos rurais tradicionais de Pinho/PR, no entanto,
aponta em sentido distinto daquele indicado pela simplicao resultante do
estabelecimento de uma sinonmia entre criadouro comum e faxinal. Aqui,
gostaria apenas de destacar alguns aspectos, como ilustrao das possibilidades
de reexo que os faxinais colocam no apenas para a antropologia, mas
tambm para os debates em torno das relaes entre populaes tradicionais e
meio-ambiente. Dentre tais aspectos, ressalto: 1) a estruturao de um sistema
produtivo que conjuga a criao a solta, o extrativismo e a policultura de
subsistncia em reas ambientalmente diversas e muitas vezes descontnuas
permite um aproveitamento das possibilidades produtivas do meio em um
processo de manejo bem sucedido; 2) tal modelo assegura autonomia dos
grupos sociais, pois estes garantem boa parte das matrias-primas necessrias
vida e reproduo fsica e social do grupo e de suas tradies tendo por
base seu prprio ambiente; 3) a agncia dos sujeitos em processos de conitos
e presses externas e internas no sentido de modicao do sistema pode
levar a opes que limitem ou acabem com o criadouro coletivo, mas isto no
implica na desagregao de uma forma de vida, concepo de mundo e relao
com o ambiente; 4) os contextos de faxinais, em suas vrias concepes,
apontam para a complexidade das relaes entre capitalismo e comunidades
tradicionais, que no devem ser pensadas apenas como antagonismo simples;
5) a tradicionalidade dos grupos rurais no deve ser tomada como sua no
historicidade.
Para concluir, armo a importncia de um estudo mais aprofundado
de grupos rurais que se autodenominam faxinais sua religiosidade,
sociabilidade, relao com o territrio e o meio-ambiente, estratgias polticas
de luta pela terra, bases da construo de sua identidade. Reconhecendo que
a autodenominao de um grupo como faxinal, ou de seus membros como
faxinalenses, abrange questes mais amplas que apenas um uso comum do
territrio para criao animal ou um sistema produtivo. Seu Dominguinhos, 81
anos, morador do Faxinal dos Taquaras, fala de um jeito antiguinho de ser,
que remete a uma religiosidade prpria a leitura de sinais do ambiente e dos
animais, o domnio de tcnicas de cura, a realizao de rituais coletivos e de
deveres religiosos ; a uma forma particular de relao com a vizinhana, em
que o trabalho e o apoio mtuo em caso de necessidade so como obrigaes;
valorizao da famlia; ao domnio de tcnicas tradicionais de cultivo (tanto
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
76
nos aspectos tcnicos quanto religiosos); importncia do trabalho na roa
e do produto deste trabalho, bem como da sade que vem do mato e dos
alimentos tradicionalmente cultivados. Esta perspectiva mais abrangente dos
grupos tradicionais faxinalenses amplia tanto as possibilidades econmicas
quanto de acesso a direitos polticos de tais grupos, que falam de um jeito de
ser e viver especco.
Referncias bibliogrcas
ALMEIDA, Alfredo W. B., SOUZA, Roberto M. (org.). 2009. Terras de Faxinais, Manaus:
Edies da Universidade Estadual do Amazonas.
BALHANA, Altiva, MACHADO, Brasil, WESTPHALEN, Ceclia. 1969. Histria do Paran,
vol. I, Curitiba: GRAFIPAR.
CARDOSO, Jayme A., WESTPHALEN, Ceclia. 1986. Atlas Histrico do Paran, Curitiba:
Livraria do Chain Editora.
CARVALHO, Horcio M. 1984. Da Aventura Esperana: A Experincia Auto-
Gestionria no Uso Comum da Terra, mimeo.
CHANG, Man Yu. 1988. Sistema Faxinal: Uma Forma de Organizao Camponesa em
Desagregao no Centro-Sul do Paran, Londrina: IAPAR.
COSTA, Samuel G. 1995. A Erva-Mate, Curitiba: Coleo Farol do Saber.
Decreto 6040/2007 da Presidncia da Repblica do Brasil Institui a Poltica
Nacional de Desenvolvimento Sustentvel dos Povos e Comunidades Tradicionais,
Disponvel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/
decreto/d6040.htm, acessado em 14/05/2012.
GARCIA JR. Afrnio. 1990. O Sul: Caminho do Roado, Braslia/So Paulo: Editora
UnB/Marco Zero.
GEVAERD FILHO, Jair L. 1986. Perl Histrico-Jurdico dos Faxinais ou Compscuos in
Revista de Direito Agrrio e Meio-Ambiente, vol. 1, Curitiba: Instituto de Terras,
Cartograa e Florestas.
GODI, Emlia P. et alli (org.). 2009. Diversidade do Campesinato: Expresses e
Categorias, vol. 2, So Paulo/Braslia: UNESP/NEAD.
GUBERT FILHO, Francisco A. 1987. O Faxinal Estudo Preliminar in Revista de Direito
Agrrio e Meio-Ambiente, vol. 2, Curitiba: Instituto de Terras, Cartograa e
Florestas.
HEREDIA, Beatriz Maria A. 1979. A Morada da Vida. Trabalho Familiar de Pequenos
Produtores do Nordeste do Brasil, Rio de Janeiro: Paz e Terra.
LINHARES, Temstocles. 1969. Histria Econmica do Mate, Rio de Janeiro: Jos
Olympio.
MARQUES, Cludio L. G. 2004. Levantamento Preliminar sobre o Sistema Faxinal no
Estado do Paran, Relatrio de Consultoria Tcnica do IAP/PR.
Parte I | Meio ambiente e organizao social no Centro-Sul do Paran
77
PEREIRA, Magnus R. M. 1996. Semeando Iras Rumo ao Progresso: Ordenamento
Jurdico e Econmico da Sociedade Paranaense, Curitiba: UFPR.
PORTO, Liliana, KAISS, Carolina, COFR, Ingeborg. 2009. Relatrio Antropolgico:
Comunidade Quilombola de gua Morna Curiva/PR, Documento resultante
do Convnio UFPR/INCRA com base no projeto Direito Terra e Comunidades
Quilombolas no Paran, Curitiba.
PORTO, Liliana. 1998. Reapropriao da Tradio: Um Estudo sobre a Festa de Nossa
Senhora do Rosrio de Chapada do Norte/MG, Verso modicada de dissertao
de mestrado premiada em 2
lugar no Concurso Slvio Romero 1998 / FUNARTE.
Povos dos Faxinais, Paran. 2007. Projeto Nova Cartograa Social dos Povos e
Comunidades Tradicionais do Brasil, Fascculo 1.
SOUZA, Roberto M. 2010. Na Luta pela Terra, Nascemos Faxinalenses: Uma
Reinterpretao do Campo Intelectual de Debates sobre os Faxinais, Tese de
doutorado apresentada ao PPGS/UFPR.
TCHAYANOV, A. V. 1976. Teoria dos Sistemas Econmicos No-Capitalistas in Anlise
Social, ano XII, n. 46, Lisboa: Revista do Instituto de Cincias Sociais da
Universidade de Lisboa.
WACHOWICZ, Ruy C. 1987. Paran, Sudoeste: Ocupao e Colonizao, Curitiba:
Vicentina.
WELCH. Clifford A. et alli (org.). 2009. Camponeses Brasileiros. Leituras e
Interpretaes Clssicas, So Paulo/Braslia: UNESP/NEAD.
WOORTMANN, Klass. 1990. Com Parente no se Neguceia. O Campesinato como Ordem
Moral in Anurio Antropolgico 87, Braslia/Rio de Janeiro: Editora UnB/Tempo
Brasileiro.
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!!
!
!
!!
!
!
!
! !
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
rea
Indgena
Marrecas
rea
Indgena
Mangueirinha
rea
Indgena
Palmas
Campina
dos
Morenos
Cavernoso
1
Invernada
Paiol
de
Telha
Castorina
Maria
da
Conceio
Adelaide
M.
Trindade
Batista
Vila
Tom
Despraiado
Turvo
Incio
M
Cruz
Machado
General
Carneiro
Pal mas
Cl evelndia
Coronel
Domingos
Soares
Pinho
Mangueirinha
Reserva do Iguau
Foz
do Jordo
Candi
Guarapuava
Cantagalo
Goioxim
Campi na
do Simo
Bituruna
52W
52W
53W
25S
26S
Terras e Territrios Tradicionais, reas Indgenas e Assentamentos de Reforma
Convnio: MinC ITCG
0 30 60 15
Km
Sistema de Projeo UTM
Datum Horizontal: SAD 69
Meridiano Central: 51 W
FONTES:
Areas LsLraLegicas: IA - 2004
Resoluo ConjunLa SLHAJIA - 005J2009
0ivisas Hunicipais: IJCC - 2012
Conunidades hegras Jradicionais e RenanescenLes
de 0uilonbos: IJCC e Crupo Clovis Houra - 2009
resena Indgena: Assessoria para AssunLos
IndgenasJSLAL - 2009
SecreLaria Lspecial de Relaoes con a Conunidade - 2011
Iaxinais: Rede uxiro de ovos e Conunidades
Jradicionais - 2010
AssenLanenLos: IhCRA - 2008
AcanpanenLos: IJCC - 2008
0bs.: Areas rioriLarias do arana" deinidas no 0ecreLo
LsLadual n 3320 de 12 de julho de 2004, SISLLC - Reserva
Legal.
www.iLcg.pr.gov.br
2013
INFORMAES CARTOGRFICAS
MAPA DE SITUAO
!
!
!
0ivisas Hunicipais
Conunidades 0uilonbolas CerLiicadas
Iaxinais
Areas Indgenas 0enarcadas
Areas da Reorna Agraria
AcanpanenLos
Areas LsLraLegicas para Conservao
Areas LsLraLegicas para ResLaurao
CONVENES CARTOGRFICAS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
rea Indgena
Rio
D'Areia
Prudentpolis
Irati
artins
51W
51W
25S
26S
Instituto de Terras,
Cartografia e Geocincias
Agrria em Municpios da Regio Centro Sul do Estado do Paran
Parte II
A questo quilombola Palmas
4. Memrias de dependncia e liberdade em
comunidades quilombolas
Cassius Marcelus Cruz
5. (Re)conguraes identitrias e direitos sociais:
o caso da comunidade remanescente de quilombo
Adelaide Maria Trindade Batista em Palmas/PR
Snia Maria dos Santos Marques
83
Captulo 4
Memrias de dependncia e liberdade
em comunidades quilombolas
Cassius Marcelus Cruz
1
Eu e o meu lho estvamos voltando de uma das primeiras
atividades dos quilombolas e vnhamos conversando com o
seu A., quando ele disse: o meu pai veio l de Palmas, eu
tenho umas tias que caram por l. A tia Maria Izabel e a
Tia Maria Matheus, vocs conhecem? Eu disse Maria Izabel
era irm de minha v. Ela sempre contava dos irmos dela
que haviam sido dados para o dono da fazenda. O seu
A. cou emocionado com os olhos marejados (Dona Maria
Arlete, Comunidade Remanescente de Quilombo Adelaide
Maria Trindade Ferreira).
F
oi da maneira acima exposta que Dona Maria Arlete da comunidade
Adelaide Maria Trindade Batista (municpio de Palmas) descobriu que o Seu
Amazonas, liderana da comunidade de Santa Cruz (municpio de Ponta
Grossa) era seu parente. Relatos como esses, alm de indicarem a existncia
de redes de parentesco entre alguns quilombos, nos remetem possibilidade
delas partilharem experincias e lembranas que componham uma memria
coletiva quilombola.
Partindo de entrevistas que abordaram a experincia histrica de migrao,
tutelamento, trajetrias de trabalho e memrias sobre a escravido, esse artigo
1
Graduado em Histria pela UFRGS, com especializao em Histria e Cultura Africana e Afro-
brasileira, Educao e Aes Armativas pela Universidade Tuiuti do Paran e IPAD, mestre em
educao pelo PPGE/UFPR e doutorando em Cincias Sociais na UNICAMP. Foi componente do
Grupo de Trabalho Clvis Moura/PR e gestor de polticas de educao e diversidade na SEED/PR.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
84
procura expor em que medida a recordao
2
e o manejo de elementos comuns
entre o que falado (ou silenciado) nos relatos orais dessas comunidades esto
marcados pela dicotomia entre as relaes de dependncia e as estratgias de
liberdade.
Os contextos de produo dos relatos orais ocorreram em entrevistas
individuais e coletivas, sendo algumas delas recuperadas de pesquisas
anteriores ou arquivadas pelos prprios quilombolas.
Antes de adentrar nesses temas, entretanto, faz-se necessrio apresentar o
conjunto de comunidades abrangidas pela investigao e quais as motivaes
que delinearam a escolha dessas comunidades.
A rede de parentesco quilombola e o Caminho das Tropas
A escolha das localidades e quilombos para serem focos desse artigo, alm
de se adequar conformao regional denida durante a elaborao do Projeto
Memria dos Povos do Campo, decorreu tambm da observao do processo
de levantamento das comunidades quilombolas no Paran e de interpretaes
sobre o processo histrico de formao de algumas delas.
O delineamento do espao dessa investigao, que a princpio abrangeria
alguns dos quilombos situados na regio Sul, especicamente, as Comunidades
Adelaide Maria Trindade Batista, Castorina Maria Conceio e Tobias Ferreira
(municpio de Palmas), se estendeu a uma comunidade situada nos Campos
Gerais, devido a relatos de quilombolas de Palmas sobre existncia de laos
de parentesco com a Comunidade Remanescente de Quilombo Santa Cruz
(Ponta Grossa). Dessa forma, optou-se inicialmente por construir uma rede
3
de
indicao de parentesco para, a partir da, escolher aquelas que seriam foco
de investigao.
As primeiras indicaes de parentesco entre algumas das comunidades
aqui abordadas foram concedidas pela professora Clemilda Santiago Neto,
coordenadora de ao de campo do Grupo de Trabalho Clvis Moura GTCM,
durante o levantamento das comunidades quilombolas paranaenses
4
. Segundo
2
Recordar aqui utilizado em sua signicao etmolgica do latim Recordis: tornar a passar
pelo corao. Sob essa perspectiva recordar envolve, para alm de uma narrativa sobre o vivido,
um conjunto expressivo de sentimentos em relao ao narrado que deve ser considerado na
anlise do contedo da memria.
3
A utilizao do termo rede aqui no est vinculada especicamente anlise de parentesco, tal
como se destaca, na Antropologia Social, nas obras de Evans-Pritchard (1937) no contexto rural
e de Bott (1976) no contexto urbano. O termo aqui utilizado como ferramenta metodolgica
para identicar grupos que possam, mais estreitamente, rememorar trajetrias e processos
comuns entre grupos quilombolas.
4
O levantamento das Comunidades Quilombolas do Paran foi realizado durante o perodo
de 2005 a 2010 pelo Grupo de Trabalho Interdepartamental Clvis Moura - GTCM, a partir de
Parte II | A questo quilombola Palmas
85
ela, uma das estratgias
5
do levantamento foi localizar parentes de outras
localidades indicados pelos primeiros grupos contatados.
A leitura dos histricos e relatos que compem o relatrio 2005/2010
do GTCM permite identicar as seguintes indicaes de parentesco entre
comunidades quilombolas e comunidades negras tradicionais
6
que, em certa
medida, articulam-se com alguns dos quilombos da regio sul
7
:
1) Comunidade de Palmital dos Pretos (Campo Largo), onde as famlias
dos senhores Braslio e Librano Jos de Deus so oriundas da Comunidade
Remanescente de Quilombo do Sutil (Ponta Grossa) e a famlia Ferreira Pinto,
da Comunidade Remanescente de Quilombo Santa Cruz (Ponta Grossa) e as
demais famlias, das comunidades de Pugas e Bolo Grande (Palmeira);
2) Comunidade Negra Tradicional Sete Saltos (Campo Largo), tambm
formada por famlias oriundas das Comunidades Quilombolas de Santa Cruz e
Sutil (Ponta Grossa) e das comunidades Pugas e Bolo Grande (Palmeira) e
3) Comunidades Remanescentes de Quilombo Sutil e Santa Cruz
(Ponta Grossa), alm de relaes de parentesco entre si, possuem vnculos de
parentesco com as demais comunidades anteriormente citadas.
Acrescenta-se nessa rede o grupo de famlias negras situados na Vila
dos Papagaios Novos (Palmeira) e a Comunidade Remanescente de Quilombo
Paiol de Telha, ambas reconhecidas por um quilombola de Santa Cruz como
comunidades que possuem parentesco com a sua.
A partir desses dados possvel inferir, ainda preliminarmente, um processo
de intensicao da identicao de parentesco entre as comunidades negras
das regies sul em direo aos Campos Gerais, conforme possvel visualizar
no diagrama 1 - onde as comunidades da Regio Centro-Sul que compem a
rede so identicadas pelos quadrados vazados e as dos Campos Gerais pelos
quadrados cheios. Devido quantidade de comunidades envolvidas, optou-se por
demandas do Movimento Social Negro. O GTCM, presidido por Glauco Souza Lobo, alm de
promover a visibilidade dessas comunidades, contribuiu para sua insero na pauta das polticas
pblicas estaduais, bem como na alterao das relaes estabelecidas entre esses grupos e o
poder pblico. Ver PARAN (2008), Lewandowisk (2010).
5
Outra estratgia foi a coleta de informaes da existncia de comunidades negras a partir
de indicaes dos Ncleos Regionais de Educao e de educadores reunidos no Encontro de
Educadores Negros e Negras do Paran, realizado pelo Movimento Social Negro e pela Secretaria
de Estado da Educao (SEED) no ano de 2005. Ver PARAN (2008), Cruz (2012).
6
Denio atribuda pelo GTCM s comunidades de famlias negras que no se autodeclararam
quilombolas.
7
A seguinte listagem apresenta apenas aquelas comunidades onde vericam-se alguns indicativos
de parentesco retirados do Relatrio do Grupo de Trabalho Clvis Moura (2005/2010), que permitem
formar uma rede preliminar de parentesco que se estende de Sul (Palmas) ao Centro do Estado
(Guarapuava, Reserva do Iguau e Pinho). Nesse sentido esto excludas desse esboo tanto
aquelas comunidades da Regio Centro (Turvo e Candi) nas quais no foi possvel, no contexto
dessa pesquisa, vericar ligaes de parentesco, quanto aquelas redes existentes em municpios
de outras regies do Estado (ex. Castro, Serro Azul, Dr. Ulysses, Adrianpolis, Lapa, Contenda,
Guaraqueaba, etc.), ainda que se tenha conhecimento da existncia dessas ligaes.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
86
focar a pesquisa nas comunidades cujos nodos do diagrama concentram maiores
indicativos de laos de parentesco entre a Regio Sul e os Campos Gerais, ou
seja, nas comunidades de Santa Cruz e Adelaide Maria Trindade Batista
8
.
Diagrama 1: Rede preliminar de ligaes de parentesco entre comunidades
quilombolas das regies Centro-Sul Campos Gerais.
O desvendamento desses elos, entretanto, no pretende revestir, sob o
manto da homogeneidade, as diferenas existentes entre essas comunidades.
Dentre elas podemos destacar, por exemplo, os diferentes contextos de
composio das famlias de escravizados.
Enquanto no caso da Fazenda Santa Cruz, que deu origem comunidade
quilombola que recebeu seu nome, Hartung (2007) identica que j em meados
do sculo XIX existiam sete subgrupos familiares de escravos constitudos
por casamentos legitimados perante a autoridade civil e que estabeleciam
alianas entre si. Em Palmas, em contraposio, havia um predomnio de
casamentos ilegtimos, conforme verica-se no estudo de Weigert (2010). Por
meio das anlises dos assentos de batismo, onde 16% dos lhos de escravos
eram registrados por unies legtimas, 80% por relaes ilegtimas e 3% de
adultos africanos, a historiadora indica que a populao escrava em Palmas era
formada por solteiros
9
.
8
Salienta-se que em ambas, alm de serem revisitadas entrevistas realizadas durante o ano de
2007 com pessoas j falecidas das referidas comunidades, foram realizadas novas entrevistas
com pessoas que identicaram parentesco entre si durante o processo de reconhecimento
quilombola no Estado do Paran. Alm dessas entrevistas foram contatadas e visitadas pessoas
das comunidades de Paiol de Telha, Vila dos Papagaios e Castorina Maria da Conceio, com o
intuito de complementar dados fornecidos em entrevistas.
9
O que no impossibilitava, entretanto, a existncia de unies estveis ilegtimas, devido
Parte II | A questo quilombola Palmas
87
Destaca-se, nos relatos de quilombolas de Palmas, que as mulheres antigas
da comunidade no se casavam, mas tinham vrios lhos. A partir da anlise
dos registros de batismo, Lago (1987) arma que o nmero de mes solteiras
nos campos de Palmas era relativamente alto e que, devido forma como
foram preenchidos os registros, possvel supor que eram, em sua maioria,
negras e indgenas. Esse apresenta-se, talvez, como um dos motivos pelos
quais possvel interpretar a nfase discursiva no parentesco matrilateral
10
presente nas comunidades de Palmas. Entretanto, mesmo com essas diferenas
que distinguem as duas comunidades, em determinado momento as trajetrias
de alguns de seus membros se conectaram.
A partir do cruzamento de fontes escritas e orais, a hiptese aqui
utilizada que uma possvel rede de parentesco comeou a articular-se a
partir da complexidade das relaes sociais estabelecidas durante o sculo
XIX, onde, para alm dos quadros de opresso e violncia caractersticos das
sociedades escravistas, tornou-se possvel tanto o surgimento de comunidades
quilombolas a partir de doaes de terras para escravizados
11
(como foram
os casos das comunidades da Invernada Paiol de Telhas, Sutil e Santa Cruz) e
da ocupao de terras de uso comum (comunidades Adelaide Maria Trindade
Batista, Castorina Maria da Conceio e Tobias Ferreira), como os espaos de
relativa mobilidade social e geogrca constitudos pelo alforriamento
12
, pelas
relaes de compadrio (apadrinhamento), tutela (lhos de criao).
Outro fator que possivelmente contribuiu para estabelecer a comunicao
entre algumas dessas comunidades foi a atividade tropeira na regio, pois,
como veremos adiante, recorrente na memria de alguns quilombolas a
participao de seus ancestrais na conduo de tropas de mulas e gado, o que
lhes possibilitava uma mobilidade geogrca extensa. Alm disso, ressalta-se
a importncia que os ramais do Caminho das Tropas
13
desempenharam para a
aos custos necessrios para a legitimao. Essa opo pela unio consensual no se restringe
populao negra. Segundo Lago (1987), ao analisar os Arquivos da Cria de Palmas, havia
grande nmero de unies no realizadas na Igreja, vivendo os cnjuges maritalmente e tendo,
s vezes, vrios lhos antes de buscarem a ocializao da unio (:143).
10
Eu costumo dizer [em referncia ao pai] que um fez, outro registrou e outro criou (MAF,
Comunidade Remanescente de Quilombo de Palmas, 2012)
11
A utilizao do termo escravizado decorre de um posicionamento poltico assumido por
segmentos do movimento negro, de no reduzir o sujeito submetido situao de escravido
condio de objeto (escravo). Reconhece-se entretanto a operacionalidade historiogrca e
jurdica do termo escravo, que possui distines com o termo escravizado, e a capilaridade do
termo na linguagem utilizada pelos quilombolas. Nesse sentido o termo escravizado utilizado
na construo textual, mas mantido nas citaes de historiadores e quilombolas durante o texto.
12
A trajetria do casal de escravos Igncio e Ana, analisados em Siqueira (2010: 54), que aps
tornarem-se libertos em Palmas adquirem terras e escravos e uma ampla gama de relao social
caracterizada pelo apadrinhamento de 33 crianas de diversas condies sociais, demonstra as
possibilidades, ainda que restritas, de mobilidade social da condio escrava senhorial.
13
importante destacar que, no Estado do Paran, dos quinze municpios onde localizam-
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
88
dinmica das trocas regionais. No que se refere regio sul paranaense e aos
Campos Gerais, foi a estrada, aberta em 1842, que ligava Palmeira a Palmas
passando por Unio da Vitria, por onde realizava-se o trnsito de gado, queijo
e charque vindos de Palmas para Curitiba e por onde se abastecia de sal e
outras mercadorias os habitantes de Palmas (Wachowicz, 1987: 51).
Mapa 1 - Municpios com comunidades quilombolas e o Caminho da Tropas no
Paran.
Fonte: Salles, Cordeiro & Savali, 2012.
Um dos indcios documentais da relao entre as comunidades de Palmas
e Palmeira refere-se ao prprio processo de abertura da estrada que ligava as
duas freguesias. Segundo uma carta de Francisco de Paula Guimares
14
remetida
se as comunidades quilombolas, nove deles esto em reas que eram cruzadas pelo Caminho
de Viamo. Por conseguinte, muitas delas foram afetadas pela dinmica de mobilidade e
comunicao prprias da atividade tropeira.
14
Carta de Francisco de Paula Guimares, testamenteiro de Maria Clara do Nascimento Guimares,
Departamento Estadual de Arquivo Pblico (DEAP PR), Cdigo de Referncia: BR APPR PB CO
007. Destaca-se nesse caso a utilizao da mo de obra de libertos que compunham diversos
subgrupos familiares e estavam inseridos em uma rede de relaes sociais formada a partir de
apadrinhamento/compadrio e elos parentais que remontavam primeira metade do sculo XIX
(Hartung, 2005: 168-169) e que, entretanto, foram obrigados a trabalhar na referida obra.
Esse caso explicita os limites impostos mobilidade social dos ex-escravizados, pois mesmo
tendo sido alforriados e ganhado terras e gado por herana, ascendendo assim condio de
Parte II | A questo quilombola Palmas
89
Caminho das Tropas
Palmas - Palmeiras
14 dias de viagem em Tropas de Bois
07 dias de volta (escoteira)
ao Presidente da Provncia do Paran em 1856, os ex-escravizavos que haviam
herdado de Maria Clara do Nascimento Guimares parte da Fazenda Santa Cruz,
situada na freguesia de Ponta Grossa, foram forados pelo subdelegado de
Palmeira a trabalhar como jornaleiros
15
na abertura da estrada.
Croqui 1 Caminho das Tropas Trecho Palmas-Palmeira e principais fazendas
Fonte: Bach, 2010.
Considerando os dados coletados no relatrio do GTCM e o trabalho de
campo realizado durante a execuo do Projeto Memria dos Povos do Campo,
Sutil e Santa Cruz no so as nicas comunidades negras da regio abrangida
pela estrada de Palmeira a Palmas. Devem ser considerados nesse contexto
tambm os grupos familiares localizados em Papagaios Novos e Pugas, que
possuem relaes de parentesco com as comunidades anteriormente citadas.
fazendeiros, como defende o testamenteiro, os mesmos foram forados a trabalhar na abertura
da estrada.
15
Trabalhadores que ganham por dia.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
90
Croqui da Regio Palmeira
Ponta Grossa
Croqui 2 - Localizao de comunidades negras na regio de Palmeira e Ponta
Grossa.
Adaptado de Bach, 2010.
Esse indicativo de comunicao e migrao entre as comunidades de
Palmeira/Ponta Grossa e Palmas apresenta-se, entretanto, de forma mais
explicita nos relatos quilombolas.
Memrias da migrao
Os relatos das migraes de pessoas identicadas como quilombolas, que
foram localizados nas duas direes (Palmeira / Palmas Palmas / Palmeira),
referem-se mobilidade conquistada por ex-escravizados e seus descendentes
no ps-abolio e na busca de melhores condies sociais.
O meu sogro nasceu l em Palmeira e veio pequeno com a me dele
para Palmas, Berbirina Batista, que era prima da minha av. O pai
dele, o Seu Germano Batista, eu no sei de onde era, mas com certeza
veio de Palmeira, pois o meu sogro nasceu l. E eles eram escravos,
a Berbirina e o Germano Batista. Vieram de Palmeira e trabalhavam
nas fazendas aqui em Palmas (MAF, Comunidade Remanescente de
Quilombo Adelaide Maria Trindade Batista, 2013).
Parte II | A questo quilombola Palmas
91
Seu Amazonas: Meu pai nascido em So Joaquim, de So Joaquim
que quando o pai deles faleceu a famlia de Palmas pegou os trs
irmos para criar, era uma irm e dois irmos. O pai no contava
muito n, que ele contava do sofrimento que tinha l com essa
famlia l e ele comeava a chorar e cava muito nervoso n, da
de piazo ele pegou o irmo dele e essa irm e vieram embora para
Palmeira. Pegaram carona e fugiram de l para Palmeira. Da se
criaram em Palmeira. Se eu no me engano parece que a famlia
Capraro de Palmeira acabaram de criar eles. Eles fugiram de l na
base de uns quatorze, quinze anos. Eles fugiram de l porque essa
famlia maltratava muito eles. Porque l eles maltratavam muito no
trabalho, n? A alimentao era pouca e mais era servio, n? Cedo
da noite, abaixo de chuva, eles falavam que era muito...
C: Qual o trabalho que eles faziam?
SA: Lidavam de tudo... cortar lenha, lidar com criao, carpir
roa, de tudo. Servio braal mesmo (Seu Amazonas, Comunidade
Remanescente de Quilombo de Santa Cruz, 2012).
No campo historiogrco, a partir aproximadamente da dcada de 1990,
a migrao e mobilidade de descendentes de ex-escravizados passou a fazer
parte dos temas abordados pelas pesquisas do ps-abolio. Destacam-se
nesse contexto a produo de Azevedo (1987), Foner (1988), Mattos (1995),
Faria (1998).
Ao analisar a movimentao da populao negra aps a Guerra de Secesso,
Foner (1988) indica que alm da busca por alternativas econmicas, o usufruto
do direito de ir e vir constitua-se em umas das principais fontes de orgulho e
liberdade dos ex-escravizados norteamericanos e seus descendentes.
Mattos e Rios (2004) apontam, entretanto, que a deciso de permanecer
ou partir exigia um clculo estratgico, pois:
O exerccio da recm adquirida liberdade de movimentao teria
que levar em conta as possibilidades de conseguir condies de
sobrevivncia que permitissem realizar outros aspectos to ou mais
importantes da viso de liberdade dos ltimos cativos, como as
possibilidades de vida em famlia, moradia e produo domstica,
de maior controle sobre o tempo e ritmos de trabalho e, de modo
geral, sobre as condies dos contratos a serem obtidos (de parceria,
empreitada ou trabalho a jornada) tendo em vista as diculdades
ento colocadas para o acesso direto ao uso da terra (:179-180).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
92
Dependiam, dessa forma, de um nvel de informao sobre onde poderiam
ir e como seriam recebidos (Mattos e Rios, 2007: 63) que s era possvel
de ser acessado a partir das relaes sociais que estabeleciam. O mesmo
possvel identicar em relao aos trs irmos que saram de Palmas em
direo a Palmeira.
Seu Amazonas: Eles pegaram carona, saram sem rumo. No comeo
foram se juntando n, eles sabiam o nome dos parente que moravam
em Palmeira n, que eles sabiam e vieram vindo para se juntar.
Parentes deles ali na Vila dos Papagaio, os Mathias ali de Palmeira
mesmo, tinha a famlia Mathias que eles so parente tambm. Eles
vieram para se juntar com eles. Da que acabaram de se criar aqui
em Palmeira.
C: Ento ele veio de l de Palmas fugido... fugido, n, o senhor falou?
SA: Escapou dos fazendeiros.
C: Escapou, mas ele sabia como chegar.
SA: Sabia, para vir para o lado dos parentes.
C: E ele j tinha vindo?
SA: Como eu falo para voc, comunicava. Os parentes j sabiam... eles
escutavam os fazendeiros falar dos parentes deles onde moravam, n.
Eles escutavam o nome da cidade e a pegavam carona at tal cidade e
vieram parar em Palmeira (Seu Amazonas, Comunidade Remanescente
de Quilombo Santa Cruz).
No contexto do Paran, Marques (2009), analisando a trajetria de libertos
no ps-abolio nos municpios de Campo Largo e Curitiba, destaca que o
agenciamento das relaes sociais estabelecidas por libertos diante de um
projeto campons gestado durante a escravido determinaram a escolha entre
permanecer e migrar:
Dessa forma, a escolha por migrar ou permanecer est ligada fora
das relaes pessoais. Os migrantes, como aqueles que permaneceram,
possuam vnculos que podem ter facilitado seu estabelecimento nas
novas reas para as quais se dirigiram (2009: 140).
Nota-se, comparando os dois depoimentos de Seu Amazonas anteriormente
citados, que apesar de sarem de Palmas em virtude dos maus tratos que
recebiam na fazenda, aps encontrarem-se com os parentes em Palmeira os
trs irmos colocam-se novamente em uma relao de dependncia com uma
famlia da regio (os Capraro se no me engano). Os limites entre a liberdade
e o restabelecimento de vnculos de dependncia eram calculados pelos tratos
Parte II | A questo quilombola Palmas
93
que recebiam e no pelo rompimento total com a condio a que estavam
submetidos, ou seja, a de lhos de criao.
Memrias dos lhos de criao: uma escravido disfarada...
O relato de Seu Amazonas elucidativo quanto condio que os trs
irmos ocupavam na fazenda de Palmas, sobretudo no que se refere, no trecho
citado a seguir, ao ocorrido aps a morte do fazendeiro:
Seu Amazonas: Quando um fazendeiro desses Camargo faleceu l
em Palmas eles vieram procurar... veio um ocial de justia atrs do
pai procurando em Palmeira, da informaram que o pai morava em
Santa Cruz. Isso ns ramos pequenos, eu tinha a base de uns seis,
sete anos mais ou menos, e meu pai depois, sempre falava, que da
eles queriam dar a parte da herana em dinheiro e eu no me lembro
bem se era quatro ou cinco mil pinheiros para o meu pai. Uma parte
da herana do vio e o pai no quis porque ele disse que cava
esse dinheiro, essa conta cava pelo sofrimento dele e dos irmos
dele. Ele no quis pegar. Eu lembro, o pai sempre contava que pelo
sofrimento dele ele no iria aceitar. O meu pai era teimoso.
Cassius: Mesmo ele fugindo...
SA: Eles vieram atrs, eles sabiam que ele veio embora e depois ele
se comunicava com o pessoal de l. Depois quando era mais rapaz,
n?
C: Ah t, da ento ele mantinha relao com esse fazendeiro...
SA: Sempre tinha, s que ele no quis parte da herana porque ele
tinha sofrido muito. Ele com os irmo.
C: O Senhor sabe se ele voltou a fazer trabalho com esse Camargo
depois?
SA: No, nunca mais.
C: E como que ele tinha contato?
SA: Parece que ele tinha contato com os outros irmos de criao,
lho do fazendeiro uma coisa assim, parece.
C: Com os lhos do fazendeiro que se criaram junto?
SA: Que se criaram junto. A eu no sei nem o nome deles.
C: Era comum essa coisa de ser criado pelo fazendeiro?
SA: Antigamente isso era... muitos fazendeiros pegavam para criar
para o negro car trabalhando para eles n, eles criavam, como diz,
como lho n, mas para car... (longo silncio)
C: Como lho e... trabalhando de graa?
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
94
SA: Trabalhando meio que pela comida, pela roupa, cava meio
como lho. Muitos reconheciam n, depois queriam dar uma
parte da herana, mas era difcil n? (Seu Amazonas, Comunidade
Remanescente de Quilombo Santa Cruz).
O que sobressai no relato acima a negativa do pai de Seu Amazonas ao
negar a herana que havia lhe destinado o fazendeiro. Esse, apesar de todo
o sofrimento que lhes tinha causado, era reconhecido na condio de pai de
criao, e seus lhos consanguneos, irmos de criao das trs crianas que
haviam fugido. O fato de terem direito herana, apesar de neg-la, arma o
vnculo que haviam adquirido.
As tutelas, assim como as relaes de compadrio, doaes de terras,
heranas e alforrias
16
, devem ser compreendidas a partir do quadro das
estratgias de produo de dependentes para manuteno do domnio sobre
mo de obra em um contexto em que as relaes de trabalho predominantes na
lida campeira passaram a ser afetadas pelo processo de abolio.
Em Palmas, alm de estarem presentes nos relatos da comunidade
quilombola, essas relaes de tutela esto registradas na historiograa
local e na memria das tradicionais famlias de fazendeiros, que as vinculam
s mudanas ocorridas na esfera do trabalho aps a abolio da escravido.
Baseando-se nas entrevistas com o Sr. Jos Ferreira Santos, homnimo e
neto do chefe da bandeira exploradora dos campos de Palmas, Lago arma
que:
Muito frequentemente ocorriam adoes, por parte de fazendeiros
e proprietrios da regio, tendo esses os mesmos direitos que os
lhos legtimos. (...) A escassez de mo-de-obra, com a abolio
da escravatura e mesmo antes, motivou a adoo, procurando
assim, suprir a falta com elementos ligados famlia (Lago,
1987: 144).
Em sua anlise dos processos de tutela abertos em Palmas, durante o
perodo de 1881 a 1899, Siqueira (2010) indica que um total de 79 crianas
foram tuteladas no referido perodo, sendo que os anos de maior quantidade
de registro foram os imediatamente posteriores abolio. Isso fortaleceria o
argumento de que a escassez de mo de obra foi um dos fatores determinantes
para essas prticas de tutela no apenas pelos fazendeiros:
16
Como destaca Chalhoub (1990), a concentrao do poder de alforrias exclusivamente nas mos
dos senhores fazia parte de uma ampla estratgia de produo de dependentes, de transformao
de ex-escravos em negros libertos ainda is e submissos a seus antigos proprietrios (:100).
Parte II | A questo quilombola Palmas
95
Para os tutores, o indivduo tutelado poderia ser utilizado como mo de
obra, principalmente, num momento em que o preo dos escravos estava
demasiadamente alto. Assim, os tutelados serviriam como trabalhadores para
os senhores escravistas que tinham diculdades em aumentar o tamanho da
sua escravaria bem como para aqueles tutores pobres, sem nenhuma posse
escrava. A prtica de se ter lhos de criao era comum entre as populaes
menos abastadas como uma tentativa de suprir a falta de braos escravos.
Assim, a tutela foi uma estratgia utilizada tanto por ricos quanto por famlias
pobres que desejavam sobreviver sem poder contar com a mo de obra escrava
ou assalariada (2010: 78).
Por outro lado o tutelamento, assim como as relaes de compadrio,
estabelecia tambm uma srie de compromissos mtuos entre senhor e
escravizados, que possibilitavam a agncia de estratgias para melhorar as
condies de vida dos ex-escravizados e de seus descendentes.
No que se refere s relaes de compadrio em Curitiba, Schwartz
(2001) arma que para os escravos, esses padres indicam a aceitao das
circunstncias e a tentativa de usar a instituio do compadrio para melhorar
a prpria situao ou fortalecer laos de famlia (:285).
Haimester (2006), ao analisar as referidas relaes, destaca que o vnculo
de parentesco espiritual estabelecido no compadrio, alm de sacralizar vnculos
de parentesco, estabelecia reciprocidades funcionais entre os compadres com
vnculos que sobrepunham-se s relaes de afeto, pois como argumenta:
Negava-se a amizade, mas no o compadrio. Negava-se o que decorria
da carne, mas no se negava a relao superior entre espritos.
Tanto isso era importante que, para alm da amizade rompida, h
a armativa de uma outra relao de compadrio completa, sem a
quebra da solidariedade e da reciprocidade funcionais, entre os
compadres (Haimester, 2006: 209).
O caso do pai de Seu Amazonas, entretanto, explicita exemplarmente um
contexto de ruptura com a lgica anteriormente explicitada, pois ao negar a
herana ele recusa tambm o possvel vnculo espiritual que o atrelava a seu
pai de criao.
Os apontamentos de Marques (2007) acerca dos relatos sobre a vida de
lhos de criao descrevem precisamente as ambiguidades entre a dinmica
de produo de dependncias e a estratgia de liberdade que se inscrevem
sub o tutelado. A partir das diferentes impresses que identicou nas
entrevistas realizadas nas comunidades quilombolas de Palmas, a autora
destaca as seguintes caractersticas do que era ser lho de criao na regio:
a) o lao afetivo do lho de criao com o fazendeiro era reconhecido fora da
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
96
fazenda, entretanto, no interior da fazenda essas relaes eram imprecisas,
sobretudo no que se refere afetividade, participao nos espaos familiares
(alimentavam-se com os demais empregados) e diviso da utilizao de seu
tempo nas atividades dirias
17
. Apesar disso, quando alguns lhos de criao
cresciam, procuravam estender a relao de tutela a seus descendentes; b)
distanciamento da relao com os familiares consanguneos
18
e c) referncia
familiar indenida
19
(Marques, 2008: 72).
possvel, a partir de relatos de uma quilombola da comunidade Castorina
Maria da Conceio perceber uma continuidade das relaes e dos efeitos da
condio de tutela em sua trajetria no trabalho domstico, sobretudo no
que diz respeito indenio do pertencimento familiar (pois lha quando
convm), diviso da utilizao de seu tempo nas atividades dirias (visto que
a escolaridade no se concretizou) e aos efeitos psicolgicos da condio
qual esteve submetida durante a sua vida:
Dircia: A gente teve que sair para trabalhar. A minha irm veio
trabalhar de bab e eu tambm vim trabalhar de bab. Trabalhei l
em Palmas um pouco depois vim para Curitiba. Eu vim para Curitiba
eu acho que com nove anos, nove anos eu tinha.
C: Veio para Curitiba com nove anos!?
D: Com nove anos para trabalhar em Curitiba.
C: Mas com quem tu veio? Veio para trabalhar?
17
A criana ou adolescente era reconhecida como lho ou lha de criao do fazendeiro tal.
Esse reconhecimento se fazia tanto na cidade quanto no bairro. No exterior da fazenda se
admitia o lho de criao como algum que mantinha lao afetivo com os fazendeiros (na poca
a criao de gado era fonte de riqueza na regio e ser lho de criao dos poderosos conferia
certa familiaridade com o poder que estes dispunham). No interior das fazendas, essas relaes
eram tomadas de impreciso. Primeiro, em relao afetividade. No h, nos relatos, momentos
em que os meninos tivessem sentido por parte dos pais - patres atos que denotassem um
afeto relativo aos sentimentos paternos ou maternos. Geralmente essas crianas se apegavam a
outros funcionrios da fazenda. As refeies eram feitas na cozinha ou galpo, junto com outros
empregados. Poucos relataram ter tempo de ir escola, os que zeram diziam que iam aula
na prpria fazenda. Dessa forma, muitas vezes, no perodo de aula, eram solicitados a executar
suas atividades, o que acabava por afast-los da frequncia na escola, at que, com o passar do
tempo, a abandonavam. Nos momentos de festa familiar, eles tinham como funo desenvolver
alguma atividade necessria para o andamento do evento. medida que as crianas cresciam,
sua posio de exterior casa tambm avanava. Quando adultos, casavam e, muitas vezes, os
pais de criao eram padrinhos do casamento e depois dos primeiros lhos. Muitos relataram
situaes em que seus lhos foram lhos de criao da mesma famlia (por muitas geraes)
(Marques, 2008: 72).
18
Muitos estavam dispersos em vrias fazendas da regio, o que acabava por dicultar o
convvio e, com passar do tempo, cessava a relao familiar (Marques, 2008: 72).
19
A diculdade vivida pelo lho de criao que, muitas vezes, se sentia sem referncia familiar
porque no era reconhecido pelos fazendeiros como lho e, s vezes, vivia o estranhamento em
relao prpria famlia moradora no bairro. Sentia-se forasteiro nas duas moradas (Marques,
2008: 72).
Parte II | A questo quilombola Palmas
97
D: Da eu vim com uma famlia... mas eu j trabalhava com cinco
anos. Com cinco anos eu j lavava roupa para fora. (Risos)
C: Caracas.
D: Com cinco anos eu lavava roupa. J tirava um dimdim l. Da eu
quei com uma famlia que tambm era de Palmas, uma moa que se
casou l e eu vim trabalhar com ela, mas com a promessa de estudar
n, mas isso nunca se concretizou, at hoje n. Eu estudava um pouco
l [em Palmas], a escola l era uma maravilha. Tinha uma escola ali no
salo. O salo era um pouco mais para cima. Ento ali eles davam aula
para o pessoal no que eles chamavam de escolas isoladas.
C: Ali em Palmas.
D: Ali no Rocio, ali perto da igreja. Ento eu acho que era o av da
Arlete e a mulher dele que cuidavam, ento, os professores tomavam
caf ali, pois no tinha onde tomar lanche, no tinha banheiro,
ento iam ali. Ento eu estudei ali um pouco e depois fui estudar
na cidade. Eu fui comear a trabalhar com essa famlia que eu ia
vir para Curitiba, comecei a estudar seis de fevereiro at maio no
grupo, no grupo escolar l de Palmas, e a depois disso eu vim para
Curitiba e s voltei a estudar quando eu j tinha dezesseis anos. ,
depois eu estudei no Mobral, eu estudei cinco meses no Mobral, da
no deu certo da eu fui estudar quando eu tinha vinte e trs anos.
Eu vim fazer um supletivo, z um ano e toda a minha histria de
estudo foi essa. E da ento eu quei trabalhando com essa famlia
assim muitos anos, e na verdade me desvencilhar mesmo deles eu
nunca me desvencilhei, eu fui mudando de casa, mudando, depois
eu acabei uma poca indo para uma outra famlia, e sa dessa outra
famlia e fui para o garimpo. Que eu no fui direto para o garimpo
n, eu fui trabalhar com uma moa que trabalhava na secretaria da
fazenda l em Porto Velho, mas na primeira semana estava bom, na
segunda tambm, na terceira j estava ruim, da apareceu um rapaz
que era amigo dela que era veterinrio e acabou indo para o garimpo
e me fez uma proposta: Tu no quer ir trabalhar com a gente l no
garimpo? E eu disse: Deus me livre! No tinha nem idia do que era.
A ele disse, vai l ver e conhece. Eu disse no, da chegou o cunhado
dele, que era gacho me convenceu, vamos l. Da eu quei trs anos
no garimpo. Mas a histria de Curitiba foi assim meio sem graa, se
no fosse eu ir para o garimpo eu no sei o que seria hoje, porque
a gente cava muito sem expresso trabalhando na casa dos outros,
no tem uma vida ... tu no voc. Tu no se conhece. Passa a ser
a lha da patroa. Tu no tem uma identidade. E foi l [no garimpo]
que eu ... Essa sou eu! Essa sou eu!.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
98
C: Tu era tratada como lha da patroa?
D: A lha assim, quando convm, quando passa do horrio do trabalho
voc da famlia, quando tem que levantar tu empregada. Ento
aquela confuso! E a gente no tinha uma ... era a cultura da poca
que a gente vivia
C: E tu no recebia salrio?
D: Ah sim, recebia!!! (ironicamente). Era roupa, calado, tipo roupa
usada, sapato usado tambm, era uma escravido disfarada. Para
dizer bem a verdade era isso: uma escravido disfarada.
Percebe-se no relato acima, alm das continuidades de aspectos da vida
dos lhos de criao, uma srie de mecanismos de produo de dependncia
que perpassa dimenses materiais (salrio era roupa usada), sociais (a
escolarizao que nunca se concretizou) e psicolgicas (a confuso de ser
e no ser da famlia, no ter identidade e tu no ser voc) da reproduo
da vida, que de fato remete continuidade de traos da escravido no
trabalho domstico ao qual um nmero signicativo de mulheres quilombolas
permanece vinculada.
De tropeiro a patroleiro, de lavadeira a professora...
Outro elemento comum nas memrias de nossos narradores a participao
dos homens nas atividades das tropas e das mulheres enquanto lavadeiras
de roupa no municpio de Palmas. Essas atividades, ainda que mantivessem
certos aspectos das relaes de dependncia (pois fazenda s d lucro para o
fazendeiro!), ampliavam as possibilidades de mobilidade geogrca e, em certa
medida, de trnsito social (na medida em que as lavadeiras tinham acesso ao
mundo do patro).
Em um dos relatos, que composto de imagens incompletas
20
e fragmentos
de lembranas da narrativa de vida de seu ancestral, uma quilombola
apresenta pistas que possibilitam situar o contexto espao-temporal da
experincia, do qual emerge a narrativa ancestral. Ao indicar a participao
de tropas oriundas da rota que vinha da Argentina (possivelmente Corrientes)
em um contexto de predomnio da escravido
21
(visto que a me era indicada
20
Entretanto, possvel acessar a completude de uma memria? Memrias, imagens,
identidades construdas so sempre incompletas porque correspondem a uma multiplicidade de
experincias vividas por indivduos e grupos sociais que no se encontram parados no tempo,
mas em contnua transformao. Alm disso, h tenses e disputas que resultam em lembranas
e esquecimentos diferenciados de acontecimentos vivenciados (Santos, 1998: 9).
21
A presena de escravos tropeiros em Palmas atestada em Siqueira (2010), na histria do
cativo Bento, encontrada nos inventrios de seus senhores, onde explicita-se que o mesmo
Parte II | A questo quilombola Palmas
99
como escrava e o personagem da narrativa escondia-se no mato para no ser
confundido com fugitivo) e com a posterior participao na guarda de Pern
(ou seria outro caudilho?) e na guerra de So Paulo (seria a Guerra Paulista
ou Revoluo Constitucionalista de 1932?), o relato possibilita indicar o
trnsito e a participao quilombola em fatos polticos
22
ocorridos entre
meados da segunda metade do sculo XIX e meados do sculo XX.
Ainda nesse relato um tema que transparece o da mestiagem. O dilema
daquele que enquanto negro era branco e enquanto branco era negro, ou
seja, do sujeito que pejorativamente denominado de mulato.
23
Segundo
Barros (2009), apesar de haverem casos em que esses sujeitos viviam de fato
margem e no eram aceitos pela elite colonial, de forma geral, na sociedade
daquele contexto, eles conseguiram encontrar um lugar especial como nova
categoria ou como nova diferena a ser considerada (:105-6), ocupando um
posicionamento, mais confortvel no espectro das desigualdades (:102).
24
Entretanto, se relacionarmos a situao do mestio com a do lho de criao,
anteriormente exposta, possvel que ocorresse, tal como explicitou Marques
(2008: 72), um estranhamento em relao ao duplo pertencimento familiar, de
forma que o personagem da histria no sentia-se nem pertencente famlia
da fazenda (branca) nem do quilombo (negra). De qualquer maneira, dentro
do contexto da sociedade campeira e tropeira, esse posicionamento s refora
a possibilidade de vincular-se atividade do tropeirismo.
Nesse sentido, o tropeirismo emerge, dentre outros fatos, como memria
de uma histria de vida para ser contada e portanto digna de ser lembrada
25
enquanto evento signicativo para a comunidade da qual oriunda.
Em outra entrevista, que tematiza a participao de Seu Rui na atividade
tropeira, encontram-se, em contraposio ao relato anteriormente comentado,
se diferenciava pela prosso de tropeiro que desempenhava, pela liberdade de ir e vir que
possua e pela chance de acumular bens (Siqueira, 2010: 53).
22
A referncia participao em conitos poltico-militares ocorridos ao longo do sculo XIX
aparecem em outros relatos, como veremos adiante.
23
Ressalta-se o carter pejorativo em virtude da origem etimolgica do termo, onde mulus
refere-se a mula, ou seja, ao cruzamento das espcies de cavalo com burro e de jumento com
gua.
24
Via de regra a populao mestia era preponderantemente derivada de pai branco com me
escrava ou suas descendentes no ps-abolio. Em Palmas, alguns casos indicam uma relativa
manuteno de relaes entre as famlias de fazendeiros com lhos/as, derivadas de relaes
com suas domsticas negras. Entretanto, apesar da manuteno de laos de afetividade, seu
reconhecimento jurdico e material (atravs da partilha de testamentos, por exemplo) no so
frequentes.
25
Dada a multiplicidade de identidades sociais e a coexistncia de memrias sociais, de
memrias alternativas (memria de famlia, memrias locais, memrias de classe, memrias
nacionais, etc.), certamente mais produtivo pensar em termos pluralsticos sobre os usos que
a recordao pode ter para diferentes grupos sociais que podem ter diferentes pontos de vista
quanto ao que signicativo ou digno de memria (Burke, 2009: 6).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
100
descries detalhadas das funes da conduo de gado de Palmas para Unio
da Vitria, em um perodo em que o ciclo de comrcio de muares at Sorocaba
j havia se exaurido. A composio tnica da tropa, segundo o entrevistado,
predominantemente negra, sendo que por vezes so denidos como negada,
negro ou quilombola. Destaca-se nesse relato que ele foi produzido em
entrevista coletiva, onde a esposa e os lhos auxiliavam fazendo perguntas
orientadoras da rememorao do entrevistado:
Dircia: Segundo a histria que o meu av contou, ele [o meu bisav]
nasceu na fazenda do Pitanga, lho de uma escrava com o dono da
Fazenda. S que da tinha uma confuso n, porque ele era mal
visto, como branco ele era negro e como negro ele era branco. E ele
acabou fugindo, meio piazote ainda, foi embora assim, sem eira nem
beira, cou andando de um lado para o outro e chegou a passar fome
e andava escondido nos matos, porque anal de contas ele no era
fugitivo e no era branco, no era considerado branco no . uma
aventura essa histria dele, bem complexa, do jeito que o meu av
contou. Eu fui conhecer o meu av ele j era bem de idade e eu j era
adulta, mas ele amanheceu me contando a histria da famlia dele.
(...)
D. Joo Daniel dos Santos, e o nome do meu pai Benjamin Brasil
dos Santos. E da esse meu bisav n. Ele viajou para um monte
de lugares assim, andando, andando e encontrou uma famlia, que
trabalhava o homem e a mulher bem isolado assim e a diz que o
homem judiava muito da mulher e diz que um dia bateu na mulher
e ele fugiu do homem da, e encontrou um pessoal que era tropeiro
e esses tropeiros ele foi viajar com eles. Acabou fazendo a vida dele
com aquele pessoal. Era menino, nunca teve ningum e ningum
sabia nada dele. E ele acabou cando junto com... fazendo o trabalho
de tropeiro. E foi at para fora do Brasil levar tropa, n. E foi quando
ele se casou com a minha bisav que era Lencia e que era nascida
no Uruguai, a no sei como que eles voltaram para o Brasil, como
que ele cou em Santa Catarina, porque o meu av era natural de
Santa Catarina e l meu pai acho nasceu l, e no sei como se deu
esse envolvimento de novo com Palmas que eu no sei. Ento a
Dalvina, que era minha v, que era casada com esse meu av, que
era de Palmas, No sei! Porque eu sei que o meu av era natural de
Santa Catarina e o meu pai nasceu em Santa Catarina. Depois o meu
av acabou voltando morar no Paran, depois de viajar, segundo...
tem at uma histria que ele foi cavalarista do Pern. Tem umas
histrias bem interessantes. O meu v ento, teve aquela Guerra em
Parte II | A questo quilombola Palmas
101
So Paulo, que teve uma Guerra que ele tambm lutou, foi para o
Mato Grosso, Rio de Janeiro, tudo isso antes de casar. Da ele tava
meio adoentado, porque esse meu av morreu com cento e nove
anos. E a histria da minha famlia o que eu escutei do meu av,
da parte do que eu conheo do meu pai, s que da ele foi contando
toda a histria, como que o meu av voltou, o que que foi, como
que foi, s que eu no consegui gravar tudo. Comprei um gravador
para ir l gravar a histria do meu av e no consegui, quando eu
consegui o meu av morreu. Digo: Eu no acredito! Nunca gravei
mais nada, o gravador est l at hoje, porque a histria que eu
queria ter gravado, porque era quase um lme. Era uma coisa assim
toda fundamentada, no era nada sem cabimento o que ele estava
falando, ento, era uma histria de vida para ser contada, do tempo
do exrcito, ento no tinha como ser mentira as coisas que ele
estava falando. E eu disse, puxa vida, eu tinha que gravar isso. Mas
no deu. Ficou perdido. (Dircia, Comunidade Remanescente de
Quilombo Castorina Maria da Conceio)
Cassius: E nos tempos das tropas como que era?
Seu Rui: A tropeada do seu... ns saia da fazenda com duzentas e
cinquenta cabea de boi para ir para Porto Unio da Vitria para
designar a tropa dele l para Joinvile. Levava cinco dias para levar
daqui para Porto Unio da Vitria. E eu tocando a... segurando o gado,
n, e tocando a tropa de animal na frente que era os cargueiros e
comida, trem de cama e tudo n. Ento quando chegava perto, cava
mais ou menos uns trs quilmetros do acampamento quando a gente
chegava para almoar, eu j tocava a tropa de boi l na frente n
com os cargueiros no lugar do almoo, quando chegava l j estava
com o charque assado, a pinga dentro dgua para eles fazerem o
aperitivo depois do almoo n, a meu pai chegava com as tropas l,
da passava outro no mesmo lugar na frente para ir segurando o gado
na frente para no estourar o gado, n? Da chegava l, o almoo
j estava pronto, da botava o gado para um canto para ir sestiar,
da uns cavam cuidando o gado no sesteio e outros iam almoar,
depois os que almoava voltam, iam para o sesteio e os que estavam
no sesteio iam almoar. Da umas duas horas da tarde ns rompamos
com as tropas de novo, a noitezinha ns comia, um cozinhava, ns
virava por a galinha ou jangada, qualquer banca que anoitecesse.
Ento pegava pouso, da chegava e pousava...
Dona Maria Arlete: Tinha os berrantes, os madrinheiros.
SR: Que berrante, naquela poca no tinha berrante mui, era o turu.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
102
C: Turu?
SR: Era enterrada a guampa da vaca e tava pronto o turu, s falam
de turu pra tocar a tropa e acordar a negada de manh cedo para dar
tempo de fazer o caf, n?
DMA: E os madrinheiros faziam o qu?
SR: Madrinheiro? Madrinheiro era eu, pois eu alevantava cedo para
fazer o caf para a negada, n? A negada levantava cedo.
C: E o senhor falou que era s negro que tinha na...
SR: S negro, s preto.
C: Que tocava.
DMA: S quilombola.
SR: S preto, s quilombola.
DMA: S os escravos, n?
SR:Da acordava aquela negrada toda, aquele charque todo, que
cozinhava feijo a noite, n? O virado, fazia o virado de manh cedo
com o charque e o caf tropeiro, que era um chaleiro velho com
uma escumadeira desse tamanho dentro de uma lata, enchia de gua
e botava cima da trena...
DMA: E como fazia?
SR: J te conto... da quando fervia aquela gua pegava umas cinco
colher de p de caf e botava ali dentro, s que da no tinha
coador. Quando fervia o caf, que queria crescer a gente assoprava
e j deixava o tisso ajeitado n, quando ele crescia umas trs vez,
pegava aquele tisso de fogo e botava dentro.
DMA: Baixava todo o p...
SR: Baixava toda a poeira abaixo, e da tirava ele do fogo e estava
pronto o caf, e deixava de um lado.
DMA: E gostoso, Cassius...
SR: Da chegava cada l cada um com uma chocolateira, tinha uma
chocolateira n, enava e tinha galinha e aquele outro ali o dia
inteiro... quando terminava j enchia de novo e ia fervendo, e o resto
de caf que sobrava a gente jogava fora da passava uma gua ali,
botava os cargueiro e tocava a tropa para frente.
DMA: E os porcos?
SR: E a ns ia indo...
DMA: Tinha tropa de porco?
SR: A tropa de porco vem depois.
C: E quais as funes que o senhor tinha l? O que que o senhor
fazia?
SR: Na tropeada? Era madrinheiro.
C: h h?
Parte II | A questo quilombola Palmas
103
SR: Ento eu ia na frente do gado e tocava a comitiva na minha
frente, que eram os cargueiros que eram de comida.
C: E o seu pai? Tambm foi madrinheiro?
SR: O velho gritando na tropa... como daqui ali na casa do Alcione
[cerca de 400 m].
DMA: Ralava o relho, n?
SR: ... para a tropa no estourar...
Alcione: Segurava a tropa.
DMA: , l vem a boiada...
SR: ... boi boi boi.... Eu via que ele vinha de longe... e com medo
que o gado estourasse... ele vinha segurando o gado...
DMA: E quantas cabeas?
SR: s vezes a gente vinha dois, trs...
DMA: De gado...
SR: Duzentos e cinquenta.
DMA: .
SR: Da vinha dois, trs. Um me ajudando, n. Para segurar o gado,
pois se a tropa estourava deus o livre, e o resto vinha na culatra. E o
falecido meu pai com aoitera segura assim no cavalo. E vinha vindo
o caminho, s vezes vinha uns quatro, cinco caminho, e ele ia
arredando os gados dum lado e os caminhes de atrs dele, chegava
l onde eu estava (l no Alcione mais ou menos [cerca de 400 m]),
ia l os caminhes tudo atrs, e ele ia na frente encostando o gado
e aquela la de caminho atrs. Iam l onde eu estava, n, e o pai
chegava l e dizia vem vindo a caminhonada a p, vo segurando
mais o gado, vai devagar, segurando mais o gado, e ia segurando
o gado assim, n. Se parava o animal, atravessava o animal, vai
retendo passagem e o outro vai empurrando pros outros passarem,
n... a passava pelos caminhes de novo n, a o velho voltava
encostando o gado de novo e a l no comeo da tropa de novo, e o
velho cava tocando o gado atrs. Ia em quinze nego, quinze nego...
(Seu Rui, Dona Maria Arlete e Alcione, Comunidade Remanescente de
Quilombo, Adelaide Maria Trindade Batista, julho de 2007).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
104
Foto de Epaminondas Silva dos Santos, lho de ex-escravizados e pai do
Seu Rui. Nascido em Palmeira, migrou com os pais quando criana para
Palmas, onde trabalhou como tropeiro.
A participao no tropeirismo emerge tambm dos relatos que Seu Amazonas
concedeu na Comunidade Quilombola de Santa Cruz. Neles, entretanto, outro
elemento agregado: a mudana de trabalho para o Departamento de Estradas
e Rodagens - DER. Essa mesma transio do tropeirismo para atividades de
manuteno apresenta-se nas comunidades de Palmas, onde novamente so
fornecidas por Seu Rui informaes sobre sua participao nessa ocupao.
Possivelmente, paralelos prpria decadncia do tropeirismo e inteno de
distanciar-se das relaes de dependncia (no caso de Seu Rui, ao indicar o lucro
do fazendeiro como fruto de distribuio desigual do produto do trabalho), os
argumentos tcnicos e topolgicos (acumulados na atividade tropeira), presentes
no relato de Dircia, apresentam-se como uma chave interpretativa vlida, visto
que era eles [os tropeiro] que conheciam os trechos de passagem:
Seu Amazonas: O meu pai era tropeiro, lidava com tropa, n, tropeiro.
Depois foi indo, quando foi acabando essa... veio o transporte de
caminho e acabou o transporte a cavalo. Ele levava tropas de mula,
touro para So Paulo, para Ourinhos, Jacarezinho.
Parte II | A questo quilombola Palmas
105
C: Isso quando ele era mais velho?
SA: Quando ele era rapaz, antes de ele casar. Quando ele era rapaz,
depois quando ele casou ele foi trabalhar no DER, foi trabalhar....
trabalhava na rodovia, n? Limpando as estradas no DER.
C: Onde eles levavam as tropas?
SA: So Paulo, vendiam em Ourinho, n? Na regio ali, em Cambar
tinha uns tropeiros que vinham, ele se juntava com os tropeiros
tocando tropa, n? Esqueci o nome do tropeiro. Eles compravam e
faziam a manada e levavam para...
C: Mas essa manada no saa daqui da regio?
SA: No, vinham l do Rio Grande, vinham desse Caminho das Tropas
que falam, n? E levavam. E ele trabalhava de peo.
C: Faziam esse trecho de...
SA: Rio Grande do Sul at So Paulo, a passo de mula, levavam ali
de seis, oito meses, um ano fazendo a viagem. Da que ele conheceu
a minha me nas passagens, parou de tropear e trabalhava na DER.
(Seu Amazonas, Comunidade Remanescente de Quilombo Santa Cruz,
Ponta Grossa)
Seu Rui: Desde os 10 anos j comecei a vida artstica com tropa,
at os dezessete anos, depois eu resolvi... quer saber de uma coisa,
fazenda s d lucro para o dono, eu vou cair fora. Eu peguei, sa da
fazenda, vim na prefeitura, no outro dia fui l, pedi um servio para
mim e j deram servio para mim. Eu fui trabalhar de manh cedo,
sete horas fui ver... e entrei em uma valeta ali dentro dgua ali, o
riacho que passa ali dentro da cidade. Eu quei com uma vergonha da
turma n, bota de borracha, mas fazer o que, tem que ganhar o po,
no ? Nisso chegou um cara da prefeitura e chegou e disse assim: E
ento, da beleza nego. T bom e tal ... Disse: Tu quer ir pro mato
ajudando pra colher?. Eu disse: Quero, eu prero ir para o mato
mesmo. Ele disse: Ento passa na prefeitura, pode sair da da gua
e pe as tuas ferramentas l no banco de soja (que era um poro
alto que tinha aqui) e vai para casa e arruma tua roupa, umas trs
mudas de roupa para voc, porque tu vai car no mato, um colcho
e umas cobertas para ti dormir e uma hora ns vamos te pegar
l. Cheguei e falei com a falecida minha me e ela me conseguiu
um colcho, aqueles de crina, serpentina que era. Me arrumou um
colcho daqueles, um lenol, um acolchoado, um cobertor e um
travesseirinho, eu enei e amarrei com uma corda para o primeiro
dia, n? Chegaram a negrada, cheinho o caminho, e viajamos. O
primeiro acampamento foi na fazenda do Adorval Marcondes, fazenda
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
106
Guarida, acampemos l n. Deu dois dias eu fazendo comida l... ele
chegou e disse assim: R., vamos hoje que eu vou te fazer trabalhar
um pouco, vou te ensinar. Eu subi em cima da mquina, ele j me
deu a mquina para eu ir cortando, foi ensinando um pouco, dali
uma hora eu j estava cortando mais ou menos terra. Da no outro
dia pegou e fez hora, da no outro dia de manh cedo eu fui com ele
de novo e peguei a mquina de esteira, quando foi meio-dia, antes
do meio-dia ele j veio para a casa fazer almoo, ele j veio fazer
almoo, ele j veio, da veio ele e eu j quei sozinho.
(Seu Rui, Comunidade Remanescente de Quilombo Adelaide Maria
Trindade Batista, julho de 2007)
Dircia: [Eles foram passando das tropas para o DER] porque eles
conheciam os trechos de passagem, n, o gado passava com mais
facilidade. Porque naquele tempo as mquinas no eram to evoludas
como hoje que tem mais... o meio de construo mais evoludo,
n? E naquele tempo eles iam abrindo piquete para poder chegar,
ento acho que foi por a (Dircia, Comunidade Remanescente de
Quilombo Castorina Maria da Conceio, maro de 2013).
Se por um lado o trabalho na atividade tropeira possibilitou, durante certo
perodo, uma mobilidade geogrca e poltica dos homens quilombolas e,
posteriormente, lhes forneceu conhecimentos e condies para se inserirem nas
atividades do Departamento de Estradas e Rodagens, por outro o trabalho de
lavadeira de roupa, ainda que ocupando uma posio precarizada, possibilitou
s mulheres uma ampliao de suas relaes sociais e um trnsito, ainda que
limitado, no espao dos patres. Segundo uma quilombola, a associao da
gura da lavadeira com a fofoca relaciona-se circulao de informaes do
mundo dos patres entre os escravizados e seus descendentes:
Dircia: como a tal da histria que falava, a mulher que faz
fofoca... ah, a fulana lavadeira... e eu me perguntava, mas porque
lavadeira? A eu imaginei, mas claro, quem que trazia as notcias
que estavam acontecendo no mundo para os escravos? Ningum, n?
Eram as lavadeiras. Iam lavar a roupa no rio e com certeza tinham
contato com os outros l no... que cava no meio do mato, e acho
que elas contavam as histrias que aconteciam na casa dos patres.
Ento eu comecei a imaginar, acho que por isso. Porque no tinha
outro jeito, como que eles iam saber o que se passava no mundo,
no tinha. E as que trabalhavam dentro da casa conheciam as
histrias e elas eram lavadeiras. Da que saiu a histria da lavadeira
Parte II | A questo quilombola Palmas
107
(Dircia, Comunidade Remanescente de Quilombo Castorina Maria
Conceio, maro de 2013).
Segundo Marques (2008), a circulao das lavadeiras quilombolas de Palmas
durante seu processo do trabalho envolvia diferentes territorializaes (no
bairro, no centro, no itinerrio e no rio onde lavavam) e formas de intercmbio
(entre si, entre elas e as patroas, entre elas e pessoas com outras atividades
urbanas).
A circulao dessas mulheres possibilitou, por exemplo, que algumas famlias
tivessem acesso escolarizao em espaos historicamente direcionados s
famlias brancas:
Dona Maria Arlete: Quando eu tinha sete anos, que tinha que ir para
a aula, ela (a me) me trouxe para minha v. Da eu vim para estudar
com a minha v, car com minha v, e a minha me morando na
fazenda, e a minha v lavava roupa para o bispo, o primeiro bispo
que chegou para Palmas, o Dom Carlos, e eu sempre acompanhando
ela. Da lavava roupa, torrava caf para os colgios. Tinha o colgio
dos padres e o colgio das freiras... foi aonde, porque ela trabalhava
no colgio das freiras, que eles deram para eu estudar no colgio
das freiras, tudo de uniforme, tudo bonitinho assim. Eu estudei em
colgio de freira e o meu irmo no colgio dos padres, e depois
ele cou trabalhando no colgio dos padres. Antes disso os negros
no estudavam com os brancos (...) Eu lavei roupa e depois, na
dcada de setenta, eu z a faculdade para mostrar que eu podia ser
igual a qualquer um, e depois comecei a trabalhar na escola (Dona
Maria Arlete, Comunidade Remanescente de Quilombo Adelaide Maria
Trindade Batista, janeiro de 2012).
O acesso escolarizao, dessa forma, contribuiu para que algumas
mulheres das comunidades de Palmas, sobretudo a partir da dcada de 1970,
investissem na carreira no magistrio, ultrapassando os limites das atividades
prossionais a que estiveram historicamente limitadas.
importante destacar que, nos dois contextos abordados, os relatos
referenciavam-se, a partir da memria familiar, numa tentativa de reconstruo
da trajetria de seus ancestrais. Como ocorre, entretanto, a construo dessa
memria familiar dentro de um contexto de trocas matrimoniais e migraes
entre comunidades quilombolas?
Apesar de dar maior relevo aos quadros sociais na constituio da memria
coletiva, Maurice Halbwachs (2004) fornece elementos para compreender em
que medida as interaes entre grupos familiares podem afetar suas tradies
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
108
e memrias. Exemplo disso a armativa de que, quando ocorrem trocas
matrimoniais que operam separaes de uma pessoa de seu grupo domstico
originrio, h uma tendncia desse grupo no esquec-la, medida em que, por
outro lado, o membro que se afasta, ao ser exposto a guras e acontecimentos
novos que passam ao primeiro plano de sua conscincia, tende a pensar muito
menos em seus parentes.
Dessa forma, diante dos indcios de migrao, das possibilidades de
parentesco e de elementos comuns nas trajetrias de algumas famlias das
comunidades quilombolas, procura-se investigar a seguir suas memrias
sobre a escravido, no como um dado xo, mas variante de acordo com seus
contextos e interaes sociais.
Memrias da escravido nos contextos de Palmas e Palmeira
Um dos primeiros elementos identicados no que se refere maneira como
a memria coletiva sobre a escravido elaborada nos casos aqui abordados
relaciona-se forma como as dinmicas de transmisso das lembranas sobre
a experincia foram tecidas no contexto das comunidades investigadas.
Nesse sentido, percebe-se que o jeito como ocorreu a produo do texto oral
tradicional
26
pode diferir em decorrncia das formas como o acesso ao passado
histrico possibilitado por meio dos relatos dos ancestrais ou, utilizando-se
do conceito de Ricoeur
27
, da entrada no mundo dos predecessores.
Como aponta Peter Burke (2009), as recordaes so afetadas pela
organizao social da transmisso e pelos diferentes meios utilizados (:3).
Haveria, ento, na comparao de alguns relatos, contextos em que as
recordaes eram organizadas sistematicamente para serem transmitidas, e
outros em que a transmisso das lembranas era deliberadamente interrompida
para que fossem esquecidas ou silenciadas
28
. Destaca-se nessa comparao
que, enquanto em uma das comunidades evitava-se falar nos sofrimentos da
escravido, em outra ocorre um caso de identicao de parentesco e nomeao
de uma ex-escravizada que havia sido submetida a violncias corporais durante
26
Cabe salientar, assim como o faz Godoy, que o termo tradicional aqui utilizado em seu
sentido etimolgico: Derivado do latim traditio. O verbo tradire e signica precipuamente
entregar. Certos estudiosos referem-se relao do verbo tradire com o conhecimento oral e
escrito. Assim, atravs do elemento dito ou escrito algo entregue, passado de gerao em
gerao (Godoy: 110).
27
Segundo esse lsofo Uma ponte assim lanada entre passado histrico e memria, pela
narrativa ancestral, que opera como um intermedirio da memria em direo do passado
histrico, concebido como tempo dos mortos e tempo anterior a meu nascimento (Ricoeur
apud Silva, 2002).
28
Para aprofundamento da relao entre memria, esquecimento e silncio ver Pollack (1989).
Parte II | A questo quilombola Palmas
109
a escravido. O caso mencionado difere at mesmo do que identicaram
Rios e Mattos (2005) no acervo de entrevistas Memrias do Cativeiro, onde
as narrativas de tortura e maus tratos se fazem em geral como histrias
genricas, com personagens no identicados aos ascendentes do narrador
(:53). Em contraposio, na mesma comunidade na qual a violncia histrica
silenciada, ocorrem identicaes de ancestralidade quando o fato em questo
distingue positivamente o ex-escravizado:
Cassius: Como que a sua v contava as histrias?
Dona Maria Arlete: Juntava todos os netos em volta do fogo, das
brasas, e s vezes ela assava o pinho no borralho, ela dizia o
borraio. Ela assava os pinho, ela abria as brasa assim, colocava
os pinho e depois cobria e juntava todos os netos em volta. E ai
de quem risse. Juntava todos os netos em volta do fogo, porque
os netos paravam com ela para estudar. E da ela contava todas
as histrias quando o meu av chegou aqui. Quando ela veio de
Guarapuava, porque ela era de Guarapuava. E a minha av falava de
toda a histria de quando eles vieram para Palmas, da escravido, da
irm dela que sofreu muito em uma fazenda, tinha o corpo marcado
pela escravido, porque quando marcavam as pessoas com a marca da
fazenda, mandavam a irm dela pegar brasa para acender o cigarro do
fazendeiro. Pregava a orelha dela na parede. Ela era toda marcada. O
nome dela era tia Salom (Dona Maria Arlete, Comunidade Adelaide
Maria Trindade Batista, 2013).
Dona Ana: Eles no nos contavam. Eles faziam as crianas dormir e
depois se reuniam e lembravam daquelas histrias da escravido. E a
gente fazia que estava dormindo e cava escutando. Assim que a gente
sabe, porque eles no queriam nos falar daquele sofrimento (Dona
Ana, Comunidade Remanescente de Quilombo Santa Cruz, 2007).
Seu Amazonas: O meu av foi o primeiro professor negro do Paran,
Amazonas Gonalves dos Santos. Ele quando ele veio, o que eles me
falam que ele veio pequeno da frica, o pai dele foi escravo e ele
foi criado por um fazendeiro que queria muito bem ele, ento eles
deram estudo para esse meu av, e os pais do meu av trabalhavam
como escravo. O pai desse meu av era reprodutor (risos), era como
reprodutor. Eles escolhiam o negro melhor, bom para reproduzir
com as outras negras para trabalho, tinha os lhos para trabalho,
n? [O meu av] quando compraram eles que ele veio junto com a
famlia dele, quando compraram ele j pegaram ele e o pai dele para
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
110
trabalhar e tinham ele, n? E deram estudo para ele porque ele era
dos melhores, porque era reprodutor, da deram ensino para o lho.
E esse era o meu av (Seu Amazonas, Comunidade Remanescente de
Quilombo Santa Cruz, janeiro de 2012).
Enquanto em uma das comunidades as referncias escravido eram
evitadas, por remeterem ao sofrimento e quilo que no se deveria ser
escutado e, portanto, esquecido, em outra procura-se explicitar a presena
e a participao negra na formao da cidade, com o objetivo declarado de
contrapor-se aos discursos predominantes na regio, onde a escravido
negada e amenizada. Nesse sentido, durante a pesquisa uma das quilombolas
entrevistadas, problematizando a forma como a presena de escravizados
tratada na regio, forneceu a gravao de um programa veiculado em emissora
local que contm entrevistas de descendentes dos primeiros fazendeiros da
regio com o seguinte teor:
Entrevista 1
Adair Kill: Existiam escravos aqui em Palmas?
Incio M. de Loureiro: Aqui pouco escravo... essa uma fase muito
explorada e muito enfeitada, porque escravo mesmo aconteceu isso
l para a Bahia, Pernambuco, l para aqueles lugares, mas aqui j,
quando vieram para c era um povo j muito esclarecido como... at
o bisav, tatarav dessa [apontando para a esposa] comandava uma
bandeira que se estabeleceu mais l em cima, o Ferreira dos Santos,
mas ento esse negcio de escravo como o meu av tinha bas...
meu bisav, tatarav... mas no tinham vida de escravo, no senhor,
eles tinham uma vida de servio normal, natural, descansavam como
qualquer um outro, dormiam como qualquer um outro, e comiam
muito bem. No aparecia... aqui no existiu senzala, no existia
nada disso.
AK: Eles no eram maltratados?
IML: No, em absoluto, e aqueles que queriam ser desligados da
fazenda saam na maior boa vontade e a hora que queriam.
AK: Eu achei importante aqui na sua propriedade, na Fazenda
Cruzeiro, a taipa de pedras que ns temos aqui na entrada dessa
fazenda, esta taipa ento foi feita pelos empregados, os chamados
escravos da poca?
IML: Chamados escravos, mas que no eram (com o dedo em riste).
Parte II | A questo quilombola Palmas
111
Entrevista 2
Adair Kill: Por aqui passaram escravos?
Paulo B. Arajo: Passaram, eu ainda conheci dois escravos.
AK: Como que era o trato com os escravos na poca?
PBA: Segundo o que o meu pai conta, contava... os escravos era
muito bem tratados. Os escravos no sul do pas, de modo geral
ele participava como patro das lutas de campo e havia uma certa
camaradagem que no havia l para cima nos outros estados. L,
segundo consta, a escravido foi mais rigorosa.
Entrevista 3
Adair Kill: Os escravos existiram por aqui?
Diogo F. Ribas.: Existiram.
AK: E como que era o tratamento dado aos escravos?
DFR: Em parte era bom e em parte era mal.
AK: Que histria o senhor conhece com referncia ao tratamento que
era dado aos escravos? O senhor me contou alguma coisa antes, o
senhor pode repetir agora?
DFR: Posso.
AK: O que que aconteceu?
DFR: Que tinha certos fazendeiros que pregavam a orelha do ndio na
parede e chamavam.
AK: Do ndio ou do escravo?
DFR: Do escravo.
AK: Mas outros eram bem tratados.
DFR: Bem tratados.
Contrapondo-se a esses discursos, a narradora quilombola procura explicitar
a participao positiva dos ex-escravizados no processo de abertura dos Campos
de Palmas, explicitando que eles vieram abrindo o mato enquanto os cabeas
das expedies vinham atrs. Destaca-se, reforando o relato da quilombola,
que o prprio estatuto de uma das sociedade de povoadores determinava que
seus integrantes deveriam munir pelo menos com dois escravos ou mercenrios
que serviriam como mo de obra; primeiro nos trabalhos que surgiriam durante
a expedio, como o pique dos matos, a construo de canoas e, em um
segundo momento, na introduo do gado (Weigert, 2010: 43).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
112
Dona Maria Arlete: h h. A minha v me dizia que eles vinham com
as bandeiras. O Jos Ferreira que era marido da minha av, o meu
av. E a minha v me conta que ele vinha na frente da bandeira como
cozinheiro. E da ele vinha meio fugido l da Guerra dos Farrapos, e
ingressou nas expedies que vieram descobrir os Campos de Palmas.
As duas expedies, e ele veio junto. E ele era o cozinheiro. E usava
esse panelo. Ele fazia o arroz como o charque para toda a turma da
expedio. isso que a minha v contava. Esse panelo, ele passa
de gerao em gerao, j est na quinta gerao, porque da foi em
1936 que era do meu av, depois o meu av morreu, passou para a
minha av, depois passou para a minha tia at chegar a minha me,
e agora est comigo. Ns j usamos ele para ferver a roupa na poca
que lavvamos roupa para fora, para fazer sabo, e hoje ele est a
para bonito. Para bonito no, a hora que eu queira fazer sabo eu
fao (risos).
Cassius: Quando vieram as bandeiras, os escravos vieram juntos
ento?
DMA: Foram os negros que vieram juntos. A minha v dizia bem
assim: nossa, era perigoso, o teu av vinha na frente das bandeiras e
uma turma de negros, bastante negros que vinham fazendo as picada,
diz que eles que roavam assim as estradas, fazendo as picadas. E
eles vinham bem longe das expedies. Os cabeas das expedies,
os portugueses l. Ento diz que s vezes l na frente um tigre j
pulava em um negro, j comia o negro, j matava. Os ndios, que
eram muitos ndios, que a minha v falava os ndios brabos. Da
matavam tambm. Enfrentavam tudo que perigo, cobras, todos os
animais ferozes, a minha v contava.
C: Eles vinham na frente.
DMA: Vinham na frente os negros. Igual bucha de canho (Dona
Maria Arlete, Comunidade Adelaide Maria Trindade Batista, maro de
2013).
Ressalta-se ainda nessa ltima narrativa que a quilombola a tece a
partir da referncia a um caldeiro (panelo) que foi usado para cozinhar
durante as expedies que abriram os Campos de Palmas. Esses objetos, como
outros tantos (imagens de santos, esteiras, artesanatos, armas utilizadas em
guerras, etc.) alm de constiturem patrimnio cultural material geralmente
no reconhecido pelas polticas de patrimnio, so tambm reservatrios da
memria viva da populao camponesa no Paran. O caldeiro ao mesmo
tempo objeto que leva a rememorao dos locais que cada sujeito social ocupa
(quem vai na frente, quem ca atrs), quanto repositrio de interao, pois dali
Parte II | A questo quilombola Palmas
113
saa a refeio que alimentava as expedies e a fervura e o sabo utilizados
para lavar a roupa suja de todos da cidade. O caldeiro, portanto, nos serve
como metfora para tirar lies das memrias de manuteno de dependncia
e busca da liberdade no Brasil ps-abolio.
Imagem do caldeiro usado por escravizados que cozinharam nas
expedies que abriram os Campos de Palmas
Consideraes nais
As memrias das famlias quilombolas apresentam elementos para perceber
uma experincia que se constri no limiar das estratgias de produo de
dependncia pelas elites locais e de busca de conquista da liberdade por parte
dos ex-escravizados. Como possvel perceber ao longo do texto, essa dinmica
envolve dimenses econmicas, tnico-raciais
29
e de gnero. Econmicas porque
vinculadas reestruturao das relaes de trabalho no perodo ps-abolio;
tnico-raciais porque os mecanismos de atualizao da dominao de classe
mantm e, em certa medida, aprofundam as desigualdades que constroem-
se tambm a partir das relaes raciais construdas durante os sculos de
predomnio da escravido, e de gnero porque afetam diferentemente homens
e mulheres.
29
O termo racial aqui utilizado para agregar tanto os aspectos referentes s fronteiras dos
grupos tnicos que so objetos da antropologia, quanto a construo sociolgica da categoria
raa, que aqui, portanto, no usada em sua variante biolgica.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
114
Entretanto, apesar do engenhoso mecanismo de produo de dependncia
que articula desde as doaes de terras, compadrio e tutela, os ex-escravizados
e seus descendentes movimentaram-se fazendo clculos para ampliar
sua liberdade, ainda que no rompessem diretamente com as relaes de
dominao. assim que pode ser lida, por exemplo, a fuga dos trs lhos
de criao de um fazendeiro de Palmas, que mesmo encontrando parentes em
Palmeira, colocam-se novamente na situao de tutela, indicando que no era
exatamente uma fuga dessa condio, mas dos maus tratos aos quais eram
submetidos. Talvez a tambm esteja a chave para compreender a recusa em
aceitar a herana, visto que retomaram o vnculo de criao com os Capraro.
Um clculo levado em conta mesmo quando a menina de nove anos sai de
Palmas estudando e vai para Curitiba, com o acordo de manter-se estudando na
capital paranaense, proposta essa que nunca se concretizou.
Marques (2008) destaca que a relao entre as lavadeiras de Palmas e
as famlias da cidade era caracterizada por uma interdependncia assimtrica
na qual as quilombolas, apesar de submetidas a um ritmo de trabalho duro,
atravs de sua rede de informaes (fofoca) disseminavam notcias daquelas
senhoras que as maltratavam, dicultando dessa forma que encontrassem
algum disposto a lavar suas roupas. H a um novo exerccio do clculo de
at onde elas podiam se submeter. As mudanas de funes de tropeiro para
patroleiro e a transio de lavadeira para professora esto inscritas no clculo
de que a fazenda s d lucro para o dono e da ex-lavadeira, que diante do
racismo, voltou a estudar para mostrar que era capaz de ser algum, tal como
registrado no seguinte relato presente em Marques:
A gente nota racismo e por causa das pessoas racistas que eu z de
tudo para me destacar na sociedade. Para mostrar que a gente tem
a mesma capacidade que qualquer pessoa branca, ento ns temos
que nos valorizar e mostrar que ns, as pessoas ngem que no so
racistas, mas so. (Dona Maria Arlete apud Marques, 2008: 171).
A valorizao da quilombola passa tambm pelo uso poltico de sua
memria, quando contrasta os sofrimentos e torturas passados por sua tia-av
com a participao positiva de seu av e demais ex-escravizados na abertura
dos Campos de Palmas. Ao misturar esses dados de dependncia e liberdade no
caldeiro de memria e retirar de l uma deliciosa narrativa de interao, onde
a gura do escravizado redimida de sua histrica invisibilizao no Paran,
a quilombola nos leva a reetir sobre como os relatos e as reexes aqui
presentes podem interferir no padro das relaes tnico-raciais e de gnero
que predominam nesse estado e no pas.
Parte II | A questo quilombola Palmas
115
Referncias bibliogrcas
AZEVEDO , Clia Marinho. Onda negra, medo branco: o negro no imaginrio das
elites. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
BACH, Arnoldo Monteiro. Tropeiros. 2010.
BARCELLOS, D. M. Famlia Negra no Rio Grande do Sul: contribuies para seu estudo In:
LEITE, I. B.. (Org.). Negros no Sul do Brasil. Ilha de Santa Catarina, 1996.
BARROS, Jos D Assuno, A Construo Social da Cor. Petrpolis: Vozes, 2009.
BOTT, E. Famlia e Rede Social Rio de Janeiro: Francisco Alves,1976.
BURKE, Peter. A Histria como Memria Social In: O Mundo Como Teatro - Estudos de
Antropologia Histrica. Lisboa. Difel. 2009.
CHALHOUB, Sidney. Vises da liberdade: Uma histria das ltimas dcadas da
escravido na corte. So Paulo: Companhia das letras, 1990.
CRUZ, Cassius M. Trajetrias, Lugares e Encruzilhadas na Construo da Poltica de
Educao Escolar Quilombola. Dissertao (Mestrado em Educao). Universidade
Federal do Paran, Curitiba, 2012.
FARIA, Sheila de Castro. A colnia em movimento: fortuna e famlia no cotidiano
colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
FONER, Eric. Nada alm da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
GODOI, Emlia P. O Trabalho da Memria: cotidiano e histria no serto do Piau.
Campinas: Editora da Unicamp, 1999.
EVANS-PRITTCHARD, E.E. Witchcraft, oracles and magic Among the Azande.
OxforDAB: Claredon Pressa, 1937.
HAMEISTER, Martha Daisson. Para Dar Calor Nova Povoao: estudo sobre
estratgias sociais e familiares a partir dos registros batismais da Vila do Rio
Grande (1738-1763). Rio de Janeiro: Instituto de Filosoa e Cincias Sociais,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006 [Tese de Doutoramento].
HALBWACHS, Maurice. Los marcos socieales de la memoria. Rub (Barcelona):
Antropos Editorial; Concepcin: Universidad de la Concepcin; caracas: Universidade
Central de Venezuela, 2004.
HARTUNG, Miriam. Muito alm do cu: Escravido e estratgias de liberdade no
Paran do sculo XIX. TOPOI, v. 6, n. 10, jan.-jun. 2005.
PARAN. Instituto de Terras, Cartograa e Geocincias do Paran. Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e Recursos Hdricos Terras e territrios Quilombolas: Grupo de
Trabalho Clvis Moura Relatrio 2005-2008. Curitiba: ITCG, 2008.
LAGO, Lourdes Stefanello. Origem e evoluo da populao de Palmas - 1840-1899.
Dissertao de Mestrado em Histria. Florianpolis: UFSC,1987.
LEWANDOWSKI, A. Agentes e Agncias; O processo de construo do Paran Negro.
Dissertao (Mestrado em Antropologia), Curitiba, 2009.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
116
MARQUES, S. dos S. Pedagogia do estar junto: ticas e estticas no bairro de
So Sebastio do Rocio. Tese (Doutorado em Educao) Faculdade de Educao,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.
MARQUES, Leonardo. Por a e por muito longe: dvidas, migraes e os libertos de
1988. Rio de Janeiro, Apicuri, 2009.
MATTOS de Castro, Hebe Maria. Das cores do silncio. Signicados da liberdade no
sudeste escravista. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
MATTOS, Hebe Maria & Ana Maria Rios. O ps abolio como problema histrico:
balanos e perspectivas. Topoi, volume 5, no. 8, January-June 2004, pp. 170-198.
__________. Memrias do cativeiro: famlia, trabalho e cidadania no ps abolio.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2005.
POLLAK, Michael. Memria, esquecimento, silncio. Estudos Histricos, Rio de
Janeiro, vol.2, n.3, 1989. p.3-15.
SILVA, Helenice Rodrigues da. Rememorao/comemorao: as utilizaes sociais da
memria. In: Rev. Bras. Hist. vol.22 no.44 So Paulo, 2002.
SANTOS, Myrian Seplveda dos. Sobre a Autonomia das Novas Identidades Coletivas:
alguns problemas tericos. In: Revista Brasileira de Cincias Sociais. V. 13, n. 38,
So Paulo Outubro, 1998) disponvel em: http://scielo.br/scielo.php?Script=sci_
arttex&pid=S0102-69091998000300010&Ing=pt&nrm=isso&tlng=pt.
SIQUEIRA, Ana Paula Pruner de. Cativeiro e Dependncia na Fronteira de Ocupao:
Palmas, PR,1850-1888. Dissertao (Mestrado em Histria), Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), 2010.
SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, Roceiros e Rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001.
WACHOWICZ, Ruy Christovam. Paran, Sudoeste: ocupao e colonizao. Curitiba:
Litero-tcnica. 1987.
WEIGERT, Daniele. Compadrio e Famlia Escrava em Palmas, Provncia do Paran
(1843-1888). Dissertao (Mestrado em Histria), Universidade Federal do Paran
(UFPR), 2010.
117
Captulo 5
(Re)conguraes identitrias e direitos sociais:
o caso da comunidade remanescente de quilombo
Adelaide Maria Trindade Batista em Palmas, Paran
Snia Maria dos Santos Marques
1
No o Eu colonialista nem o Outro colonizado, mas a
perturbadora distncia entre os dois que constitui a gura
da alteridade colonial o artifcio do homem branco inscrito
no corpo do homem negro. em relao a este objeto
impossvel que emerge o problema liminar da identidade
colonial e suas vicissitudes (Bhabha, 2005: 76).
Como se houvesse uma forma delimitada de ser quilombola.
Como se, ao armar a denominao quilombola, junto
fosse acionado um conjunto xo de processos culturais
e uma identidade autntica, que deveria ser resgatada,
depois de um tempo em suspenso (Marques, 2008: 175).
E
screver processo no qual mobilizamos os sentidos procura de alguma
forma de interlocuo. Nesta ao emergem questionamentos: como
estabelecer dilogo entre o material emprico e as perguntas que povoam
o universo de quem pesquisa? Como (re)ler questionamentos que nos zemos
em outro tempo e atualiz-los em novo contexto? Se escrever um ato de
produo de sentido, como apreender e traduzir o que o outro manifesta
em seu processo de vida? Em momento em que os sujeitos so chamados a
identicarem-se como grupo social, quais vozes sero ouvidas, quais sero
silenciadas? O que est implicado no processo de fabricao de identidades?
Esboamos questionamentos nos quais se entrecruzam trs sujeitos:
primeiro, o pesquisador a negociar com o material coletado e com o processo
1
Professora do Programa de Ps-Graduao Mestrado em Educao da Universidade Estadual
do Oeste do Paran, Campus de Francisco Beltro.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
118
de escrita; segundo, o grupo estudado e as relaes entre identidade e
reconhecimento; terceiro, o Outro
2
, espectro que assombra os sujeitos anteriores.
No ato de escrita
3
, de acordo com Calvino (2006), h sempre negociao
entre a palavra escrita e no escrita. Tambm Certeau coliga os processos de
escrita e histria quando arma o signicado de entend-la como a relao
entre um lugar (um recrutamento, um meio, uma prosso, etc.), procedimentos
de anlise (uma disciplina) e a construo de um texto (uma literatura) (2005:
66). Dessa forma, a escrita associada a uma prtica que articula um conjunto
de disposies que produzem discursos sobre o que se estuda.
Em um processo de escrita importante demarcar as formas de construo
da pesquisa e, por consequncia, os discursos assumidos na construo do
texto. O objetivo central da investigao foi compreender como os moradores
da comunidade remanescente de quilombo Adelaide Maria Trindade Batista
estabelecem (re)conguraes identitrias ao assumirem-se como sujeitos de
direito. A metodologia adotada usou como instrumentos de coleta de informaes
as entrevistas narrativas (Jovchelovitch e Bauer, 2002), anlise documental,
registro fotogrco. A relao com os moradores do lugar vem de longa data,
desde 2005, quando comeamos atividades necessrias para a produo da tese
4
de doutorado. Desde ento, desenvolvemos vrias aes na localidade.
Convm elucidar os processos associados produo da investigao. No
ano de 2009 foi organizado o projeto Memrias dos povos do campo no Paran:
cultura e conitos sociais, encaminhado pelo Instituto de Terras, Cartograa e
Geocincias ao Ministrio da Cultura
5
. Na ocasio, foram reunidos prossionais
que atuavam em diferentes instituies de pesquisa, ensino e extenso para
discutir e planejar as atividades para a execuo da investigao
6
. O objetivo
2
Para Certeau (2000: 14) O outro o fantasma da historiograa. O objeto que ela busca, que
ela honra e que ela sepulta.
3
Calvino (2006: 146) no texto A palavra escrita e no escrita arma que xar a nossa ateno
em um objeto, qualquer objeto, o mais trivial e familiar, descrev-lo minuciosamente como se
fosse a coisa mais nova do mundo.
4
Marques, Snia Maria dos Santos. Pedagogia do estar junto: ticas e estticas no Bairro
de So Sebastio do Rocio. Tese de Doutorado. Programa de Ps-Graduao em Educao da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre: 2008.
5
O projeto contou com nanciamento do Ministrio da Cultura e mediao do Instituto
de Terras, Cartograa e Geocincias, aos quais agradecemos e destacamos o signicado do
reconhecimento dos processos de constituio, reivindicaes e lutas sociais para a Histria do
Paran.
6
Sobre esse processo importante destacar a participao ativa e entusistica de Jefferson
de Oliveira Salles no sentido de tornar possvel o projeto, facilitar a comunicao entre os
prossionais das diferentes universidades e estabelecer a interlocuo entre o grupo e o
Instituto de Terras, Cartograa e Geocincias. Suas aes foram essenciais para a pesquisa e
tornaram possvel a realizao da apresentao do resultado da investigao. Dessa forma,
importante expressar gratido pelo convite para constituir a equipe e participar da iniciativa
de investigao e, no mesmo movimento, destacar seu compromisso com os grupos sociais
pesquisados.
Parte II | A questo quilombola Palmas
119
geral do projeto era analisar dimenses do processo de ocupao territorial do
Estado do Paran, tendo em vista os diferentes grupos sociais do campo.
As reexes que ora apresentamos so resultado das aes empreendidas
durante a realizao do projeto. Considerando as atividades de pesquisa
anteriores, assumimos a responsabilidade de indagar sobre a Comunidade
Remanescente de Quilombo Adelaide Maria Trindade Batista, Municpio de
Palmas, Paran e seus processos de identicao. Sobre esta questo Woodward
(2000) destaca que convm dar ateno s conceituaes de identidade,
atentar s formas como essas reivindicaes se manifestam. Isso porque,
muitas vezes, se mostram essencializadas. A autora reitera que a identidade
na verdade, relacional, e a diferena estabelecida por uma marcao simblica
relativamente a outras identidades (Woodward, 2000: 14). Dessa forma,
relaciona-se s condies materiais da existncia e pode permitir ou erigir
barreiras ao acesso aos bens materiais e simblicos. De fato, esses processos
exigem observar os sistemas classicatrios nos quais as identicaes se
emolduram indicando quais so assumidas e quais so contestadas:
Assim, parentesco e territrio, juntos, constituem identidade, na
medida em que os indivduos esto estruturalmente localizados
a partir de sua pertena a grupos familiares que se relacionam a
lugares dentro de um territrio maior. Se, por um lado, temos
territrio constituindo identidade de uma forma bastante estrutural,
apoiando-se em estruturas de parentesco, podemos ver que territrio
tambm constitui identidade de uma forma bastante uida, levando
em conta a concepo de F.Barth (1976) de exibilidade dos grupos
tnicos e, sobretudo, a ideia de que um grupo, confrontado por uma
situao histrica peculiar, reala determinados traos culturais que
julga relevantes em tal ocasio. o caso da identidade quilombola,
construda a partir da necessidade de lutar pela terra ao longo das
ltimas duas dcadas (Schmitt, Turatti e Carvalho, 2002: 4).
Ao estudar grupos sociais percebemos a importncia de coligir identidade e
reconhecimento. Desta constatao, novos questionamentos se insinuam: como
fugir da xao do sujeito em uma identidade? Como perceber a plasticidade
do conceito? Como, ao reivindicar direitos tomando por base a territorialidade
e o parentesco, no assumir percepes essencialistas?
O perigo das reivindicaes essencialistas desviar-se dos aspectos
relacionais dos processos de construo da identidade e reduzir o outro a um
conjunto xo de caractersticas e, dessa forma, negar o jogo da alteridade. Em
relao aos quilombolas vemos que, em muitos trabalhos, so tomados como
grupo no qual no h opacidades nas construes identitrias.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
120
Comunidade remanescente de quilombola Adelaide Maria
Trindade Batista: identidade e reconhecimento social
A comunidade quilombola Adelaide Maria Trindade Batista em Palmas
possui 180 famlias cadastradas na Associao da Comunidade Negra Rural
Adelaide Maria Trindade Batista. No Regimento interno da Associao esto
estabelecidos os seguintes objetivos:
Estimular a unio e organizao do(a)s Remanescentes de Quilombos,
trabalhadores(as) em geral e particularmente do(a)s rurais das
comunidades Negras da cidade de Palmas e regies vizinhas; Lutar pelos
direitos estabelecidos na constituio Federal e Estadual, legislao
vigente e especca s Comunidades Remanescentes de Quilombos,
inerentes ao cidado brasileiro e ao()s Remanescentes de Quilombos,
promovendo, incentivando ou patrocinando medidas que o(a)s
auxiliem e o(a)s beneciem, aprovando e representando os interesses
do(a)s associado(a)s perante os rgos pblicos e privados, judicial e
extra-judicialmente... (Estatuto Social da Associao da Comunidade
Negra Rural Adelaide Maria Trindade Batista, 19/03/2007).
No regimento encontramos mais onze objetivos que versam sobre a cultura
negra, apoio a projetos de colocao no mercado dos produtos resultantes do
trabalho dos associados, difuso de atividades educativas, culturais e cientcas
associadas ao grupo, sobre a constituio de parcerias com nalidade cultural,
ambiental e trabalho comunitrio, sobre processos educativos associados
educao formal e informal e aos aspectos scio-histricos do grupo.
Ao indicarmos brevemente os objetivos constantes no documento cabe
destacar que, medida que os sujeitos se organizam para reivindicar direitos,
ampliam a percepo da ao do grupo e apontam o desejo de articulao com
diferentes setores sociais. Tal constatao, a princpio, parece uma obviedade,
considerando que os grupos organizados, em sociedade democrtica, precisam
de dinmicas dialgicas de interao scio-poltica. No entanto, o que se
estabelece na municipalidade o movimento inverso, como podemos ver no
fragmento das entrevistas:
...Ser quilombola em Palmas um grande desao. A gente no tem
grande aceitao. Eles sem entender j julgam errado. Muitos dizem
que no teve escravos aqui...
...Tem racismo, tem racismo contra o quilombola. Dizem que vamos
sair e tomar a terra. Tomar a terra dos outros...
Tem diculdade, aqui um bairro afastado, tem vandalismo. No
Parte II | A questo quilombola Palmas
121
porque somos quilombolas que no vai ter problemas...
Dos fragmentos podemos depreender trs ideias centrais: primeiro, a questo
da legitimidade. Ainda que o grupo tenha a certicao desde 2007, parece que
a identidade tnica ainda questionada. Para alguns moradores do municpio,
os indicativos histricos, as narrativas dos moradores no so sucientes para
dirimir a imagem fractal dominante na cidade; segundo, a xao do racismo que
determina at onde o grupo pode ir. Neste contexto, a ideia de reivindicao de
direito lembra o que armou Fanon, ainda que se referindo a outra espacialidade:
O problema no mais conhecer o mundo, mas transform-lo. Este um problema
terrvel em nossa vida. Falar estar em condies de empregar uma certa sintaxe,
possuir a morfologia de tal ou qual lngua, mas sobretudo assumir uma cultura,
suportar o peso de uma civilizao (2008: 33). Vemos que de alguma forma a
entrevistada expressa pela repetio da sentena tem racismo, tem racismo
essa dupla inscrio: negro, negro quilombola. As armaes indicam que, ao
negar que houve escravos na localidade, alguns moradores da cidade decidem
no ver as marcas objetivas dessa presena (narrativas dos sujeitos, imagens,
construes arquitetnicas...).
Assim, as rasuras que estabelecem em relao ao negro escravizado
no municpio ampliam-se quando se referem nova identidade quilombola
(nova para os sujeitos de direito e nova para os moradores da localidade).
Na construo dessa argumentao, a reivindicao de terras por parte dos
quilombolas aparece, no discurso local, como o excesso, uma vez que se nega
o transcurso histrico de constituio do grupo. No terceiro trecho citado,
por sua vez, parece que a partir deste fragmento a entrevistada negocia com
uma noo em circulao na localidade: quilombo como lugar do idlico, sem
problemas. Quando arma que a identidade quilombola no os isenta das
divergncias internas.
Ao olharmos o conjunto dos fragmentos percebe-se, nas falas da
entrevistada, processo de recongurao do discurso identitrio relacionado
inscrio como sujeito de direitos.
Sobre esta questo, Hall estabelece questionamentos que julgamos
oportunos: Onde est, pois, a necessidade de mais uma discusso sobre
identidade? Quem precisa dela? (2000: 103). O autor encaminha a discusso
pontuando duas ideias principais. Primeira, postula a explorao de um
pensamento que opera entre inverso e emergncia. O que signica dizer
que no possvel pensar o conceito de forma vicria, tampouco abandonar
noes centrais que eram usadas para discutir a temtica. No entanto, na
explorao do segundo indicativo de resposta oferecido pelo autor que repousa
a potencialidade para a discusso em relao ao grupo pesquisado. Ao armar
que a identidade tem centralidade para a questo da agncia e da poltica
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
122
(Hall, 2000: 104). Nesse contexto, apresenta discusso central para grupos que
estejam associando processo de identicao aos direitos sociais. Com efeito,
a poltica de identidades tenta captar os aspectos mutveis e mutantes nos
quais o conceito tensionado. O autor chama ateno para o signicado da
identicao, entendendo que :
Um processo de articulao, uma suturao, uma sobredeterminao
e no uma subsuno. H sempre demasiado ou muito pouco uma
sobredeterminao ou uma falta, mas nunca um ajuste completo,
uma totalidade. Como todas as prticas de signicao, ela est
sujeita ao jogo da diference. Ela obedece lgica do mais-que-um.
E uma vez que, como num processo, a identicao opera por meio
da diference, ela envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a
marcao de fronteiras simblicas, a produo de efeitos fronteira.
Para consolidar o processo, ela requer aquilo que deixado de fora
o exterior que a constitui (Hall, 2000: 106).
Ao considerarmos a identicao, trazemos cena o jogo de ambiguidade
que parece cingir os movimentos vividos no grupo estudado. Sobre essa
questo, uma entrevistada assim se manifesta:
Quando falava aqui vai ser um quilombo a gente no sabia o que era.
A gente pensava que no queria que voltasse o tempo da escravido.
A gente demorou para entender, mas a gente procura estudar em
outras comunidades de quilombos como funciona (Entrevista 2012).
A entrevista indica que o processo de identicao se constitui por meio
de uma ambiguidade: de um lado, sustenta a falta de intimidade com a
denominao quilombola e a necessidade de substanciar o termo encontrando
proximidade com suas vivncias cotidianas; de outro lado, indica que a
recongurao se estabelece em relao com os de fora, sejam outros grupos
quilombolas, sejam outros grupos tnicos que ocupam espaos contguos.
A questo que se apresenta : como o espao em que essa populao
circula? Encontramos a seguinte descrio da parte central da localidade.
A estradinha (rua Arnaldo Busato) coberta de paraleleppedos
irregulares. Ladeando o percurso, temos casas, algumas de alvenaria,
a maioria de madeira, a Igreja Evanglica, a Escola Tia Dalva
7
.
7
No Bairro existem duas escolas pblicas municipais: Escola Municipal Tia Dalva Educao
Infantil e Ensino Fundamental, e Escola Municipal de Ensino Fundamental So Sebastio.
Parte II | A questo quilombola Palmas
123
Ao percorrer a rua, se andarmos trezentos metros, vemos o Posto
de Sade
8
e, trinta metros frente, a Igreja de So Sebastio e o
pavilho do Centro Comunitrio no qual so realizadas as tradicionais
festas no ms de janeiro
9
. Passando a Escola Municipal So Sebastio
a rua torna-se ngreme. Caminhando-se mais uns trezentos metros,
h, novamente, uma grande aglomerao de casas. Da rua central,
em direo direita, partem pequenas vias de formato irregular,
cobertas com pedregulhos, que como artrias, fendem-se em mltiplas
direes de forma inextricvel. Identicamos trs reas: a primeira, de
povoamento recente, ocupado por famlias de operrios que compraram
terrenos em zona de baixo valor imobilirio; a segunda, rea central
do bairro, ocupado por famlias negras, hoje tradicionais moradores,
espao no qual est situada a Igreja de So Sebastio; a terceira,
zona recentemente habitada, como resultado de uma poltica pblica
municipal que deslocou moradores de outras reas empobrecidas da
cidade, xando-as no Bairro (Marques, 2008: 49).
A descrio sucinta da parte central do bairro foi escrita antes que o bairro
de So Sebastio fosse identicado como comunidade quilombola. No entanto,
a distribuio da populao e a ocupao dos espaos urbanos permanecem
10
.
No ano de 2007 os moradores da comunidade remanescente quilombola
Trindade Batista receberam da Fundao Cultural Palmares a certido de
autorreconhecimento. O documento:
CERTIFICA que a Comunidade Adelaide Maria Trindade Batista,
localizada no Municpio de Palmas, Estado do Paran, registrada no
Livro de Cadastro Geral n. 10, registro n. 954, . 19, nos termos do
Decreto supramencionado e da Portaria interna da FCP n. 6 de 01 de
maro de 2004, publicada no Dirio Ocial da Unio n. 43, de 04 de
maro de 2004, Seo 1, f. 07, REMANESCENTE DAS COMUNIDADES
DE QUILOMBO (Certido de autorreconhecimento da comunidade
quilombola Adelaide Maria Trindade Batista).
8
Posto de Sade Pedro Mendes, atendido por um mdico e duas auxiliares de enfermagem.
9
So Sebastio considerado o protetor do bairro. O dia do santo 20 de janeiro. A festa tem
o objetivo de prestar homenagens, agradecer e pedir ajuda ao santo padroeiro.
10
Convm salientar que neste perodo a comunidade quilombola teve a produo de dois laudos
antropolgicos. O primeiro, no foi aceito pela comunidade justamente porque no considerava
as narrativas dos moradores e indicava, de forma equivocada, a rea que deveria ser delimitada
para a comunidade. O segundo laudo, aceito e aprovado pelo grupo em reunio em dezembro de
2012, no est disponvel para consulta.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
124
A certicao foi recebida na comunidade com regozijo e um sentimento de
positividade em relao ao pertencimento tnico associado s possibilidades
de acesso garantia de direitos sociais e territoriais. Para compreender o novo
lugar ocupado, trazemos como exemplo uma situao de pesquisa anterior. No
ano de 2005, orientamos um trabalho monogrco
11
que tinha como objetivo
compreender as representaes sobre a localidade. Foram realizadas entrevistas
com os moradores e no moradores do bairro. Naquele momento, solicitou-
se que as pessoas denissem o bairro em uma palavra. Entre os moradores
do bairro as palavras escolhidas foram: maravilhoso, lindo, bom, vida, luta,
sofrido, lutador, pobre, trabalhador, educado, humilde, unidos, alegre, bom
de morar, limpo, afastado, bonito, seguro. Os no moradores selecionaram
palavras como: carente, habitvel, pobreza, sujeira, marginal, sofrido, f,
pobre, misria, violncia, isolado, mal estruturado, esquecido, mal localizado.
Evidentemente que um conjunto de palavras no suciente para
determinar a forma como o grupo era visto na municipalidade. No entanto, h
fortes indicativos de que dominava a representao de que o grupo ocupava
um lugar de precariedade econmica, poltica e cultural. Tais questes fazem
ver o signicado simblico da certicao para o imaginrio do grupo e dos
demais moradores da cidade, pois revolve as diferentes representaes da
comunidade em circulao no municpio e reapresenta o grupo em outro lugar
social: sujeitos que podem reivindicar direitos. Dessa forma, percebe-se que o
processo de produo de representaes implica uma relao ambgua entre
ausncia e presena (...) a presenticao de um ausente, que dado a ver
segundo uma imagem mental ou material (...) com uma atribuio de sentido
(Pesavento, 1995: 298). Assim, o processo de certicao, de acordo com as
entrevistas coletadas, parte de uma poltica de identidade que auxilia na
compreenso de si, situando-o como sujeito que partilha com outros grupos
remanescentes de quilombo um lugar social que permite reconguraes
identitrias e reivindicao de direitos sociais.
Em entrevistas percebe-se a tentativa dos sujeitos de atribuir signicados
ao termo quilombola, uma vez que a identicao com esta denominao
recente. Em relao a este processo, ouvimos quando eu me descobri como
quilombola, a gente teve o reconhecimento da Fundao Palmares, a gente
entrou de cabea. Ser quilombola valioso, posso trazer atravs dessa auto-
armao o meu reconhecimento (Entrevista agosto de 2012). Como podemos
ver, a entrevistada estabelece relao direta entre reconhecimento e direitos
sociais. Foi a partir da inscrio na Fundao Cultural Palmares e das dinmicas
11
Choaste, Adriana. As representaes sobre o negro no Municpio de Palmas: o caso do
Bairro So Sebastio ou Rocio dos Pretos. TCC do curso de especializao em Movimentos
Sociais e Desenvolvimento Sustentvel. Universidade Estadual do Oeste do Paran, Francisco
Beltro: 2005.
Parte II | A questo quilombola Palmas
125
de organizao para este processo que a nova identidade comea a ser
assumida. Tambm Schmitt, Turatti e Carvalho chamam ateno ao processo,
quando armam que a identidade quilombola, at ento um corpo estranho
para estas comunidades rurais negras, passa a signicar uma complexa arma
nesta batalha desigual pela sobrevivncia material e simblica (2002: 5).
Assim, ainda que possamos demarcar a exterioridade do conceito,
recente entre o grupo estudado, h que assinalar a interioridade das vivncias
histricas e prticas culturais. Dessa forma, ainda que os sujeitos estejam em
processo de construo da intimidade, com a denominao percebem que, nas
prticas cotidianas que mobilizam e nas suas respectivas narrativas, as formas
de conferir sentido aos novos contextos se desenham.
Outra entrevista corrobora a anterior quando arma ser quilombola em
Palmas um grande desao. A gente no tem muita aceitao, uma pela
questo territorial, todos acham que vamos tomar terras de outras pessoas.
Ser quilombola desaador (Entrevista em junho de 2012). Na fala podemos
perceber que a possibilidade de acesso a terra intensica a tenso no municpio,
de outro lado amplia a participao poltica do grupo, como podemos perceber
na notcia
12
:
No ms de abril, Silva e Maria Arlete Ferreira da Silva, da comunidade
Adelaide Maria Trindade Batista estiveram em Braslia, onde
aproximadamente 500 quilombolas travaram quatro dias de luta,
participando de reunies e denindo correes nas mudanas que a
AGU tinha feito. Quinze advogados favorveis s causas quilombolas
acompanharam a consulta que se fez necessria ser aberta as
comunidades, devido a presso das entidades representativas.
Silva relata que foram separados por grupos regionais, como o
Sul, englobando quilombolas do Paran, Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. As discusses, com a presena de dois advogados em cada
grupo, trataram de detalhes como termos utilizados, por exemplo, a
substituio de terras por territrios (Mazaloti, 2008).
A publicao, de alguma forma, indica que a recongurao de identidade
dos quilombolas em Palmas produz certa movimentao regional. O Sudoeste
do Paran, que se via como constitudo, dominantemente, por eurodescentes,
desestabilizado por outras narrativas de constituio e histria regional. Sobre
esta temtica, ainda que se referindo a outro grupo tnico, Langer arma:
12
Publicado em 5/05/2008, no blog Cotidiano popular, que discute notcias regionais http://
cotidianopopular.blogspot.com.br/. Acesso em dez de 2012.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
126
No Sudoeste do Paran, o pioneiro cumpriu essa misso contra a
natureza (sobretudo a oresta de araucrias, hoje praticamente
extinta), e os grupos que nela se escondem, para gerar a riqueza,
premissa tida como inevitvel e universal. Axiomas como fertilidade
do solo, produtividade, lucro e progresso legitimam qualquer forma de
aniquilamento ecolgico e antropolgico (ecossistemas e alteridades
tnicas). Outro axioma (...) a terra, enquanto propriedade privada,
como mais um objeto entre tantos outros da economia de
mercado. Os ndios e caboclos sempre ocuparam terras de ningum,
pois no possuam ttulos de propriedade particular. A partir dessa
mxima negada a possibilidade do direito terra a quem no a
explora de acordo com o padro mercadolgico (2010: 35).
O texto refere-se s representaes sobre o ndio e o caboclo na regio
Sudoeste do Paran. No entanto, podemos armar que h similaridade com
o lugar ocupado por populaes negras ou grupos de origem afro-brasileira.
Isso porque, ao buscarmos referncias sobre a histria de Palmas (Nazaro,
1999; Marcondes, 1977; Bauer, 2002), encontramos poucas informaes sobre
o Bairro de So Sebastio, ainda que este fosse o mais antigo do municpio.
No h dvidas de que quando o grupo assume a identidade quilombola e
quebra a barreira da invisibilidade, a cidade forada a tomar conhecimento
de sua existncia, mesmo que seja para questionar suas reivindicaes de
direitos.
Sobre essa questo expressivo o que apresenta Hoffman (2012) quando
discute sobre conitos vividos pela comunidade Monoel Criaco dos Santos: de
um lado, o grupo experimentou ameaas constantes a sua integridade fsica
e psicolgica. De outro, no momento de produo do laudo antropolgico,
o grupo viveu a intensicao das tenses e a expectativa da produo de
um documento que legitimasse as reivindicaes tnicas e territoriais. No
entanto, o relatrio, de forma equivocada
13
, descaracteriza os movimentos
empreendidos pelos quilombolas e aponta negativamente em relao aos seus
direitos territoriais. De acordo com Hoffmann:
Ocorre que em dezembro de 2010 convnio com a Unioeste
foi interrompido em razo do laudo antropolgico feito pelos
antroplogos da universidade, pois segundo o INCRA no atendeu s
solicitaes, sendo este laudo negativo a demarcao e a titulao
da comunidade como remanescente de quilombo (2012: 77).
13
O relatrio foi produzido pela Universidade Estadual do Oeste do Paran sob a coordenao do
antroplogo Antonio Pontes Filho.
Parte II | A questo quilombola Palmas
127
Em sentido prtico, as indicaes constantes no documento potencializaram
os conitos que j se desenhavam e promoveram manifestaes de
descontentamento entre setores pblicos como INCRA, Fundao Cultural
Palmares, associaes cientcas, etc. Apresentamos o debate sobre a
comunidade Manoel Criaco dos Santos de um modo puramente ilustrativo, uma
vez que a mesma dinmica aconteceu em relao ao laudo antropolgico da
comunidade quilombola Adelaide Maria Trindade Batista em Palmas
14
. Tambm
este grupo foi impactado pelo resultado negativo do trabalho. No entanto, so
interessantes as aes empreendidas pela comunidade que recusa o relatrio.
Sobre esta questo interessante a manifestao de Eliane Cantarino ODwyer
que, em entrevista
15
, arma que:
O INCRA fez um convnio com uma universidade do Paran, que foi
fazer um relatrio e o relatrio virou contra laudo (...) Disse que
ali no havia territrio quilombola. Que ali no havia quilombolas
por que era igual aos seus vizinhos. Achando que h uma diferena
cultural que faz toda a diferena, que possibilita chamar algum
de quilombola por causa dessa diferena (...) eles impuseram uma
traduo etnogrca sobre o grupo e o prprio INCRA no quis
receber o trabalho (Transcrio da entrevista de Eliane Cantarino
ODwyer encontrada em CGA - www.cgantropologia.org.ar).
O depoimento da pesquisadora mostra que o prossional no pode, no ato
de produo de seu trabalho, impedir acesso aos direitos sociais dos grupos
estudados
16
, arma que a interao com os grupos pesquisados condio
para o bom desenvolvimento do trabalho etnogrco.
A experincia mostrou tambm o grau de organizao do grupo que,
imediatamente, mobiliza um conjunto de aes com vista a garantir os
direitos sociais: discute as bases cientcas do trabalho. Uma entrevistada
assim se manifesta: eles no nos entrevistaram, no conversavam com
a gente. A gente sabia que eles estavam a, pelos outros. No queriam
saber o que a gente pensava (Maria Arlete Ferreira, lder tradicional na
comunidade). Tambm se mobilizam no sentido de provocar aes do
Ministrio Pblico que garantam o que est estabelecido na legislao.
Acionam rgos pblicos federais e estaduais no sentido de garantir a
14
A equipe que realizou o laudo antropolgico foi a mesma da comunidade Manoel Criaco dos
Santos.
15
A ntegra da entrevista est disponvel em CGA - www.cgantropologia.org.ar. Acesso em
10/03/2013.
16
De acordo com a entrevistada, o Cdigo de tica da Associao Brasileira de Antropologia diz
como o antroplogo deve atuar.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
128
produo de novo laudo antropolgico, que foi entregue comunidade em
dezembro de 2012.
Outra tenso vivida pelo grupo foi provocada pela transferncia da
comunidade indgena ngelo Cret, retirada do Parque Ambiental de Palmas
e alocada na rea quilombola. Tal movimento pode ser percebido quando
lemos a Ata da reunio que aconteceu no Ministrio Pblico Federal em 22 de
junho de 2011. Na reunio, o prefeito municipal de Palmas, Hilrio Hadrasko,
pontuou que foi buscar uma rea para alocar os indgenas a pedido do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justia de Proteo s comunidades
Indgenas
17
. Sobre o processo de transferncia dos indgenas:
O prefeito alegou que a escolha da rea foi precedida de uma
conversa com o Sr. Antonio P. Pontes Filho antroplogo da
Unioeste
18
responsvel pela coordenao do Laudo Antropolgico
em decorrncia do convnio com o INCRA. Relatou que na ocasio o
professor lhe mostrou no mapa da Comunidade quilombola Adelaide
Maria Trindade Batista que a rea indicada pela prefeitura estava
fora da rea quilombola (Ata da reunio realizada em 22/06/2011
no Ministrio Pblico do Estado do Paran no auditrio Ary Florncio
Guimares, Curitiba).
Como possvel perceber, o laudo antropolgico que no fora aceito
pela comunidade, ao que era conhecida da prefeitura municipal, foi
determinante para a escolha do lugar em que seria alocado o grupo indgena.
A partir das narrativas, emergem questionamentos: por que os quilombolas
no tinham sido ouvidos? Por que tomar um documento no aceito pela
comunidade como ponto de partida para as discusses? Por que a fala do
antroplogo foi determinante?
Essa coincidncia de alocao dos indgenas em territrio requerido
pelos quilombolas foi contestada na reunio:
Cludio Marques, do Servio de Regularizao de Territrios
Quilombolas da Superintendncia do INCRA no Paran, contestou
a fala do Senhor Prefeito, armando que a competncia para se
manifestar sobre o processo de titulao da comunidade do INCRA,
que o rgo federal competente para a titulao dos territrios
quilombolas, e no o antroplogo. Citou a instruo normativa
17
Ata da reunio realizada em 22/06/2011 no Ministrio Pblico do Estado do Paran, no
auditrio Ary Florncio Guimares.
18
Universidade Estadual do Oeste do Paran.
Parte II | A questo quilombola Palmas
129
57/2009 que regulamenta os procedimentos de titulao das terras
quilombolas com base no mandamento constitucional (Artigo 68
dos ADCT). Lembrou a realizao de uma reunio pblica realizada
no Municpio de Palmas sobre o incio do trabalho do INCRA na
comunidade em maio de 2009, ocasio em que as autoridades no
compareceram...
(...)
O Senhor prefeito rearmou no haver conversado em momento algum
com os quilombolas a respeito da localizao da rea, apenas com
o antroplogo. Disse estar preocupado com o fato de existirem trs
comunidades quilombolas no municpio que passaro a ter autonomia
sobre as suas terras, ocupando grande poro do territrio municipal.
(...)
Dra. Dora Lcia, Procuradora Geral da Fundao Palmares, pontuou a
necessidade de garantir a presuno de direito ao territrio de toda
a rea quilombola, tendo sido um grave equvoco a doao, postura
que dever ser revista. Posicionou-se pela equiparao dos direitos
quilombolas e indgenas e armou que a comunidade quilombola no
poder ser onerada... (Ata da reunio realizada em 22/06/2011 no
Ministrio Pblico do Estado do Paran no auditrio Ary Florncio
Guimares, Curitiba).
As narrativas indicam que o conito entre dois grupos tradicionais se
estruturam em cenrio complexo, que justape direitos sociais de indgenas e
quilombolas e da mesma forma amplia as dissenses entre os grupos, abrindo
nova frente de embate entre atores sociais que, historicamente, no colidiam.
No primeiro fragmento j se desenha certa distncia entre a administrao
municipal e o grupo quilombola quando, no momento das primeiras reunies
relacionadas ao processo de regularizao das terras quilombolas, no contam
com a presena dos representantes municipais. Do segundo fragmento podemos
depreender que a preocupao da municipalidade est associada presena
no local de trs comunidades remanescentes de quilombo, e a possibilidade
de acesso a terra desses grupos como um problema que se desenha para a
administrao municipal. interessante que os direitos sociais dos grupos no
causam a mesma preocupao, visto que no so chamados em processos sobre
a ocupao das terras que reivindicam. O terceiro fragmento chama ateno
para a importncia de que se considerem as necessidades dos dois grupos, sem
onerar direitos dos coletivos constitudos.
Tal discusso ganha espao na imprensa local e regional, como vemos na
sequncia:
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
130
Eu estou vendo como um desrespeito com a nossa comunidade, com
a nossa gente. Por que toda a vida, desde 1839 quando chegaram
nossos antepassados eles j habitavam ali, a comunidade do rocio
como dizem [...] Toda a vida ns vivemos e preservamos at hoje.
Mas como agora os ndios da Aldeia Cret, eles colocaram em dois
jornais que eles ganharam do executivo municipal aquele terreno ali.
Agora a nossa palavra contra a do prefeito. Fizemos uma reunio
com o prefeito e ele falou que colocou os ndios naquela rea porque
no tinha onde colocar (...) E que o antroplogo falou para ele que
aquela rea no pertencia comunidade, ento pertence a quem?
Se dentro da comunidade pertence a quem? (Maria Arlete Ferreira,
Entrevista
19
ao Portal RBJ, 24/05/2011).
Eu analiso que ns somos uma comunidade reconhecida desde os
primeiros chegaram aqui em 1835, 1836, 1839 (...) ento a gente
conhece cada rvore, cada canto, cada carreiro ali (...) ento a
gente conhece de tudo (Alcione Ferreira, presidente da associao
quilombola em entrevista
20
ao Portal RBJ, 24/05/2011).
A gente cidado como qualquer um (...) a gente vem contestar o
debate que tem na cidade. A gente no invadiu terreno nenhum. A
gente levou dois dias para fazer nossa mudana. O terreno foi doado
pelo prefeito no dia 2 de maio (2011). Se ns estamos ocupando o
terreno palmense porque somos de Palmas... (Entrevista de Joo
dos Santos, Cacique Aldeia Angelo Cret ao Portal RBJ, 25/05/2011).
Existe uma indisposio, um mal estar (...) ter duas etnias num
espao s com culturas diferentes ca meio complicado. Mas no
temos nada de guerra, at jogamos futebol com os ndios. Mas o que
a gente espera justia... (Alcione Ferreira, Presidente da associao
quilombola em entrevista ao Portal RBJ, 20/06/2012).
As entrevistas indicam que quilombolas e indgenas, desde 2011 at o
momento, vivem situao que coloca sob rasura os direitos sociais dos dois
grupos. Percebe-se que, de alguma forma, o poder pblico municipal foi ativo
no processo de produo de uma conjuntura que manifesta um conito, a partir
do qual novas conguraes identitrias so assumidas pelos dois grupos para
19
A entrevista pode ser acompanhada na ntegra no Portal RBJ no site http://portalrbj.com.br/
noticia. Acesso em 20/02/2013.
20
A entrevista pode ser acompanhada na ntegra no Portal RBJ no site http://portalrbj.com.br/
noticia. Acesso em 20/02/2013.
Parte II | A questo quilombola Palmas
131
comprovar a legitimidade do lugar que ocupam.
A festa de So Sebastio tambm mobilizada nos momentos de armao
tnica e da identidade quilombola, como na fala na festa de So Sebastio
toda a famlia participava, a gente fazia isso com a famlia: organizavam o
que precisava para a festa, quando tinha alguma coisa eles conversavam,
era como ia se formando as ideias.... Na fala da entrevistada percebemos
a insistncia em sedimentar a ideia de que tudo era decidido no conjunto,
que as deliberaes sobre as dinmicas da festa eram decises coletivas que
determinavam o xito do que fora planejado. Ao rememorarmos os momentos da
festa, percebemos que so muitas as cenas que se repetem ao longo dos anos.
Assim, novas narrativas das formas de sociao so assumidas, transgurando-
se em narrativas de identidade, associadas representao e voz:
Narrativas revelam o alinhamento dos narradores com certos
indivduos, grupos, ideias e smbolos atravs dos quais eles
externalizam seus maiores valores, qualidades positivas e de orgulho
para si mesmos. Esta articulao de identidade de voz sobretudo
tornou-se compreensvel como um lcus da dignidade humana, tal
como a razo era o lcus da dignidade para o iluminismo; ns podemos
agora denir uma pessoa como algum que narra. Consequentemente,
negar a uma pessoa a possibilidade de narrar sua prpria experincia
como negar sua dignidade humana (Errante, 2000: 142).
Dessa forma, quando so chamados a identicarem-se, os sujeitos geram
narrativas sobre seu transcurso histrico e prticas culturais. Ao dar assento
s formas como se organizavam para a organizao da festa, a entrevistada
demonstra a preocupao com a continuidade e rearma a ideia da festa de
So Sebastio como ao coletiva que auxilia a manter o vnculo societal.
Assim descrevemos, em texto anterior, o que acontecia:
No momento da festa, parece que reproduz um processo de engolio:
da msica alta que invade os ouvidos, da emanao voltil do aroma
de alimentos que esto venda, da quantidade de bebidas em oferta...
num viver a festa para os sentidos. Depois do almoo, comea o
baile. No pequeno salo, os corpos em movimento sorvem o esprito
festivo: corpos prximos, suados em ritmo ditado pelo tringulo e
pela gaita. O clima sufocante, o salo pequeno, e as poucas
janelas localizadas no alto no ajudam a resfriar o local. Assim, h
uma densidade olfativa. Tudo viscoso, os movimentos, a msica, os
corpos... Para-se o baile, anuncia-se quem ganhou a rifa de um bolo.
Os aplausos quebram o silncio que fora feito para ouvir o nome do
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
132
vitorioso. A msica recomea. O som estrepitoso domina o ambiente.
O ritmo da msica frentico, os corpos balanam quase sem querer,
parece que as mos e os ps adquirem autonomia e querem se deixar
levar pelo movimento. Para conversar preciso estar muito prximo,
s essa posio garante a audio do que est sendo dito: tudo
proximidade. volta do salo formam-se camadas de assistentes:
aqueles que no tm par e observam, os que se movimentam no
ritmo da msica e insinuam desejo de serem convidados para se
entregarem ao som, som que convida o corpo a esquecer-se de sua
prpria densidade e torna-se movimento, entrega. Entre os corpos
que danam no h regulao de movimentos marcados. H, sim, um
deixar-se levar anrquico e sedutor. So trs horas da tarde, o calor
intenso e aqueles corpos bailam, se aproximam, afastam, vivem
a festa, so a festa... A festa enseja redobramento: de um lado,
a exaltao de viver o presente que se oferece como intensidade;
de outro, h uma lembrana depositada no corpo - de que aquele
estado de excitao no pode ser permanente, ele constitui-se como
do domnio do extraordinrio (mas h sempre a margem do ordinrio
tangenciando esse sentimento) (Marques, 2008: 160).
O fragmento faz aluso festa de So Sebastio realizada todos os anos
no dia 20 de janeiro. A realizao da festa marcada por dois momentos:
primeiro, um ato regioso no qual o padre reza a missa, tambm realizada
uma procisso na qual moradores da comunidade e demais moradores do
municpio participam. No segundo momento, vm os festejos que, associados
ao usufruir do alimento, aproveitar a msica, danar, e colocar em movimento
um conjunto de disposies, fazem da festa um lugar de encontro marcado no
calendrio da vida coletiva do lugar.
Se a festa necessita ser (re)encenada porque o tempo, senhor do
esquecimento, no para de passar. Ento, mais do que trazer imagens do passado,
importante construir o presente. Ao presenticar as aes relacionadas festa
de So Sebastio, se garante a continuidade e, de alguma forma, se adia o
esquecimento. Neste contexto, o presente que chama o passado, as narrativas
atualizam as memrias, mas a (re)encenao da vida comunitria promovida
anualmente pela festa vitaliza a identidade local porque coliga as narrativas
e, desse modo, fecunda as lembranas. Sobre esta questo interessante a
armao na festa de So Sebastio toda a famlia participava (...) organizavam
a festa em famlia, mas a gente sabe que as antigas faziam isso. Elas se reuniam,
conversavam. Eles se reuniam e organizavam. A gente continua forte, a gente
conseguiu, o quilombola e os que so na diretoria so tudo parente (...) (Maria
Arlete Ferreira, 2012). A entrevistada busca, na nova forma de identicao
Parte II | A questo quilombola Palmas
133
ser quilombola , as maneiras organizativas que mobilizaram em outros
tempos para a sistematizao do trabalho associado festa.
A festa de So Sebastio rene prticas e aes cotidianas que formam
um conjunto de disposies que permitem ao sujeito e ao grupo armar-se
como um coletivo. O que se observa em relao festa na comunidade o
que arma Perez quando diz que como forma ldica de sociao e como um
fenmeno gerador de imagens multiformes da vida coletiva, buscando mostrar
como o vnculo social pode ser gerado a partir da poetizao e da estetizao
da experincia humana em sociedade (2003: 2). Assim, festa e cotidiano,
identicao e reivindicaes sociais e territoriais so ativos no processo de
recongurao da identidade para a garantia de direitos.
Referncias bibliogrcas
BAUER, Jos de Arajo. Reminiscncias: histria de Palmas, Palmas: Kaigang, 2002.
BAUER, Martim W., GASKEL, traduo de Pedrinho A. Guareschi. Pesquisa qualitativa
com Texto, imagem e som: um manual prtico, Petrpolis: Vozes, 2002.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
CALVINO, Italo. A palavra escrita e a no-escrita. In AMADO, Janaina, FERREIRA,Marieta
de Moraes. Usos e abusos da histria oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
CERTEAU, Michel de, GIARD, Luce, MAYOL, Pierre. A inveno do cotidiano 2: morar
e cozinhar. Petrpolis, RJ: Vozes, 1996.
CERTEAU, Michel de. A escrita da histria. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2000.
CERTEAU, Michel de. A inveno do cotidiano: artes de fazer Petrpolis, RJ: Vozes,
1994.
CHOASTE, Adriana. As representaes sobre o negro no Municpio de Palmas: o caso
do Bairro So Sebastio ou Rocio dos Pretos. TCC do Curso de especializao em
Movimentos sociais e Desenvolvimento sustentvel. Universidade Estadual do Oeste
do Paran, Francisco Beltro: 2005.
Entrevista de Eliane Cantarino ODwyer encontrada em CGA, www.cgantropologia.org.
ar. Acesso 10/03/2013.
ERRANTE, Antoinette. Mas Anal, A Memria de Quem? Histrias Orais e Modos de
Lembrar e Contar. In: Histria da educao. Pelotas (8):141-174, set.
FANON, Frantz. Pele negra, mscaras brancas, traduo de Renato da Silveira.
Salvador: EDUFBA, 2008.
HALL, Stuart, Identidade cultural na ps-modernidade. Traduo Tomaz Tadeu da
Silva, Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
JOVCHELOVITCH, Sandra, BAUER, Martim W. Entrevista Narrativa. In BAUER, Martim
W., GASKEL, traduo de Pedrinho A. Guareschi. Pesquisa qualitativa com texto,
imagem e som: um manual prtico, Petrpolis: Vozes, 2002.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
134
LANGER, Paulo Protsio. Smbolos e discursos acadmicos na construo de uma
identidade eurocntrica: o encobrimento dos indgenas e caboclos. In LANGER,
Paulo Protsio et al. Sudoeste do Paran: diversidade e ocupao territorial,
Dourados: Editora da UFGD, 2010.
MARCONDES, Herverzita Fortes. Educao Hoje, Vol. 3, p. 1-95, 1977.
MARQUES, Snia Maria dos Santos. Pedagogia do estar junto: ticas e estticas no
Bairro de So Sebastio do Rocio Dorneles. Tese (Doutorado) Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educao. Programa de Ps-Graduao em
Educao, Porto Alegre, 2008.
MOURA, Glria. A fora dos tambores: a festa nos quilombos contemporneos In
SCHWARCZ, Lilia Moritz, REIS, Letcia Vidor de Souza (Org), So Paulo: Editora
Universidade de So Paulo, 1996.
NAZARO, Lucy Salete Bortolini, Palmas, Uma histria de f, luta e garra de um povo,
Palmas: Kaigang, 1999.
PEREZ, Lea Freitas. Dionsio nos trpicos: festa religiosa e barroquizao do mundo por
uma antropologia das efervescncias coletivas. In: Mauro Passos (Org). A festa na
vida, signicados e imagens, Petrpolis: Vozes, 2002.
PESAVENTO, Jatahy Sandra. Muito alm do espao: por uma histria cultural do urbano.
In: Estudos histricos, Rio de Janeiro, vol 8, n. 16, 1995. P. 279-290.
Portal RBJ no site http://portalrbj.com.br/noticia. Acesso 20/02/2013.
SCHMITT, Alessandra, TURATTI, Maria Ceclia Manzoli, CARVALHO, Maria Celina Pereira
de. A atualizao do conceito de quilombo. In: Ambiente & Sociedade - Ano V N
10- 1 Semestre de 2002.
SCHMITT, Alessandra, TURATTI, Maria Ceclia Manzoli, CARVALHO, Maria Celina Pereira
de. A atualizao do conceito de quilombo: identidade e territrio nas denies
tericas. Ambiente & Sociedade - Ano V No 10 1 Semestre de 2002 .
WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferena: uma introduo terica e conceitual. In
SILVA, Tomas Tadeu da (Org). Identidade e diferena: a perspectiva dos estudos
culturais. Petrpolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
Documentos:
Ata da reunio realizada em 22/06/2011 no Ministrio pblico do Estado do Paran no
auditrio Ary Florncio Guimares, Curitiba.
Certido de autorreconhecimento da Comunidade quilombola Adelaide Maria Trindade
Batista.
Estatuto Social da Associao da Comunidade Negra Rural Adelaide Maria Trindade
Batista, 19/03/2007.
Parte III
Comunidades tradicionais,
capitalismo e conitos
agrrios Pinho
6. Contextualizao: breve histrico sobre Pinho/PR
Liliana Porto e Dibe Ayoub
7. Os posseiros do Pinho conitos e resistncias
frente indstria madeireira
Dibe Ayoub
8. Memrias de um mundo rstico: narrativas e
silncios sobre o passado em Pinho/PR
Liliana Porto
9. Joo Jos Zattar S.A.: disputas sociais,
legitimidade, legalidade
Jefferson de Oliveira Salles
10. Desenvolvimento, capitalismo e comunidades
tradicionais: reexes em torno da Zattar e dos
faxinalenses
Paulo Renato Arajo Dias
137
Captulo 6
Contextualizao: breve histrico
sobre Pinho/PR
Liliana Porto
1
Dibe Ayoub
2
O
municpio de Pinho possui um conjunto de caractersticas especialmente
signicativo para se pensar os processos de ocupao territorial no
Paran, pois articula vrios dos movimentos de expanso do povoamento
ocial do interior do estado com a presena de uma populao tradicional
signicativa. Situado na divisa dos Campos de Guarapuava com as regies de
oresta mista de araucria que ocupam o Centro-Sul do estado (os denominados
faxinais no sentido ambiental), teve as primeiras aes ociais de ocupao
portuguesa ainda no perodo colonial, em ns do sculo XVIII. Foi em rea de
fronteira dos atuais municpios de Pinho, Guarapuava e Foz do Jordo (o Porto
do Pinho no Rio Jordo) que Affonso Botelho de Sampaio, em 1771, escreveu
Descoberta dos Campos de Guarapuava, sendo tambm a rezada a primeira
missa na regio. A partir de ento, os Campos de Guarapuava se constituram
como rota alternativa em relao aos Campos Gerais, articulando-se ao
processo mais amplo do tropeirismo no sul do pas. Tambm se estabeleceram,
na regio, vrias fazendas, que inicialmente se dedicavam pecuria e, mais
recentemente, produo em larga escala de gros, segundo o modelo do
agronegcio. Posteriormente, a presena de ervais nativos levou a que a regio
se inserisse no ciclo da erva-mate e, em seguida, no ciclo madeireiro, atravs
da extrao principalmente de pinheiros e imbuias de suas matas at que
a atividade fosse ocialmente limitada por leis ambientais, sendo ambas as
1
Doutora em Antropologia Social pela UnB e professora do Departamento de Antropologia da
UFPR. Realizando ps-doutorado no PPGAS/Museu Nacional/UFRJ. Autora dos livros A ameaa
do outro e Curitiba entra na roda.
2
Graduada em Cincias Sociais e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do
Paran. Cursa atualmente doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional/UFRJ.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
138
espcies includas na lista ocial de plantas brasileiras ameaadas de extino,
em 1992, pelo IBAMA. No entanto, a relao com vrios dos ciclos econmicos
signicativos no processo de expanso e consolidao do povoamento ocial no
Paran no resultou em uma modernizao e imposio de formas produtivas
capitalistas a uma parte do atual municpio de Pinho (especicamente a
rea das matas). Parcela signicativa do territrio municipal, nos dias de
hoje, ocupada por uma populao tradicional
3
que se constituiu ao longo,
principalmente, dos sculos XIX e XX.
As quatro sesmarias que iniciaram o processo de regulamentao pblica
do territrio, segundo Passos (1992) e Camargo (s.d.), foram distribudas
nas dcadas iniciais do sculo XIX, e abrangiam a regio dos campos
4
. Neste
mesmo perodo, ao abordar o processo de cristianizao dos ndios regionais,
Pe. Francisco das Chagas Lima (1842) conta serem vrios os grupos indgenas
na regio, sendo os Votores
5
, dentre os ndios aldeados, aqueles com maior
resistncia ao processo de catequizao e mais ariscos. Aps o relato de uma
srie de conitos, faz uma armao que aponta a existncia de ndios na
regio de Pinho, e das relaes conituosas entre estes e os colonizadores:
No anno de 1823 a horda inteira dos Votores (de 100 individuos,
mais ou menos) se apartou espontaneamente da alda para os sertes
da parte do Campo do Pinho, distncia de 12 leguas, levando
comsigo duas famlias dos Cames, j baptizados, aonde estiveram
incommunicaveis at 1827, em o qual voltaram. Neste tempo todos
os solteiros e casados tomaram novas esposas a torto e a direito,
continuando na vida irada, apezar de no ignorarem as instruces
que havia recebido do Missionario, que tanto os havia exhortado. As
suas occupaes eram a dana e a pesca.
A presena indgena surge, assim, em relatos ociais sobre a histria local,
como fonte de ameaas ao processo de colonizao no somente no que
se refere ao atual municpio de Pinho, mas a toda a rea dos Campos de
Guarapuava. A resistncia dos ndios regionais invaso e conquista de seus
3
A ideia de populaes tradicionais complexa e rene sob si diversidade signicativa de grupos
sociais. Seu uso aqui visa apontar dinmicas especcas da populao da zona rural de Pinho
que implicam em formas particulares de pensar o mundo e ser no mundo como se explicitar
nos captulos seguintes. Acrescente-se que o uso da noo no traz consigo uma concepo
romntica de tais grupos, cuja sociabilidade conituosa e marcada por uma agonstica prpria.
Alm disso, importante ressaltar a necessidade de reconhecer sua historicidade, rompendo
com uma perspectiva que tende a perceber a tradio a partir da referncia a uma origem,
interpretando mudanas com relao a esse modelo original sempre como perdas.
4
Segundo os mesmos autores, com o advento do Imprio, teria havido nova distribuio de
sesmarias, que passam a ser em nmero de nove.
5
Subgrupo dos Kaingang.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
139
territrios pelos colonizadores brancos, com um saldo de ataques e mortes
signicativo, adiou a ocupao ocial dos campos em quatro dcadas sendo
as primeiras expedies do incio da dcada de 1770, e s retornando os
colonizadores de forma mais sistemtica em 1809, com a expedio de Diogo
Pinto de Azevedo Portugal (cf. Macedo, 1995). A ameaa, contudo, no se
desfez, e ao abordar a vida dos moradores da Fortaleza Nossa Senhora do
Carmo, descendentes de um dos primeiros sesmeiros de Pinho, j no sculo
XIX, Camargo (s.d.) ressalta o risco constante de ataques indgenas, seu nmero
signicativo e a convivncia tensa entre ndios e colonizadores. Ao mesmo
tempo, abordando a rvore genealgica dessa famlia, ressalta a presena
de sangue indgena em sua composio tanto devido ao estupro de uma
lha do cacique Guairac por um colonizador quanto de casamento de outro
colonizador com a irm dela. Neste primeiro momento, podem-se identicar
as reas de campos como o foco da colonizao, e as matas como o lugar do
domnio indgena.
Aps o perodo inicial de colonizao, entretanto, os ndios passam a
ser desconsiderados nos relatos sobre o atual municpio de Pinho. Teriam
sido totalmente expropriados, desaparecido do territrio. Os ndios que
hoje se veem provm de municpios vizinhos. Estratgia importante para
tal desaparecimento a mobilizao da categoria de caboclo
6
. Com
esta categoria, h um esvaziamento das caractersticas socioculturais dos
grupos nativos da regio, e sua diluio em um universo mestio bastante
indenido. Embora alguns autores, como Pocai Filho (in Bonamigo et al.,
2011), identiquem-nos como o resultado da mestiagem provocada pela
violncia sexual de homens brancos contra mulheres ndias, no h clareza
com relao ao termo, que aparece em vrios autores como autoevidente. A
denio de Wachowicz aponta tal impreciso:
O caboclo no sudoeste no precisava ser necessariamente descendente
do ndio. Para ser classicado como caboclo, precisava ter sido
apenas criado no serto, ter hbitos e comportamentos de sertanejo.
6
Do ponto de vista estatstico, esta diluio se d a partir da categoria pardo e sua indenio
no contexto nacional (ou mesmo da categoria branco, pois algumas caractersticas indgenas
como cabelo liso e pele mais clara permitem a autodenio como branco em alguns contextos
e circunstncias). Assim, segundo o Censo Demogrco 2010, 38,48% dos 30.208 moradores se
deniam como pardos, enquanto apenas 3,57% como pretos, 0,24% como indgenas e 56,67%
como brancos. A mobilidade local entre a autodenio como brancos e como pardos se explicita
na comparao dos dados populacionais do municpio entre 1991 e 2010. Assim, segundo o Censo
Demogrco 1991, 81,91% da populao se deniam como brancos e apenas 15,99% como pardos
percentuais que se alteram signicativamente vinte anos depois, sem que tenha havido qualquer
movimento migratrio signicativo para justicar tal alterao (o desmembramento de Reserva
do Iguau no pode ser visto como causa dessas diferenas, pois a populao do municpio
desmembrado se declara como menos branca que Pinho). Em outras palavras, os habitantes de
Pinho passam a se perceber mais como no brancos ao longo das ltimas duas dcadas.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
140
como a gente diz, foi criado perto do serto, chama de caboclo.
Porm, o caboclo no podia ter pele clara, a ele se atribua uma cor
mais ou menos escura (1987b: 85).
O silncio em torno da presena indgena, bem como sua diluio na
categoria de caboclo, vincula-se a um aspecto importante da histria ocial
de Pinho: a nfase nas reas de campos, e uma invisibilizao das regies
das matas e de seus habitantes. Mesmo porque, como distrito de Guarapuava
at o ano de 1964, Pinho tem a histria de sua colonizao vinculada
do municpio vizinho. Durante o sculo XIX, os Campos de Guarapuava
consolidaram-se como importante ponto de passagem de tropeiros, que se
utilizavam das fazendas para a invernagem do gado que levavam at Sorocaba
(SP). O tropeirismo foi a atividade mais importante para a economia local
at o nal daquele sculo, quando entrou em crise. A ele se conjugavam as
atividades de criao de gado. No sculo XX, parte considervel dessas reas
passou a ser utilizada para a produo de gros, permanecendo congurada
como o espao das grandes fazendas da elite regional. Uma parcela dos campos
tambm foi ocupada por imigrantes alemes, que formaram as colnias do
distrito guarapuavano de Entre Rios, situado entre Guarapuava e Pinho. Em
1951, esses colonos fundaram a Cooperativa Agrria Mista Entre Rios, uma das
maiores do Paran, que trabalha com o plantio de soja, milho e cevada, e com
outras atividades agroindustriais. Em Pinho, atualmente, o milho e a soja
representam a maior parte da produo realizada nos campos.
Enquanto essas reas caracterizaram-se por um povoamento mais planejado,
por sua insero reconhecida na economia regional, e como um espao de
propriedade da elite, os territrios de orestas passaram por movimentos
de colonizao menos sistemticos, levados adiante pela conjugao da
populao nativa com aquela oriunda, principalmente, de diversos lugares do
Paran e dos estados do sul do pas mas tambm de outras regies da nao
e do exterior. Tal populao se dispersou entre os faxinais, a partir do sistema
de terras livres caracterstico da ocupao das matas mistas de araucria
que consistia na possibilidade do estabelecimento de controle sobre uma
rea do territrio a partir da construo da moradia, do estabelecimento
de uma frente a partir dela e da participao no criadouro comum, com a
denio simultnea de uma rea de lavoura especca. Em outras palavras,
at meados do sculo XX, em rea signicativa do atual municpio de Pinho,
era a posse consolidada atravs do trabalho o grande legitimador do direito
terra
7
. Embora no haja registros ociais sobre este processo, as histrias que
7
Algumas famlias, no entanto, possuam os ttulos de suas propriedades. Mas, por um lado,
sucessivos processos de herana no registrados, com a consequente fragmentao do territrio,
aliados ocupao por membros no pertencentes famlia, geraram um contingente relevante
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
141
circulam pelo municpio, em especial aquelas vinculadas s genealogias de
tradicionais famlias dessas comunidades, indicam que os faxinais pinhoenses
tiveram o incio do seu povoamento por no-ndios tambm no sculo XIX.
Pode-se armar, portanto, que o povoamento disperso conjugado baixa
densidade demogrca fez com que na primeira metade do sculo XX essas
reas permanecessem como fronteiras abertas a novos habitantes. H famlias
que narram histrias de imigrantes europeus isolados que l chegaram e se
casaram com gente da terra. Por outro lado, alm dos sujeitos que vieram
dos estados do sul e de outras partes do Paran em busca de um novo
lugar para se estabelecerem, h relatos de moradores cujos antepassados
so remanescentes de inmeras guerras, tanto especcas quanto genricas
como, por exemplo, a Guerra do Contestado ou a Revoluo Federalista
(1893-1895). Um caso de destaque o de uma das famlias mais antigas de
uma comunidade local, que teria fugido da Guerra do Contestado, seguindo de
trem at Curitiba, e posteriormente de cargueiro at Pinho. Nos relatos dos
membros desse grupo de parentes, descendentes de pessoas cuja trajetria
de participao em guerras inicia-se no perodo de proclamao da Repblica
e se prolonga at a Revoluo de 1930, as guerras se confundem, no sendo
compreendidas em suas particularidades. Nesse sentido, a vinda da famlia
para o municpio, e sua consolidao na rea onde at hoje permanecem como
posseiros, vinculada a um passado de conitos e de busca por um territrio
onde pudessem se estabelecer e viver em paz. H, ainda, vrios exemplos
de pessoas que possuem objetos vinculados s guerras ocorridas na regio
entre ns do sculo XIX e incio do XX. Seus descendentes permanecem com
espadas, uniformes e outras peas acionadas como memria desses eventos
blicos, marcados na memria pelo sofrimento.
Mas se a dinmica de povoamento das matas provoca um silncio da
histria ocial, esta a regio do municpio responsvel por uma segunda
atividade produtiva vinculada ao contexto mais amplo dos ciclos econmicos
paranaenses: a extrao da erva-mate, coletada nos ervais nativos pela
populao os faxinalenses, tambm caracterizados como populao
cabocla atravs de mtodo no depredatrio
8
. Atividade que permite aos
moradores locais uma importante insero no mercado exportador do estado,
mas, simultaneamente, a manuteno de um estilo de vida prprio, tradicional,
que se baseia tambm na produo para o autoconsumo de produtos agrcolas
de posseiros na regio, ou seja, sujeitos que se estabelecem em terras ainda no aproveitadas,
quer de proprietrios, quer do governo, e que esto sujeitos expulso quando surgem
proprietrios com ttulos verdadeiros ou falsos (Queiroz, 2009: 63).
8
Um sistema muito distinto daquele das obrages, que conjugava a explorao depredatria
de erva-mate de madeira, tendo por base grandes empreendimentos e trabalho escravo,
desenvolvida no oeste paranaense (cf. Wachowicz, 1987a)
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
142
e animais. Alm disso, na medida em que a produo coletada no local por
intermedirios, a ocupao pode se dar mantendo o relativo isolamento dos
moradores da zona rural, descrito por vrios autores como tpico da regio at
meados do sculo XX (cf. Passos, 1992, Camargo, s.d.).
A cultura e sociabilidade das matas, portanto, se desenvolveu de maneira
muito diversa daquela das reas de campos. Estas ltimas construram-se
com sua face voltada para Guarapuava, para uma sociedade mais desigual,
marcada pela presena de uma elite proprietria e produtora e um contingente
populacional dependente dessa elite. nesta regio que hoje reside parte
da comunidade quilombola Paiol de Telha, cujas terras foram expropriadas
e se encontram sob o controle da Cooperativa Agrria Mista Entre Rios. Em
que grandes fazendas se conjugam ao agronegcio. J a populao das
matas organizava sua produo de acordo com o sistema faxinal reunio
de compscuo e atividade extrativista nas orestas mistas de araucria com
produo agrcola de subsistncia em reas cercadas ou distantes de lavoura.
Sua religiosidade, catlica
9
, marcada por elementos do catolicismo popular
paranaense com a celebrao de festas de santo, romarias de So Gonalo,
mesadas de anjo. Uma dessas festas, inclusive, dedicada ao Divino Esprito
Santo, seria uma devoo instaurada como agradecimento possibilidade de
xao ao territrio da famlia proveniente da Guerra do Contestado, cuja
trajetria foi narrada acima. Acrescente-se a presena da devoo a So Joo
Maria, santo no cannico muito popular por todo o interior do Paran. A
crena no monge expressa na prpria geograa local. Espalhadas pela regio
esto nascentes que so tidas como lugares onde o monge repousava em
suas andanas pelo sul do pas. Acredita-se que essas guas so fonte de
poderes curativos e de bnos, e existe o costume de nelas batizar crianas
para livr-las de doenas como a tosse comprida. Outro ponto geogrco
que homenageia a passagem do monge pelo municpio o Cerro da Cruz, na
localidade de Poo Grande, morro onde foi erguida uma cruz e uma esttua em
homenagem a So Joo Maria. As pessoas que vivem em torno desses locais
sagrados contam histrias sobre a poca em que o homem santo passou por
eles, de modo que suas narrativas constroem vises sobre as diculdades do
passado e as profecias do monge para o tempo presente. H tambm sujeitos
que armam ter conhecido o monge e conversado com ele.
9
Embora o nmero de evanglicos seja relevante no municpio (13,06% da populao,
segundo o Censo Demogrco 2010), e os espaos urbano e rural sejam tambm marcados pela
presena de inmeros templos de vrias denominaes evanglicas, a predominncia catlica
inquestionvel, totalizando 85,25% da populao (enquanto o Brasil apresenta 64,63% de
catlicos e o Paran 69,60%). Acrescente-se que, enquanto tanto no pas quanto no estado
o nmero de catlicos caiu em 9,12 e 7,00 pontos percentuais, respectivamente, na ltima
dcada, em Pinho o percentual de populao catlica permaneceu praticamente inalterado no
perodo (subiu de 85,16% para 85,25%).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
143
Outro aspecto desta sociabilidade a presena da valentia, que muitas
vezes se expressa atravs de atos de violncia. Neste sentido, a distino entre
uma valentia positiva, que representa bravura e coragem, e outra negativa,
destruidora, no justicvel segundo a moralidade local, no clara. Ambas
compem a imagem do passado que se constri no presente. Uma delas est
presente no texto Memria sobre o descobrimento e colnia de Guarapuava
(1842), de Padre Francisco das Chagas Lima. Nele, o autor escreve que os
Campos de Guarapuava se localizavam no interior de um territrio antigamente
chamado Guair. Os primeiros sertanistas que por l passaram caaram uma
arara e amarraram-na pela perna, com uma corrente. Em seus esforos por
libertar-se, a ave tenta, em vo, bicar a correntinha para cort-la. O animal,
ento, bica a prpria perna at arranc-la fora, e consegue enm voar para
longe. Foi assim que os viajantes deram ao lugar o nome de Guarapuava,
que signica ave voadora veloz (Lima, 1842: 43). Disposta a arrancar um
pedao de si mesma em nome de sua liberdade, a arara que inspirou o nome
da localidade, numa espcie de mito fundador, traz tona alguns valores que
permeiam os ideais dos sujeitos que ento colonizaram a regio guarapuavana.
Tambm mobilizadas na armao desta valentia/violncia so as memrias
de prticas passadas de porte de arma pelos homens tanto armas brancas
quanto de fogo. E de seu efetivo uso em situaes conito. Motivo pelo qual
encontros mais vultosos representavam (e ainda representam) risco efetivo de
integridade fsica e mesmo vida para os presentes. Mas se as aes de agresso
fsica so muitas vezes motivadas por razes consideradas legtimas como
desrespeito honra, desao, vingana , em certos casos so interpretadas
como abuso de poder tentativa de controle de recursos comuns, assaltos,
maldade. Como as enumeraes acima indicam, o julgamento depende de quem
o faz, seu lugar de fala e posio em relao aos envolvidos. interessante
observar que esta caracterstica e as demais vinculadas s matas marcam o perl
da sede do municpio na atualidade, apesar de todas as mudanas que teriam
ocorrido na vila e no territrio de Pinho a partir de meados do sculo XX.
Ao escrever suas memrias, Passos (1992) relata que no incio da
dcada de 1940 a atual cidade de Pinho contava com apenas 17 casas no
entroncamento de duas estradas. No entanto, possua duas casas de negcio,
aougue, sapataria, selaria, igreja (onde tambm funcionava a escola), correio.
Tambm descreve o movimento da cidade nos dias de festas, ou quando havia
um grande acontecimento, momentos que reuniam bom nmero de pessoas
vindas do interior. Mesmo o delegado local, autoridade mxima, no residia
na cidade, mas no Faxinal dos Ribeiros. Acrescentem-se os relatos e fotos
dos carroes responsveis pelas transaes comerciais na primeira metade
do sculo XX: traziam sal, acar, produtos industrializados, e levavam erva-
mate, crina de cavalo, peles de animais nativos. Esses aspectos indicam a
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
144
presena signicativa de populao na zona rural frente pequenez da vila, e
a importncia da produo das matas para o comrcio local.
A realidade de Pinho se modicou substancialmente a partir do nal
da dcada de 1940, com a instalao da indstria madeireira na regio.
Principalmente a empresa Joo Jos Zattar S/A, que investiu na construo
de serrarias e povoados
10
em seu entorno (posteriormente suas atividades se
diversicaram com a explorao de erva-mate e negociao de lotes de terras).
Sua atuao teve, segundo os habitantes de Pinho, consequncias diversas:
por um lado, provocou o crescimento populacional do atual municpio, o
aquecimento da economia com a compra de pinheiros (que em vrios casos
se transmutou em compra de terras) e a criao de nmero signicativo de
empregos em suas serrarias , o aumento da populao urbana
11
; por outro,
intensicou processos de expropriao territorial de moradores rurais, bem
como os conitos e a violncia no campo. So inmeras as memrias da
atuao dos jagunos e guardas da madeireira na intimidao dos membros
das comunidades tradicionais
12
.
Os agenciamento e acionamento desses homens de armas, por sua vez,
remetem a outros processos de colonizao e ocupao de terras no estado,
de modo que a presena de jagunos e posseiros em diferentes contextos
de conito fundirio recorrente na histria do Paran. Entre o contexto
descrito, a Revolta de Porecatu
13
(entre a dcada de 1940 e 1951 norte do
estado) e a Revolta dos Posseiros
14
(1957 sudoeste paranaense), no s
possvel localizar esses elementos comuns, mas tambm processos scio-
histricos mais amplos, referentes a projetos de desenvolvimento no meio
rural, e expanso do capitalismo agrrio pelo sul do Brasil. Assim, embora
tenha tido seu auge no incio da dcada de 1990, o conito em Pinho
participa de uma dinmica regional mais ampla, que diz respeito no s aos
avanos das madeireiras pelo estado, como tambm s polticas de ocupao
10
Prximas s serrarias, so construdos povoados. O principal deles, denominado Zattarlndia,
descrito por moradores locais como um lugar de pujana na poca urea da madeireira, com
infraestrutura melhor que a da cidade e um movimento de festas e diverses intenso.
11
Embora o crescimento urbano no se deva exclusivamente atuao da Zattar, os nmeros das
ltimas dcadas so expressivos: segundo os dados censitrios, a populao urbana em Pinho
cresce de 15,69% em 1970 para 38.36% em 1980, 30,47% em 1991, 48,35% em 2000 e 50,71%
em 2010.
12
Esta temtica central na dissertao de mestrado de Dibe Ayoub (2011). O uso de grupos
armados explicitado, ainda, na biograa autorizada de Miguel Zattar, embora de maneira
indireta: O pedao do mundo entre Guarapuava e Pinho era um mapa da violncia no Paran
(...) Dalmo Pinto Portugal, casado com Gilda, sobrinha de Osires, e que viveu por um bom
tempo em Pinho, conta que mandava consertar as armas dos jagunos ou vigias das fazendas
dos Zattar. Ele lembra que no cobrava nada pela munio, pelos consertos das espingardas,
revlveres, Winchester, entre outras (Monteiro, 2008: 61).
13
Conferir: Priori, 2000; Silva, 2006; Silva, 2007.
14
Conferir: Colnaghi, 1984; Wachowicz, 1985; Gomes, 1986.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
145
e de aproveitamento de terras no Paran.
A indstria madeireira tambm esteve envolvida na emancipao do
municpio de Pinho, desmembrado de Guarapuava em 1964
15
. O primeiro
prefeito do municpio, Osris Roriz, era gerente das Indstrias Joo Jos
Zattar, e foi candidato nico a partir de acordo estabelecido entre deputados
responsveis pelo processo de emancipao de Pinho, dentre os quais Joo
Mansur, poltico e madeireiro de Irati. Este, por sua vez, foi o autor do projeto
de lei pela emancipao do municpio e, segundo Passos, tinha interesses por
aqui, uma vez que era scio da indstria madeireira denominada Produtora de
Madeiras Irati Ltda., aqui localizada (1992: 50). No entanto, aps o evento
em que tomou posse do cargo, Osris Roriz se retirou para a Zattarlndia, onde
permaneceu. Aps noventa dias, foi deposto de seu cargo, assumido ento
pelo vice-prefeito eleito Juvenal Stefanes.
A dcada de 1970 relembrada como o momento de exacerbao dos conitos
por vrios dos moradores rurais, relacionado intimidao da madeireira no
sentido do controle do territrio atravs da obrigatoriedade de assinatura,
por aqueles que no possuam a documentao de suas terras, de contratos
de arrendamento
16
, atuao dos jagunos neste sentido e inviabilizao das
atividades econmicas tradicionais dos grupos. Intensicaram-se as aes de
funcionrios da madeireira no consco da produo agrcola e extrativista
dos habitantes locais e morte de animais de criao, sua presena ostensiva
e intimidatria no entorno das moradias, e, nos casos extremos, o incndio
de casas e paiis e as ameaas de morte. Tambm neste momento, a empresa
passou a vender terras para descendentes de gachos do Paran em geral
lhos no herdeiros de camponeses , que tm uma dinmica produtiva distinta
(o que traz diculdades na convivncia, principalmente com relao ao sistema
de criao de animais soltos). Estes, contudo, tambm se tornam posseiros,
pois processos anteriores de hipoteca de terras pela empresa impediram a
regularizao da venda das terras.
Os embates com a madeireira se agravaram ao longo dos anos posteriores,
o que resultou na organizao local da AFATRUP (Associao das Famlias
de Trabalhadores Rurais de Pinho) em 1987, seguida da consolidao do
movimento dos posseiros contando com o apoio da Comisso Pastoral da
Terra atravs da ao de procos locais. Nesse contexto, a construo e adoo
da identidade de posseiro para denir uma coletividade que tem em comum o
15
Em 1995, por sua vez, o municpio de Reserva do Iguau desmembrado de Pinho. Passos
(1992) participou pessoalmente do processo de desmembramento de Pinho do municpio de
Guarapuava e, em seu livro, traz um relato detalhado sobre o mesmo, alm da transcrio de
vrios documentos.
16
Alguns moradores locais falam em contratos de comodato. No entanto, a descrio da entrega
de parte da produo para os funcionrios da empresa, muito recorrente na memria, leva a
pensar que o modelo dos contratos era de arrendamento, no de comodato.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
146
fato de se considerar, de algum modo, lesada pela empresa, se vincula a um
ideal segundo o qual a posse da terra que dene seus verdadeiros donos,
e no necessariamente a documentao. Posseiro, ento, um termo que,
em Pinho, abriga uma srie de sujeitos em diferentes situaes de conito
com a madeireira. Assim, identicaram-se como posseiros sujeitos que viviam
na zona rural do municpio e que foram expropriados de suas terras pelas
Indstrias Zattar. Tambm so posseiros sujeitos vindos de fora de Pinho, que
compraram terras da madeireira, mas no conseguiram obter suas escrituras
devido a pendncias jurdicas da prpria empresa. Alm destes, pessoas que
se engajaram em um processo de reocupao das reas tomadas pela rma
tambm se uniram ao Movimento de Posseiros. E, nalmente, indivduos que
pertenciam aos quadros da empresa madeireira tambm se tornaram posseiros,
quando a Zattar entrou em decadncia nos anos 1990. O Movimento chegou
a contar com cerca de 800 famlias, algo em torno de 3.000 indivduos
17
,
marcados por suas inseres distintas nessa organizao social.
O conito e as situaes de violncia nele engendradas chegaram a tal ponto
que a Assembleia Legislativa do Paran instaurou uma Comisso Parlamentar
de Inqurito, concluda em 1991, para apurar os casos ocorridos no municpio.
No ano seguinte, a AFATRUP organizou um grande movimento de reocupao
das reas expropriadas, realizado por posseiros e lhos de posseiros, que
recongurou o quadro de uso das terras locais tendo como uma de suas
consequncias a ocupao do territrio em lotes individuais, cercados, o que
inviabilizou o sistema de compscuo. E, em 1994, dada a visibilidade que os
conitos locais adquiriram no estado, a Comisso Pastoral da Terra realizou a
9. Romaria da Terra em Pinho.
Nas ltimas duas dcadas o contexto se tornou ainda mais complexo
18
. A
madeireira enfrenta uma situao de endividamento e diculdades nanceiras
que reduziram muito suas atividades no municpio, mas continua movendo
processos de reintegrao de posse contra os posseiros. Suas vilas foram
praticamente desativadas: como exemplo, a principal delas, Zattarlndia, que
possua 690 moradores (segundo o Censo Demogrco) em 1991, teve sua
populao reduzida para 281 moradores em 2000 e 80 moradores em 2010.
Atualmente, foi praticamente desativada, com desmanche da maior parte de
suas casas. A empresa tentou negociar um vasto territrio com o INCRA, mas a
negociao encontra entraves de difcil soluo. Por outro lado, a mobilizao
poltica local se diversicou e tornou mais intrincada, com a presena de
outros grupos polticos de luta pela terra o MST (Movimento Sem-Terra),
17
Dados da Associao das Famlias dos Trabalhadores Rurais de Pinho.
18
Cabe ressaltar, aqui, outro empreendimento de grande impacto para o municpio: a construo,
pela COPEL, da Usina Hidreltrica de Foz do Areia, e, vinculada a ela, de Faxinal do Cu. No
entanto, no vamos nos aprofundar nesse processo e em seus impactos.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
147
o MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) e a Articulao Puxiro dos
Povos Faxinalenses. Os vrios movimentos tm propostas polticas distintas
com relao ao uso e aos processos de regularizao do territrio.
Acrescente-se que a reduo de possibilidades de emprego no municpio,
aliada presso provocada pelo crescimento demogrco das famlias da zona
rural e inviabilidade de acesso terra devido aos conitos fundirios e ao m
do sistema de terras livres
19
, provocou a intensicao de processos migratrios,
sendo os destinos mais mencionados ao longo da pesquisa Santa Catarina, o
centro-oeste e norte do pas. Este contexto estimula uma mudana nas estratgias
de atuao do movimento, principalmente da AFATRUP, que alm da luta pela
regularizao fundiria cria a CooperAFATRUP cooperativa independente da
associao mas que carrega no nome a marca de sua origem. Segundo seu
presidente, Joo Wilson, ela uma estratgia importante para que aqueles que,
nas dcadas anteriores, resistiram e permaneceram no territrio, possam ter uma
alternativa de renda que garanta a sobrevivncia no local, sem a necessidade da
migrao
20
. A cooperativa apresenta crescimento exponencial, tanto no nmero
de associados quanto na quantidade de produtos comercializada, ao longo de
seus primeiros anos de funcionamento. Alm disso, contribui para visibilizar a
produo dos moradores das matas que, por estar fora do mercado, era muitas
vezes desconsiderada ao se falar da produo municipal.
Esta breve exposio indica, em sntese, como o estudo da organizao
social, padres de sociabilidade, cultura e memria dos moradores de Pinho
representa a possibilidade de compreenso da complexidade da constituio do
perl atual do mundo rural paranaense, na medida em que permite relacionar:
1) ciclos importantes da economia regional (tropeirismo, erva-mate, madeira)
com a articulao de povos tradicionais para responder a eles; 2) sistemas de
uso comum e familiar da terra com a presso de empreendimentos em moldes
capitalistas; 3) processos de violncia no campo e mecanismos de resistncia
e insurgncia dos moradores locais; 4) conitos entre povos tradicionais com
dinmicas produtivas distintas (faxinalenses x gachos); 5) diversidade de
identidades e estratgias polticas que podem ser mobilizadas pelos grupos
tradicionais nos processos de luta pela terra.
19
As reocupaes promovidas pela AFATRUP no incio da dcada de 1990 e as ocupaes recentes
do MST vo em sentido contrrio a esta tendncia, pois parte signicativa dos ocupantes de
lhos de moradores da zona rural local, que atravs desses processos garante seu acesso terra.
20
importante considerar, ainda, que a agricultura familiar a grande responsvel pela
incorporao da mo de obra ao processo produtivo rural. Assim, segundo o Censo Agropecurio
2006, das 7758 pessoas ocupadas em estabelecimento agropecurios no municpio, 5850
(75,41%) o faziam em estabelecimentos de agricultura familiar. Acrescente-se que 7233 (93,23%)
tinham relaes de parentesco com o responsvel pelo estabelecimento. Assim, a possibilidade
de permanncia na terra atravs do escoamento da produo dos pequenos produtores tem um
impacto signicativo no sentido de xao da populao rural no territrio, no somente em
relao aos responsveis pelos estabelecimentos, mas tambm a outros membros de sua famlia.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
148
Referncias bibliogrcas
AV-LALLEMANT, Robert. 1995. 1858, Viagem pelo Paran, Coleo Farol do Saber,
Curitiba: Fundao Cultural.
BALHANA, Altiva, MACHADO, Brasil. 1963. Contribuio ao Estudo da Histria Agrria
do Paran, Boletim da Universidade do Paran, Curitiba: Departamento de Histria.
BALHANA, Altiva, MACHADO, Brasil et al. 1968. Campos Gerais: Estruturas agrrias,
Curitiba: UFPR/Departamento de Histria.
BALHANA, Altiva, MACHADO, Brasil, WESTPHALEN, Ceclia. 1969. Histria do Paran,
vol. I, Curitiba: GRAFIPAR.
BONAMIGO, Carlos A. et al. (org.). 2011. Histria: Tradies e memrias, Francisco
Beltro: Jornal de Beltro.
CAMARGO, Jos S. s.d. Por Que Nosso Municpio Chama-se Pinho?, Pinho: Edio
do Autor.
COLNAGHI, Maria Cristina. 1984. Colonos e Poder: a luta pela terra no sudoeste do
Paran. Dissertao de Mestrado em Histria, Universidade Federal do Paran.
GOMES, Iria Zanoni. 2005. 1957. A Revolta dos Posseiros, Curitiba: Criar Edies.
Legislao Relativa Flora IBAMA, Disponvel em http://www.biodiversitas.org.
br/floraBr/legislacao_da_flora.PDF, acessado em 12/11/2012.
LANGER, Protasio, MARQUES, Snia, MARSCHNER, Walter (org.). 2010. Sudoeste do
Paran. Diversidade e ocupao territorial, Dourados: Ed. UFGD.
LIMA, Pe. Francisco das Chagas. 1842 [1809]. Memoria sobre o descobrimento e
colonia de Guarapuava in Revista Trimensal de Historia e Geographia ou Jornal
do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, Tomo IV, n. 13, p. 43-64. Rio de
Janeiro: Typographia de Joo Ignacio da Silva.
LUCAS, Karin A. H. 2009. A Formao dos Educadores como Eixo do Desenvolvimento
Curricular: O Projeto de Educao dos Posseiros do Paran (PEPO), Tese de
doutorado apresentada ao PPGE/PUC-SP.
MACEDO, F. R. Azevedo. 1995. Conquista Pacca de Guarapuava, Coleo Farol do
Saber, Curitiba: Fundao Cultural.
MARTINS, Romrio. 1995. Terra e Gente do Paran, Coleo Farol do Saber, Curitiba:
Fundao Cultural.
MICHAELE, Faris et. al. 1969. Histria do Paran, vol. 3, Curitiba: GRAFIPAR.
MONTEIRO, Nilson. 2008. Madeira de Lei: Uma Crnica da Vida e Obra de Miguel
Zattar, Curitiba: Edio do Autor.
NASCIMENTO, Jos Francisco T. 1886. Viagem feita por Jos Francisco Thomaz do Nascimento
pelos desconhecidos sertes de Guarapuava, Provincia do Paran, e relaes que teve
com os indios coroados mais bravios daquelles lugares. Revista Trimensal do Instituto
Historico Geographico e Ethnographico do Brazil, tomo XLIX, 267-281. Rio de Janeiro:
Typographia, Lithographia e Encadernao a vapor de Laemmert & C.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
149
PASSOS, Renato Ferreira. 1992. O Pinho que Eu Conheci, Pinho: Edio do autor.
PIN, Andr E. 2011. Moyss Lupion e as Transformaes na Cultura Faxinalense em
Pinho/PR in BONAMIGO, Carlos A. et al. (org.) Histria: Tradies e memrias,
Francisco Beltro: Jornal de Beltro.
PRIORI, ngelo Aparecido. 2000. A Revolta Camponesa de Porecatu: A luta pela
defesa da terra camponesa e a atuao do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
no campo (1942-1952). Tese de Doutorado, UNESP, Assis.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. 2009 [1963]. Uma categoria rural esquecida. In:
WELCH, Clifford A. et alli (org). Camponeses Brasileiros. Leituras e Interpretaes
clssicas, So Paulo/Braslia:UNESP/NEAD.
RAMOS, Rene W. 2011. A Resistncia Camponesa e a Igreja Catlica no Municpio
de Pinho/PR in Anais do V Congresso Internacional de Histria, realizado em
Maring entre 21 e 23 de setembro de 2011.
SILVA, Joaquim C. 2007. Terra Roxa de Sangue: A guerra de Porecatu, Londrina:
EDUEL.
SILVA, Osvaldo H. 2006. A Foice e a Cruz: Comunistas e catlicos na histria do
sindicalismo dos trabalhadores rurais do Paran, Curitiba: Rosa de Bassi.
VILLAA, Antnio C. 1998. Dirio de Faxinal do Cu, Rio de Janeiro: Lacerda Editores.
WACHOWICZ, Ruy C. 1987a. Obrageros, Mensus e Colonos: Histria do Oeste
Paranaense, Curitiba: Vicentina.
WACHOWICZ, Ruy C. 1987b. Paran, Sudoeste: Ocupao e Colonizao, Curitiba:
Vicentina.
151
Captulo 7
Os posseiros do Pinho conitos e resistncias
frente indstria madeireira
Dibe Ayoub
1
O
municpio de Pinho foi profundamente marcado pela explorao
madeireira, que, fundamental para a economia paranaense ao longo do
sculo XX, avanou sobre as orestas da regio centro-sul do estado
na dcada de 1940. As serrarias trouxeram transformaes ao territrio,
ao meio-ambiente, e vida das populaes faxinalenses do municpio em
questo. Junto ao aumento dos lucros madeireiros, ao seu regime de expanso
territorial e diversicao de suas atividades, houve tambm um processo
de expropriao do campesinato local. Este era constitudo at ento por uma
maioria de sujeitos cujos vnculos com a terra se davam por meio da posse de
terrenos descontnuos, tendo em vista as caractersticas do sistema faxinal
(Chang, 1988) nessa regio do Paran. A explorao madeireira em Pinho, da
qual as Indstrias Joo Jos Zattar S/A foram o grande expoente, teve como
uma de suas facetas o conito de terras entre os empresrios interessados nas
matas de araucrias e em outras atividades agrrias tais como a pecuria e
a extrao de erva-mate -, e os moradores que viviam nas reas visadas por
esses empreendedores.
O conito com as Indstrias Zattar se caracteriza pela heterogeneidade de
situaes de luta e de resistncia engendradas dentro dele, e por seu avano
ao longo de vrias dcadas, sendo o incio dos anos 1990 o seu auge. Dentre
essas situaes, destacam-se eventos de violncia fsica contra os posseiros
faxinalenses, ameaas de expropriao, queima de residncias, consco da
produo agrcola, matana de criaes, acusaes de roubo de madeira e de
erva-mate, proibio do desenvolvimento normal das atividades de produo
1
Graduada em Cincias Sociais e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do
Paran. Cursa atualmente doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional/UFRJ.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
152
agrcola, destruio de cercas, e outras provocaes e atitudes relembradas
pela populao que as viveu como desaforos.
Essas aes ofensivas eram realizadas por homens armados que trabalhavam
para a empresa, os quais so reconhecidos como guardas ou jagunos. Eles
formavam uma espcie de corpo de segurana da rma, e eram responsveis por
grande parcela da aplicao dos projetos de domnio territorial. So bastante
enfatizados quando os sujeitos rememoram suas experincias ao longo do
conito com a empresa, j que os jagunos eram o brao da rede madeireira
mais prximo a eles nas comunidades. Tendo em vista essa proximidade, e
as particularidades da atuao dos jagunos, eles so representativos da
instituio de diversos modos de conito dentro do conito mais amplo. Ao
rememorarem as interaes com esses funcionrios da indstria, os posseiros
destacam as diferenas desses homens de armas entre si mesmos, as maneiras
com que agiam, e suas prprias vises sobre a elaborao de estratgias de
resistncia que passavam inclusive pela avaliao das condutas dos jagunos
mais prximos, segundo critrios da sociabilidade local.
A discusso proposta neste artigo resulta de trabalho de campo realizado
no contexto do Projeto Memrias dos Povos do Campo no Paran, no ano de
2012, e soma-se a um processo de pesquisa iniciado em 2009, que resultou
na produo de minha dissertao de mestrado em Antropologia Social, na
Universidade Federal do Paran
2
. O trabalho de campo caracterizou-se pela
observao da atual congurao social e dos modos de ser e de viver dos
posseiros de distintas comunidades rurais pinhoenses, sobretudo localizadas
em reas de faxinais. Por outro lado, as narrativas sobre o conito tornaram-se
ponto fundamental de anlise, j que a partir delas e da pesquisa bibliogrca
sobre as madeireiras e outros conitos agrrios no Paran que a discusso
proposta se fundamenta. Alguns dados da biograa de um dos principais
administradores das Indstrias Joo Jos Zattar S/A, intitulada Madeira de
Lei: Uma crnica da vida e obra de Miguel Zattar (Monteiro, 2008), tambm
foram analisados e contrapostos s narrativas dos posseiros e bibliograa
estudada.
O presente texto tem como objetivo compreender algumas estratgias de
resistncia dos posseiros de Pinho em suas terras, nessa situao de conito
com uma grande empresa. Para tanto, prope-se primeiro a discutir a presena
madeireira em Pinho, levando em conta o modo com que as Indstrias
Zattar l se estabeleceram, os principais aspectos sociais e territoriais de seu
empreendimento, e a abrangncia de sua rede de relaes a nvel local. A
seguir, analisa-se a construo social da gura do jaguno e do guarda ao
2
Ayoub, Dibe Salua. Madeira sem lei: jagunos, posseiros e madeireiros em um conito
fundirio no interior do Paran. Dissertao (Mestrado em Antropologia Social), Universidade
Federal do Paran (UFPR), 2011.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
153
longo do conito, considerando especialmente quem so esses homens de
armas e como atuam, como suas reputaes so construdas pelos posseiros,
e qual sua posio dentro da estrutura madeireira. E por m, problematiza-se
trs diferentes possibilidades de resistncia ressaltadas pelos posseiros em
suas narrativas e percepes sobre o conito fundirio.
I. A explorao madeireira em Pinho
A histria do conito de terras em Pinho remete a prticas tpicas da
indstria madeireira no Paran, e tem como ponto de partida ns da dcada
de 1940, perodo em que se inicia a explorao das matas de araucrias nessa
regio do estado. Quando o empresrio Joo Jos Zattar iniciou suas atividades
naquela localidade, Pinho era distrito de Guarapuava, e caracterizava-se pela
presena de uma pequena vila, composta por mais ou menos vinte casas,
exatamente na linha onde a oresta encontra os campos
3
.
Em seus primrdios, o empreendimento de Zattar tinha como principal meio
de obteno de matria-prima a compra de pinheiros e de outras madeiras de
lei de pessoas que possuam suas prprias terras fossem essas escrituradas,
ou no. Para realizar essas transaes, utilizava-se de intermedirios, os quais
tambm viviam no municpio. Eram pessoas que geralmente dispunham de
certo prestgio no interior da hierarquia social da localidade, como pequenos
fazendeiros, inspetores de quarteiro
4
, comerciantes e coletores de impostos.
Por essa prestao de servio, o intermedirio recebia da empresa uma
porcentagem do valor da compra de cada rvore. Essas negociaes eram
seladas por contratos de compra e venda, onde o dono das terras em que
estavam os pinheiros comprometia-se a entreg-los. As rvores selecionadas
eram marcadas, e o prazo para sua retirada poderia chegar a trinta anos.
Esse tipo de negociao, que tinha por central a compra de rvores, era
comum no universo madeireiro paranaense, que a princpio parecia no ter
interesse nas terras em que estavam as araucrias, mas somente na madeira em
p (Machado, 1968: 43). Em sua anlise das condies de compra e venda de
pinheiros pelos madeireiros dos municpios de Tibagi e Imbituva, entre 1947 e
1964, Lavalle (1974: 135) arma que:
O ponto de partida para compreender essas transaes, est em
que a terra raramente era pretendida pelo comprador. O objetivo do
3
Passos, Renato Ferreira. O Pinho que eu conheci. Pinho/PR: Edio do autor, 1992, p. 15.
4
Os inspetores, chamados pelos posseiros de delegados, eram responsveis pela scalizao da
ordem nas comunidades rurais, resolvendo questes referentes ao respeito das divisas territoriais
nos faxinais, assim como casos de brigas, mortes e roubos.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
154
contrato era a aquisio de pinheiros e madeiras de lei, pois a terra
no possua valor para os madeireiros, aps haverem sido extradas
as madeiras.
No entanto, os contratos de compra de rvores envolviam mecanismos de
obteno de direitos sobre as reas em que estavam os pinhais, em espaos de
tempo que variavam de dois at trinta anos aps a assinatura do contrato. Alm
de ser obrigado a ceder ao comprador o terreno onde estavam as rvores, a
m de que o empreendedor pudesse construir estradas, o vendedor de pinheiros
sujeitava-se instalao de unidades de produo e de beneciamento de
madeiras em sua propriedade, sem direito a qualquer pagamento referente ao
uso dela por esses terceiros (Lavalle, 1974: 137).
Se a compra de rvores era uma prtica comum entre os estabelecimentos
madeireiros no Paran, a biograa de Miguel Zattar (Monteiro, 2008) ressalta
que enquanto comprava rvores, Joo Jos Zattar tambm adquiria terras. Ao
falecer, em 1957, Joo Jos deixou um extenso patrimnio fundirio para seus
herdeiros. Ao longo dos anos seguintes, a indstria madeireira chegaria a ser
dona de uma poro territorial considervel do municpio:
Joo Jos, ao longo de muitos anos, no comprara terras, mas
rvores. Quando faleceu, suas rvores cobriam milhares de alqueires,
parte signicativa dos municpios limtrofes a Pinho. Comprava s
a madeira em p, com contratos de explorao, que iam de trinta
a sessenta anos. Ao morrer, deixou para seus lhos um mar de
escrituras de compras, entre rvores e retalhos imensos de terra.
(Monteiro, 2008: 58).
Se por um lado o interesse dos madeireiros parecia estar somente nas
rvores em p, por outro a obteno de terras revelou-se fundamental
para o desenvolvimento dessas empresas, tendo em vista a construo de
estabelecimentos de serragem de toras em meio aos pinhais. O trabalho
de campo realizado no municpio de Pinho indica que a nfase que os
historiadores que se voltaram questo da explorao orestal no Paran
do ao desinteresse pelas terras, oculta, na verdade, procedimentos de
expropriao e de angariamento de territrios: se os dados apontam apenas
para a confeco de contratos de vendas de rvores, na prtica, o modo
com que esses acordos eram acionados e selados envolvia muitas vezes a
inviabilizao da permanncia dos supostos vendedores de madeira em seus
terrenos. Esse processo, por sua vez, destacado nas memrias dos habitantes
de Pinho que, de alguma forma, tiveram impasses com as Indstrias Joo
Jos Zattar S/A.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
155
Em alguns lugares do municpio, a empresa estabeleceu serrarias, ao
redor das quais viviam seus trabalhadores, dentro do terreno da madeireira.
O principal desses redutos, Zattarlndia, era fechado por diversos portes.
Continha as casas de seus funcionrios e administradores, igreja, escola,
farmcia, bar, salo de baile, raias para corrida de cavalos, e armazns que
comercializavam produtos para a populao de operrios que ali morava. Muitos
desses produtos eram oriundos das roas e hortas dos moradores do entorno
da Zattarlndia, no necessariamente empregados da rma. Alm disso, esse
reduto possua uma moeda prpria de circulao, chamada bor, com a
qual a madeireira pagava seus funcionrios. Estes, por conseguinte, gastavam
seus salrios dentro dos estabelecimentos comerciais da Zattarlndia. Essas
caractersticas no eram peculiares s Indstrias Zattar, mas comuns a outros
estabelecimentos madeireiros no Paran:
Estes ncleos residenciais, com armazns, clubes, farmcia, etc.,
tudo pertencente empresa, so abastecidos em geral diretamente
pelos mercados atacadistas metropolitanos onde a empresa tem a sua
sede, inteira revelia do comrcio das pequenas cidades regionais.
A serraria no se integra na vida da regio, permanece nela como
um corpo estranho at o dia em que, pelo esgotamento dos recursos
orestais locais, transferida para um novo stio, levando consigo as
realizaes complementares (Barthelmess apud Machado, 1969: 44).
Situaes como esta se aproximam de outras realidades industriais ao redor
do mundo e no Brasil, como aquelas descritas por Powdermaker (1962), nas
minas de cobre na Rodsia, Nash (1958), em uma empresa txtil na Guatemala,
e Leite Lopes (1978), sobre as usinas de cana de acar em Pernambuco. Esses
estabelecimentos exercem uma espcie de atratividade sobre os funcionrios,
na medida em que propiciam uma srie de servios sociais (moradia, acesso
sade e educao, redes de lazer e sociabilidade, comrcio) populao
de trabalhadores. Constituem-se, assim, em unidades industriais, residenciais
e administrativas, afetando os que nelas vivem em vrios sentidos. Segundo
Leite Lopes (1978: 12), ao unir os domnios de trabalho e de residncia dos
operrios, esses redutos industriais introduzem o trabalho na esfera domstica,
fazendo com que as condies de vida e de moradia do trabalhador sejam
denidas pela insero do mesmo no processo de produo da empresa.
Ademais, essa espcie de organizao promove uma interseco entre
elementos de dominao burocrtica, marcados pela impessoalidade, e pores
de comportamento tradicional, tal como nos termos observados por Lopes
(1967) em relao ao desenvolvimento de indstrias txteis na Zona da Mata
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
156
mineira
5
. As relaes de autoridade e de subordinao constrem-se a partir
de regras administrativas comuns a todos e, simultaneamente, da prestao de
favores e de bens que criam laos de tipo pessoal entre patres e empregados.
No caso madeireiro, essas prestaes de favores e concesses irradiam-se
especialmente atravs dos gerentes dos redutos. Identicados como parte da
empresa, que nas falas dos posseiros tratada como o Zattar, esses funcionrios
de maior posio hierrquica tem o sobrenome Zattar adicionado aos seus
nomes prprios nas narrativas dos pinhoenses. So, portanto, reconhecidos
como parentes de uma empresa que, por sua vez, percebida como uma
pessoa, representante de uma famlia. Ressalta-se que a madeireira dispunha
de um amplo quadro de funcionrios e gestores em Pinho, e, desde a morte de
Joo Jos, foi administrada pelos lhos deste e por outros de seus acionistas.
Destaca-se tambm que a famlia Zattar era oriunda de Curitiba, e passava
poucos meses do ano em Pinho.
A partir da dcada de 1960, a madeireira comea a adquirir terrenos para
alm de suas serrarias, chegando a escriturar, em seu nome, algo em torno de
trinta mil alqueires de terras
6
. Esse processo girava em torno da compra de
terras de herdeiros e do registro, em nome da empresa, de imveis que no
estavam juridicamente regularizados por aqueles que neles viviam. A ausncia
de registro, de fato, era muito comum nesse perodo, j que o principal modo
de apropriao do territrio era a posse e que diversas terras eram de uso
coletivo. Desse modo, falta de documentao soma-se outra particularidade
local: a territorialidade dos habitantes da regio, praticantes do sistema
faxinal (Chang, 1988; Souza, 2010).
Em Pinho, o faxinal concebido como o terreno das matas de araucrias,
onde pratica-se o extrativismo de erva-mate e de pinho. At a dcada de
1970, o faxinal era tambm o ambiente das terras de uso comum para a
criao de gado majoritariamente bovino e suno - solta. assim que ele
se contrape s terras de cultura, ou de planta, localizadas em ambientes
de vegetao baixa, muitas vezes prximos a rios e a encostas de morros,
reservados exclusivamente para as lavouras familiares. O binmio faxinal/terra
de cultura tambm envolvia particularidades residenciais: enquanto no faxinal
cavam as principais residncias das famlias, nas reas de lavoura construa-
se um paiol, habitado nos perodos de plantio e de colheita, e que servia
como repositrio da produo agrcola. Essa dinmica territorial particular
sofreu diversas modicaes ao longo dos anos, sobretudo no que tange ao
5
LOPES, Juarez Brando. Crise do Brasil Arcaico. So Paulo: Difuso Europia do Livro, 1967.
6
Se esse nmero ocialmente aceito no municpio como o total de terras das Indstrias
Zattar, h relatos que armam que a madeireira chegou a controlar metade das terras de Pinho,
ou seja, cerca de 45 mil alqueires de terras.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
157
uso comum dos faxinais e sazonalidade da residncia nos paiis. No entanto,
as distines ambientais do terreno e as prticas econmicas caractersticas
da oposio faxinal/terra de cultura permanecem vigentes.
O projeto da madeireira em Pinho fundamentou-se no s na derrubada
de rvores, mas teve como base toda uma diversicao das atividades da
empresa. Se nas reas de faxinal ela passou a trabalhar com o extrativismo de
erva-mate, nas terras de cultura soltou cabeas de gado. No que diz respeito
s pessoas que moravam nessas reas que havia documentado em seu nome,
a poltica da empresa foi estabelecer contratos de arrendamento, segundo os
quais os sujeitos no poderiam retirar nenhum material vegetal das terras, e
pagariam um tero da produo em troca do direito de continuarem morando
l. Junto a esse movimento madeireiro de obteno de novas reas, surgem
novos tipos de relaes entre a rma e a populao rural local. Nesse percurso,
organizado um corpo particular de homens armados que deveriam zelar pelo
patrimnio da empresa e garantir, atravs da vigilncia e do uso de fora, que
os termos da madeireira fossem cumpridos. Esses prossionais, intermedirios
e parte da estrutura de dominao scio-econmica da rma, so conhecidos
pelas pessoas que relembram o conito como guardas e jagunos.
II. A luta por terras: da construo social do jaguno
Nas narrativas dos posseiros acerca do conito, os jagunos emergem como
elemento chave na construo das vises sobre a empresa, assim como da
percepo das transformaes que esta gerou ao longo de sua relao com
o territrio e com os moradores de Pinho. Eles tambm so acionados para
se falar da luta e da resistncia dos posseiros em suas terras. Representam as
aes violentas da dominao territorial madeireira, atravs das queimas de
casas e expulses de moradores, assassinatos de lavradores, ameaas e tocaias.
Por outro lado, nas narrativas individuais, um universo de trnsitos e uxos
entre a empresa e as comunidades aparece como contexto de surgimento e
de atuao dos homens armados da indstria. Estes so julgados, avaliados e
classicados a partir da posio social do posseiro que rememora o conito,
e do modo com que este percebe suas interaes com os jagunos. Assim,
as memrias sobre esses homens de armas trazem consigo a amplitude dos
arranjos e laos de sociabilidade engendrados na relao com a empresa.
Considerando dominao no sentido weberiano do termo, ou seja,
enquanto a probabilidade de encontrar obedincia a uma ordem de determinado
contedo (Weber, 2004: 33), busca-se a seguir discutir como os prprios
posseiros concebem os jagunos e, a partir deles, seu ponto de vista sobre a
presena madeireira. Ademais, tendo em vista a proximidade entre jagunos e
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
158
posseiros, e percebendo a presena madeireira como algo que afeta as relaes
sociais como um todo nesse ambiente
7
, trata-se de compreender esse esquema
de dominao a partir das formas de vinculao e da interdependncia entre
os grupos em conito (Elias, 2000).
Alm das caractersticas sociais de construo da pessoa e das experincias
dos jagunos no mbito do trabalho, as memrias dos posseiros trazem
aspectos referentes a um nvel mais individualizado, sobretudo no que
se refere relevncia da ocupao para a reputao e para o self desses
homens de armas. Sendo o trabalho de um sujeito uma das coisas pelas quais
ele se julga e socialmente julgado (Hughes, 1971: 338), faz-se necessrio
compreender como os posseiros percebem as inseres dos jagunos dentro
da empresa, assim como avaliam as maneiras com que estes desempenham a
sua funo. Tanto quanto os outros operrios da madeireira, esses homens de
armas tambm possuem seus prprios dramas pessoais e sociais de trabalho,
construindo relaes com aqueles que compartilham o cotidiano com eles.
O jaguno caracterizado pelos posseiros como um homem que anda a
cavalo, armado com revlver e faco, portando um chapu, e cuja principal
atribuio scalizar as terras adquiridas pela empresa. Nos primrdios da
expanso da madeireira para alm dos territrios de suas serrarias, o jaguno
cumpria a funo de informar os posseiros de que as reas onde viviam estavam
agora sob domnio do Zattar. Essa informao, entretanto, era seguida pela
proposta de um contrato de arrendo, segundo o qual o posseiro reconhecia viver
em terras da madeireira, comprometendo-se a entregar mesma um tero de
sua produo. Esses contratos tambm proibiam esses trabalhadores rurais de
retirarem madeira e erva-mate dos terrenos. Outra de suas caractersticas era a
imposio de uma srie de interdies e de regulaes s prticas produtivas
costumeiras. Os posseiros relatam, nesse sentido, que uma das principais
atividades dos jagunos era liberar ou proibir os dias e perodos do ano em que
poderiam lavrar a terra.
O no cumprimento das regras desses contratos impostos a uma populao
ento marcada por um grande ndice de analfabetismo considerado pelos
sujeitos que viveram o conito como o principal estopim das aes violentas
dos jagunos
8
. Por outro lado, o ato de recusa assinatura poderia ter como
7
Essa compreenso da agroindstria como algo que inuencia amplamente as relaes dos
locais onde se estabelece foi elaborada por Heredia (1988), em seu estudo sobre o processo de
estabelecimento e desenvolvimentos das usinas de cana de acar em Alagoas, entre as dcadas
de 1950 e 1970. A autora observa como as usinas mobilizam conitos em torno da estrutura
fundiria, das benfeitorias, e do modo de produo local, assim como provocam deslocamentos
na prpria hierarquia tradicional dos engenhos e nas relaes entre os grandes e pequenos
produtores.
8
O analfabetismo constantemente destacado pelos posseiros como um dos motivos que
levaram tantas pessoas a equivocadamente assinarem os contratos, de cujas clusulas no
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
159
conseqncia o despejo seguido da queima da residncia, ou a queima sem
qualquer chance de recuperao dos bens existentes dentro da moradia. Outras
situaes de recusa de contrato eram seguidas por uma vigilncia intensa por
parte dos jagunos, que impediam o trabalho da terra e ameaavam de morte
os homens das famlias que no haviam deixado os terrenos em que viviam.
Esses processos de resistncia se caracterizavam por momentos de extrema
tenso, em que era preciso negociar com os jagunos demonstrando-lhes um
certo respeito, e ao mesmo tempo como que convenc-los, a partir do dilogo,
a permitirem a permanncia do posseiro na terra. Nessas situaes, nem todos
os jagunos atuavam da mesma maneira. Se alguns eram valentes, brabos,
outros eram amigos dos posseiros. assim que reputaes e trajetrias de
relaes pessoais encadeiam-se nas experincias do conito com a madeireira.
Ao analisar conitos entre indivduos e coletividades em localidades
marcadas por vinganas de famlia no interior de Pernambuco, Marques (2002:
182) arma que as reputaes so constitudas junto com as interaes e, ao
mesmo tempo em que so negociadas nas relaes sociais, condicionam os
termos das mesmas. Essas questes aproximam-se do modo com que os jagunos
so constitudos e considerados ao longo do conito fundirio em Pinho.
Quando comentam as histrias dos homens de armas com quem conviveram,
ou de quem ouviram falar, os posseiros lanam mo de um conhecimento
comum que foi socialmente construdo acerca desses homens ao longo dos
anos, a partir da circulao de histrias no municpio. Tanto quanto fazem
referncias a aspectos mais pblicos e conhecidos da vida desses funcionrios
da madeireira, os sujeitos apresentam a sua viso particular da pessoa de que
falam, segundo suas experincias de interao com a mesma, ou sua prpria
viso e avaliao das histrias que ouviram sobre determinado jaguno.
Atravs das especicidades do ato de lembrar e de contar, os jagunos
mostram-se com vrias faces, as quais so representativas de contextos de
relaes particulares a esses homens, e revelam a efemeridade de sua condio
social. Dessa maneira, bastante difcil ouvir falar de um jaguno que segue
essa carreira a vida toda. A grande maioria deles foi fadada a viver como tal por
pouco tempo, devido a motivos variados: encontro de outra ocupao, ida para
outros lugares, conito com o chefe, morte em servio. No entanto, h casos
de sujeitos que se consolidaram como grandes jagunos e, como tal, puderam
atingir posies mais altas na hierarquia desses funcionrios, cheando-os, e
trabalhando para a empresa at poderem se aposentar.
tinham verdadeiro conhecimento. O fato de que mais de 90 % da populao no sabia ler
estimulou o Movimento de Posseiros e a Associao das Famlias dos Trabalhadores Rurais
de Pinho (AFATRUP) a organizarem um grande projeto de alfabetizao em Pinho, o PEPO
(Projeto de Educao dos Posseiros do Paran), durante a dcada de 1990. Acerca desse tema,
ver Lucas (2009).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
160
Ao serem perguntados sobre quem eram e de onde vieram os jagunos que
ganham corpo em suas narrativas dos embates fundirios, os posseiros abrem
mais uma vez a possibilidade de reexo sobre as continuidades e novidades de
relaes que foram forjadas com o estabelecimento da madeireira em Pinho.
Alguns desses homens de armas vieram de fora do municpio, e muitos deles
foram inicialmente empregados como trabalhadores que exerciam funes
relacionadas ao corte de madeiras e a atividades nas serrarias. Recebiam,
aps alguns anos de trabalho, e segundo as avaliaes do gerente da rma,
a proposta de trabalharem na scalizao das terras da empresa. Outros
jagunos so relembrados como sujeitos que foram propositalmente trazidos
pela prpria indstria para ocuparem esses postos. So tidos como homens que
j possuam um passado de atuao como capangas em outros latifndios e
conitos fundirios no Paran e demais estados da regio sul, s vezes tendo
sido retirados de presdios especialmente para exercer essa funo em Pinho.
H tambm o jaguno que vem de dentro do municpio. Vrios desses
homens possuam a reputao de valentes, por conta de suas trajetrias em
brigas e vinganas familiares no interior do territrio de Pinho. Existe, nesse
sentido, uma viso de que determinados lugares, marcados por essas vinganas,
eram especialmente frteis para a produo desses homens de armas, devido
justamente a sociabilidades e tramas entre famlias que passavam por disputas
envolvendo mortes e suas subseqentes retaliaes. Alguns jagunos de
Pinho, sobretudo os mais brabos, so tidos como oriundos desses contextos
de embates violentos entre grupos de parentes ou mesmo entre indivduos que
por algum motivo entraram em conito.
Atravs da pesquisa de campo no municpio, tornou-se claro que essas
disputas violentas podem ser desencadeadas das mais diversas maneiras: uma
cerca mal colocada, a destruio da cerca do vizinho, a briga por terras, o
sumio de criaes, um jogo de baralho no bar a embriaguez considerada
uma das grandes impulsoras da valentia -, uma palavra mal dita numa festa, a
disputa por uma moa, enm, motivos que so tomados como ofensas pelos
sujeitos que se engajam nessas tramas. nesse tipo de situao que se revela
um homem valente, marcado pela reputao de pessoa que briga com facilidade,
criando muitos inimigos. Muitos deles so tidos como ruins por natureza, como
se tivessem nascido com a capacidade de fazer mal ao outro. Esses justamente
so considerados os piores jagunos de dentro de Pinho.
Todavia, h uma outra categoria de jaguno de dentro que no tida como
valente, mas sim como amiga dos posseiros. So sujeitos que possuam alguma
relao prvia de parentesco, compadrio, ou mesmo de amizade com aqueles
que deveriam vigiar. Essa categoria tambm nomeada como guarda, termo
que mais utilizado para referir-se aos capangas mais prximos dos posseiros,
e menos ruins. Por conseguinte, guarda uma categoria que, quando acionada
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
161
para referir-se a algum, revela um certo abrandamento da violncia e do abuso
caracterstico das aes dos jagunos. Ademais, a preferncia por utilizar o
nome guarda para referir-se a um funcionrio com quem se tinha uma relao
de compromissos e reciprocidades indica respeito, revelando que jaguno um
termo pejorativo e, de certo modo, um estigma.
O guarda caracterizado como o indivduo que entrava nessa carreira
por necessidade, e no pelos desgnios de uma natureza m. Era o homem
que estava naquele ofcio pelo salrio, porque precisava garantir sua prpria
sobrevivncia e a de sua famlia. Ele possui, portanto, uma maior aceitao
entre os posseiros. O guarda reconhecido como aquele que, por ser amigo,
permitia que os sujeitos cujas vidas scalizava zessem coisas revelia
do contrato. So relembrados como pessoas que no s autorizavam, mas
inclusive no se importavam que as pessoas extrassem dos terrenos a erva-
mate e outros materiais vegetais. Estabeleciam redes de reciprocidades com os
posseiros, como a troca de alimentos, as visitas, e os laos de compadrio. Eram
considerados homens que no incomodavam, mas que exerciam sua funo de
um modo que no chegava a ofender diretamente os posseiros, como era o caso
de jagunos que avanavam sobre os terreiros
9
das famlias lanando tiros para
o alto e praguejando contra as criaes, aes localmente concebidas como
provocaes.
Assim como ocorria com os operrios da serraria, guardas e jagunos tambm
tinham a esfera domstica de suas vidas invadida pelo mundo do trabalho, de
um modo particular sua categoria. Eles viviam com suas prprias famlias em
terrenos e casas concedidos pela empresa, nas reas que deviam vigiar. Assim,
diferenciavam-se dos moradores da Zattarlndia, que no possuam terras para
plantio ou para a criao de gado. Integrados no circuito de vizinhana das
comunidades rurais, esses homens de armas tambm inseriam-se no sistema de
produo local e nas redes de trocas de trabalho. H exemplos de posseiros que
chegaram a ser empregados por jagunos nos perodos de plantio das lavouras,
e vice-versa. Alm disso, os guardas e jagunos participavam das redes de
lazer estabelecidas nas comunidades, como as festas, bailes e bares. Tambm
participavam da igreja e acessavam as mesmas benzedeiras que os posseiros.
Suas esposas estabeleciam amizades com as esposas dos posseiros, assim como
seus lhos. H, por conseguinte, diversos casos de matrimnios entre famlias
de posseiros e de jagunos, cuja condio social era por diversas vezes muito
parecida.
Enquanto moradores da comunidade onde executavam seus ofcios para a
madeireira, jagunos e guardas ocupavam uma posio particular frente aos
9
Terreiro o nome que se d ao espao imediatamente frente e ao redor da casa, utilizado para
o plantio de ores e de rvores, onde se alimentam as galinhas e cam os animais domsticos
(ces, gatos), das famlias de posseiros.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
162
funcionrios que viviam nas serrarias, possuindo inclusive uma maior margem
de autonomia e de liberdade. Eles no se sujeitavam vigilncia de um gerente
da rma do mesmo modo que os empregados que trabalhavam no interior
do estabelecimento madeireiro. Ainda assim, recebiam ordens e, se podiam
permitir que alguns de seus conhecidos tivessem atitudes que contrariavam os
contratos de arrendo, e ter boas relaes com eles, isso se dava somente em
ocasies especcas. Na prtica, grande parte dos posseiros era submetida a
uma vigilncia contnua de suas atividades, ao cerceamento de seu modo de
vida e ao sofrimento de ameaas.
Por m, outra gura de ameaa que permeia as narrativas sobre o conito
com a madeireira a do pistoleiro. Homem bastante temido, o pistoleiro o
matador que vive na sombra, que s age com o intuito de matar, armando
tocaias e seus botes s escondidas. Tambm o nome empregado para se falar
dos jagunos mais perigosos, quando se busca enfatizar a ruindade dos mesmos.
Mas geralmente o pistoleiro trabalha de empreito, ou seja, contratado para
prestar servios especcos.
Os diferentes modos com que os posseiros caracterizam os homens de armas
que trabalharam para a madeireira, assim como sua nfase nas proximidades e
distncias engendradas nas relaes com eles, indicam que o embate fundirio
em Pinho marcado pelo constante fazer e refazer de novos vnculos e
consequentemente, conitos, dentro da congurao de antagonismos mais
ampla. Assim, se a luta por terras tem dois lados contrrios - madeireira e
posseiros - , os sujeitos de pesquisa, a partir de suas prprias experincias
de vida, demonstram o quanto as adeses e laos que so costurados ao
longo desse processo formam um tecido de muitas tramas que se sobrepem.
Suas histrias demonstram que viver o conito no simplesmente tomar
um partido, mas sim saber lidar com as diversas possibilidades de ao e de
tomada de posio existentes, e assim poder favorecer a continuidade de sua
permanncia na terra, como ser discutido na ltima sesso desse texto.
Considerando essas questes, possvel compreender outro movimento
que esteve presente nesse processo de embate: o de posseiros que se tornaram
jagunos, e o de jagunos que se tornaram posseiros. No primeiro caso, os
sujeitos eram impulsionados pela necessidade de obterem uma melhor renda
para suas famlias, o que os aproxima da classicao de guarda. No eram
considerados como perigosos, mas muitas vezes so lembrados como pessoas
que eram amigas, e que at mesmo ajudavam os posseiros adiantando-lhes
aes que sabiam que a empresa iria levar adiante.
O segundo caso, por sua vez, ocorre majoritariamente no incio dos anos
1990, perodo em que a empresa entra em um complicado cenrio econmico,
e em que o Movimento de Posseiros inicia uma poltica de ocupao e de
retomada de reas da indstria. Esse contexto marcado por um grande
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
163
aumento de processos trabalhistas contra a madeireira, e de inseguranas
diversas entre seus funcionrios. Foi assim que vrios deles ingressaram na
luta dos posseiros, contrapondo-se poltica da empresa e participando dessas
ocupaes a m de garantirem para si um pedao de terra.
Atravs desses exemplos de mudanas de posio ao longo do processo
de conito, e das diferentes maneiras com que os posseiros caracterizam e
percebem suas relaes com jagunos e guardas, tem-se que esse embate
marcado por vrias possibilidades de arranjos e de construo de relaes. So
as caractersticas da sociabilidade local, das interaes entre diferentes sujeitos
em diferentes posies frente empresa, e do contexto de dominao, que
denem os modos com que os posseiros compreendem e vivem a interveno
madeireira. Aqui, vrias facetas da relao entre autoridade e subordinados
aparecem, sejam elas referentes a jagunos e administrao da empresa, ou
dade jagunos e posseiros. Por outro lado, essa proximidade e as caractersticas
mais pessoais da dominao da madeireira tem efeitos notveis nas relaes
sociais. A ao da empresa na congurao do municpio marcante no s
porque modica a estrutura fundiria e o modo de vida dos moradores da
regio, mas tambm porque capaz de transformar, deslocar, abalar certas
redes de relaes, atravs das novas opes de alianas e laos que engendra
ao longo de sua rede de atuao, estendida no tempo e no espao.
III. Modos de resistncia dos posseiros
Ao longo do processo de consolidao da madeireira em Pinho, os posseiros
elaboraram uma srie de formas de resistncia aos avanos da empresa, a m de
manterem sua autonomia e de permanecerem em suas terras. A resistncia, tal
como pretendo discutir a seguir, aproxima-se dos termos de Scott (2002), na
medida em que ocorre no cotidiano, manifestando-se com pouco planejamento,
evitando confrontaes mais diretas com a autoridade e exercendo-se como
uma forma de auto-ajuda individual. Com isso, no quero retirar a relevncia
da resistncia poltica coletivamente organizada pelo Movimento de Posseiros.
Evidentemente, o conito de terras foi caracterizado pelo surgimento dessa
identidade de luta fundiria, e por modos coletivos e institucionalizados de
contraposio e enfrentamento da empresa. Porm, grande parte das narrativas
dos posseiros sobre os jagunos e, consequentemente, sobre as interferncias
da madeireira na vida dos sujeitos, passa justamente por maneiras cotidianas
de antagonismo, para ns de permanncia na terra.
Esses modos de resistncia dizem respeito s formas com que os jagunos
estavam inseridos na sociabilidade dos posseiros, sendo percebidos e julgados
a partir dos termos da pequena poltica do cotidiano, a qual diz respeito a
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
164
reputaes (Bailey, 1971). Na medida em que a vida em comunidade marcada
pelo conhecimento que seus membros tm uns dos outros, o qual se elabora na
vida ordinria e atravs de circuitos de informaes, guardas e jagunos tambm
so constitudos e avaliados como parte dessas redes. Esses julgamentos
denem, como discutido anteriormente, tanto o estatuto que os posseiros do
a esses funcionrios da empresa, quanto os modos de se portar perante eles
e de elaborar projetos de permanncia na terra. As narrativas sobre o conito
constroem, assim, diversas formas de compreender e de lidar com a dominao.
Ainda que a grande maioria dos posseiros tenha assinado os contratos
de arrendo com a empresa, sua motivao era car na terra. Mas uma vez
assinado o contrato, era preciso lidar com as imposies feitas pelos guardas
e jagunos, que levavam adiante uma poltica de inviabilizao da vida das
populaes rurais locais. Seus perodos de plantio e de colheita passavam a ser
comandados pela empresa, e em alguns casos eram impossibilitados porque a
rma tambm criava gado em certos terrenos que tomara para si. A extrao
de erva-mate, atividade fundamental para a economia dessas comunidades,
tambm foi proibida.
Alm disso, a madeireira inicia, entre ns dos anos 1970 e incio de
1980, a venda de terras para sitiantes de fora do municpio. Impedidos de
obter a documentao dos seus terrenos, os quais haviam sido previamente
penhorados pela empresa, esses novos vizinhos tornaram-se agentes com os
quais os antigos moradores tiveram de negociar divisas e usos do territrio.
Muitos deles identicaram-se com a causa dos posseiros, j que tambm se
viram prejudicados pela indstria, e acabaram por integrar o movimento
poltico contra ela.
Nesse contexto de transformao da congurao scio-territorial das
comunidades de faxinais, resistncia consiste em uma ampla gama de aes.
Descreverei trs exemplos, os quais tm como fundamento olhares para a
presena madeireira, maneiras de se relacionar com essa presena, e modos
de construo do ser posseiro no interior do conito. O primeiro exemplo tem
a ver com demonstraes de respeito e com uma estratgia de invisibilidade.
O segundo se constitui na mescla entre a contraposio e a construo de
relaes com os jagunos e guardas, o que permite que o posseiro em questo
permanea em sua terra. O terceiro o enfrentamento direto, realizado em
situaes de fortes ameaas a famlias de posseiros, no momento em que o
movimento social contrrio madeireira j est constitudo.
Nas narrativas de sujeitos cuja postura sobre o conito foi afastar-se da
possibilidade de embate direto, h um ditado que sintetiza a compreenso que
possuem de suas aes: se voc no visto, no lembrado. Essa idia, por sua
vez, tambm orienta atitudes perante outras formas de conito interpessoal,
como as brigas em bares e bailes. Signica que em caso de enfrentamentos
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
165
em espaos pblicos, melhor se afastar, pois como testemunha ocular do
evento, o sujeito se envolve diretamente naquela situao. Por isso, pode
ser chamado a depor sobre os fatos vistos, ou at mesmo correr o risco de
sofrer ameaas e represlias mais severas. Num contexto em que os jagunos
eram os responsveis pela armao da autoridade da madeireira perante as
comunidades rurais, alguns dos posseiros tratavam de demonstrar publicamente
o reconhecimento da legitimidade desses homens e da nova ordem fundiria,
para manterem-se livres de possveis desavenas.
Um dos casos que reete esse tipo de atitude o do Sr. Joo, que assinou
o contrato e optou por calar-se perante os desaforos dos jagunos. Morador de
sua terra desde antes da entrada da madeireira naquela regio do municpio,
ele teve de conviver com as proibies acerca do plantio e do extrativismo,
atividades que so consideradas pela populao rural como trabalho, ou
seja, como aquilo que permite o sustento e a autonomia de suas famlias.
Paralelamente, porm, Joo continuava a trabalhar, escondido. Por no ter
jagunos morando muito perto de sua casa, ele no vivia uma vigilncia to
intensa do seu cotidiano.
Mesmo assim, realizar atividades interditas era sempre algo muito arriscado.
Caso fosse pego, o posseiro corria o risco de ser levado at a delegacia, ou mesmo
de ser morto. Considerando isso, o Sr. Joo permanecia calado todas as vezes
em que o jaguno responsvel por aquela rea tido como um homem terrvel
entrava em seu terreiro dando tiros para o alto e atropelando as criaes.
Frente a essa atitude, considerada uma ofensa injusticada, Joo arma que
tinha de se segurar para no revidar. Esse tipo de atuao, compreendida pelos
posseiros como uma provocao sem aparente motivo, realizada justamente
para gerar uma reao na parte ofendida e, por conseguinte, um motivo real
para que o jaguno partisse para cima do posseiro, aparece em vrias das
formulaes nativas sobre situaes de embate no interior dessa congurao.
assim que os posseiros compreendem certas possibilidades de embate
dentro do conito mais amplo a partir de uma lgica parecida com a dialtica
dos desaos e das respostas, descrita por Bourdieu (2002) em sua anlise
sobre a sociedade Cabila. Ainda que o conito em Pinho no envolva sujeitos
em igual posio social, h expectativas acerca de como os jagunos atuariam
perante determinadas reaes dos posseiros. O ditado anteriormente citado,
ento, pode simbolizar modos de resistncia em que a invisibilidade, o no
chamar a ateno para si mesmo, o centro da estratgia de permanncia
na terra. Essas expectativas, porm, so formuladas em um ambiente de
imprevisibilidades e de relaes ambguas com esses homens de armas. Desse
modo, os resultados dessas interaes no so mecnicos, mas muitas vezes
produzem resultados inesperados.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
166
Convivendo em silncio com a presena dos jagunos e com as ofensas
recebidas, Sr. Joo foi construindo benfeitorias ao redor de sua residncia.
Plantou rvores, as quais para ele serviriam posteriormente como emblema do
tempo de sua presena naquele lugar. Fez seu cadastro para pagar os impostos
sobre a terra, o que para ele comprova que aquele espao seu. Alm disso,
quando o Movimento de Posseiros iniciou a organizao da retomada de terras
apropriadas pela madeireira, a regio onde Joo vive foi um dos lugares para os
quais os posseiros se deslocaram. Com o crescimento da populao contrria
empresa, organizou-se naquela rea um projeto mais coletivo de resistncia e
de enfrentamento. Foi assim que ocorreu um evento que cou conhecido como
a expulso dos jagunos daquela comunidade, quando os camponeses, armados,
conseguiram ferir Carlo, um dos mais valentes homens da madeireira. Pouco
tempo depois, ele foi morto pelo jovem lho de um homem que havia matado,
por conta da desobedincia frente s ordens referentes aos perodos de plantio
e de colheita.
Outro exemplo de resistncia foi narrado pelos lhos do Sr. Sebastio, cuja
trajetria pessoal ao longo do conito foi construda a partir do convvio com
os jagunos, que habitavam uma casa muito prxima sua. Nos anos em que
teve de conviver com os homens de armas da madeireira, a famlia de Sebastio
conta que cerca de trinta jagunos passaram por aquela residncia. Por ter
se recusado a assinar o contrato, esse senhor passou por intensas ameaas
de expulso de suas terras, onde a madeireira soltou gado, impedindo-o de
plantar sua lavoura livremente. Ele ento teve de procurar trabalho nas terras
de outras pessoas, fora do municpio de Pinho. Sua experincia particular
justamente pela proximidade com os jagunos, o que permitiu que ele vivesse
tanto grandes desaforos e provocaes, como que construsse boas relaes
com alguns dos homens de armas que passaram por sua comunidade.
Para os lhos de Sebastio, os desaforos geralmente correspondiam a
atitudes de invaso do espao de seu pai, e de limitao de sua autonomia.
Falam de jagunos que amarravam seus cavalos na cruz de cedro, smbolo da
religiosidade do posseiro, colocada em frente sua casa. Relembram tambm
que esses homens de armas costumavam matar as galinhas de Sebastio dentro
de seu prprio terreiro. Impediam o posseiro de trabalhar e de alimentar suas
criaes. Frente a isso, o senhor, mesmo ameaado, tomou atitudes inusitadas.
A ocorrncia mais enfatizada por seus lhos diz respeito a um dia em que eles
estavam na lavoura, ajudando seu pai, quando os jagunos chegaram armados,
intimidando-o para que parasse com suas atividades. Frente a isso, Sebastio
abriu a camisa, deixando seu peito mostra. Disse-lhes que se queriam mat-
lo, que o zessem de uma vez, mas que enquanto vivesse ele no poderia deixar
de sustentar sua famlia. As crianas, ento, abraaram o pai, e chorando,
clamaram a ele e aos jagunos que parassem com aquilo. Segundo elas, hoje
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
167
adultas, foi sua presena que fez com que os agentes da empresa recuassem,
impedindo que algo de grave ocorresse com Sebastio.
As histrias acerca das experincias desse posseiro tambm invocam uma
amizade inesperada entre ele e o anteriormente citado Carlo, um dos mais
terrveis jagunos que passou por Pinho, cuja reputao de homem ruim
reverbera sobre as narrativas a seu respeito. No entanto, a famlia de Sebastio
conseguiu, atravs de trocas de alimentos e das relaes cotidianas com o
jaguno e seus familiares, construir uma relao de amizade com o mesmo,
rememorado como algum que nunca incomodou o posseiro. Outro exemplo
da postura de Sebastio que sustentou sua resistncia na terra remete a um
evento em que ele salvou um jaguno, cujo p enroscara no estribo do burro
em que estava montado, e que estava sendo arrastado pelo animal. Essa
situao imprevista fez com que o jaguno contrasse uma dvida impagvel
com o posseiro, desistindo de ofender o homem que havia defendido sua vida.
A compreenso que os lhos de Sebastio possuem da luta de seu pai
por permanecer no territrio passa por narrativas que acionam condies de
aproximao e de respeitabilidade que sustentam aes e reaes por parte dos
jagunos. Aqui, o discurso da famlia do posseiro se constri sobre a idia de que
se reagisse s provocaes, Sebastio seria morto pelos capangas da empresa.
A lgica dos desaos e das respostas, baseada em expectativas que tem a ver
com a avaliao do comportamento dos jagunos e com a atuao madeireira
no municpio, tambm conjugada a uma certa imprevisibilidade dos laos
sociais que se formam atravs das interaes entre esses agentes idealmente
antagnicos. No s as atitudes cordiais cotidianas de Sebastio constituem-
no como senhor de respeito perante alguns dos homens de armas, mas tambm
o ato extraordinrio de salvar a vida de um deles. assim que, dentro de uma
situao de vigilncia intensa, ele consegue permanecer em seu territrio.
O terceiro modo de resistncia que ganhou corpo nas narrativas dos
posseiros diz respeito ao enfrentamento direto, relatado sempre como uma
experincia limite, como ataques que so realizados em situaes de iminente
expulso dos posseiros de suas reas, e de temor de uma ao mais violenta
por parte dos jagunos. Como j ressaltado, o conito de terras foi marcado
por diversas situaes de queima de casas, uma das quais acarretou inclusive
na morte de um beb. Tiroteios realizados no meio da noite, com a inteno de
assustar ou at mesmo de matar os membros de uma famlia, tambm so aes
rememoradas por diversos posseiros. E, por m, h os casos de assassinatos,
perseguies e ameaas diretas de morte, as quais eram publicizadas pelos
jagunos nas comunidades. Tudo isso contribua para a instaurao de um
clima pesado de medo, sobretudo entre as famlias mais ameaadas.
Vrias so as histrias de posseiros que faziam rondas noturnas ao redor
de suas casas, para vigiar as terras quando sabiam que era possvel que os
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
168
jagunos estivessem planejando queimar a residncia ou atirar em sua direo.
Esses temores fundamentavam-se em aes anteriores desses agentes da
madeireira, e em boatos e notcias que circulavam pelas comunidades. Nessas
viglias dos posseiros, as mulheres tambm participavam ativamente, cuidando
dos terrenos para os maridos poderem descansar, ou permanecendo em casa
com armas em punho.
Alguns dos enfrentamentos realizados pelos posseiros eram executados
por uma rede de vizinhos e parentes, e espelhavam-se em aes tpicas dos
prprios jagunos, como o caso das tocaias, ataques realizados de surpresa
por homens que estavam escondidos no mato. Esse tipo de ao ganha corpo
na dcada de 1990, quando o conito atinge seu auge e o movimento social
em prol da defesa dos territrios dos posseiros organizado. Se bem sucedidas,
elas acarretavam na retirada dos jagunos de certas reas do municpio, e no
fortalecimento da prpria coletividade envolvida em torno desses projetos de
resistncia.
Outras aes, individuais, envolvem o ataque direto a homens da madeireira
que j haviam ameaado ou ofendido determinado sujeito de alguma forma.
Como exemplo, h o caso de Carlo, morto por um menino que vinga o pai
assassinado pelo jaguno. Outra histria nesse sentido a de uma senhora que
mata outro dos homens mais terrveis da madeireira, aps grandes ameaas
e ofensas cometidas por ele contra a sua famlia. Esses casos, que envolvem
combates entre pessoas em posio muito desigual, especialmente mulheres
e crianas, das quais no se espera esse tipo de reao, so percebidos sob
a tica de que o mais prevalecido morre pela mo do mais fraco. como se
o castigo ideal a esses grandes jagunos de m ndole fosse justamente uma
morte inesperada, vinda das mos daqueles de que no tinham medo.
Em suma, os exemplos de resistncia aqui analisados envolvem estratgias
pessoais e pouco planejadas de luta cotidiana, que nos casos de Joo e de
Sebastio buscam evitar o confronto direto com os jagunos, enquanto que no
ltimo caso giram em torno de enfrentamentos em que so agenciados alguns
membros de uma mesma comunidade, ou que so realizados individualmente.
A dominao percebida sobretudo a partir da limitao da autonomia dos
posseiros atravs da inviabilizao de seu trabalho, sendo regulada a partir
do contrato de arrendo e da vigilncia dos jagunos. Entretanto, a partir das
distintas experincias vividas pelos posseiros, percebe-se que as aes tomadas
por eles nem sempre eram as mesmas, mas tinham a ver com suas redes
particulares de relaes e com as interaes que constituam com os jagunos.
assim que as reputaes e expectativas de atitudes so consideradas nessas
narrativas.
Ainda que a idia de uma previsibilidade de comportamentos seja acionada
nas narrativas, tem-se que as surpresas e imprevistos so caractersticas dessa
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
169
congurao. Ela pode ser vista como um sistema emergente, gerado atravs
de novas e ambguas interaes entre sujeitos, todos lutando para interpretar
as novas circunstncias e os atos uns dos outros, e forjando experimental
e constantemente noes e relaes provisrias (Barth, 2000: 182). Desse
modo, o conito tambm envolve a construo de novas possibilidades de
relao, permitindo que um jaguno muito ruim desenvolva uma amizade
com um posseiro, como o caso de Sebastio, e que jagunos possam ser
posteriormente incorporados luta do movimento social, conforme as dvidas
que a madeireira contrai com eles. Outra das caractersticas desses embates
o desenrolar de aes de violncia que no fazem parte da gramtica local das
brigas em bares e bailes, como os incndios, as tocaias, e a desigualdade dos
sujeitos em disputa. Entram em jogo, portanto, novas possibilidades de ao
e consequentemente, de consideraes a serem feitas sobre certas atitudes, as
quais ultrapassam uma lgica conhecida, nos termos da sociabilidade local, de
procedimento de ofensas e contra-ofensas.
IV. Consideraes nais: de resistncias cotidianas ao
movimento social
Ao longo da dcada de 1980, a inuncia e presena de padres ligados
Comisso Pastoral da Terra (CPT) em Pinho trouxe novas perspectivas de
organizao dos posseiros por seus direitos territoriais. Com o apoio dos
religiosos, em 1987 fundada a Associao das Famlias dos Trabalhadores
Rurais de Pinho (AFATRUP), relembrada pelos sujeitos envolvidos no conito
com a madeireira como o primeiro passo na construo de um movimento de
luta pela terra. A Associao buscou realizar reunies nas comunidades rurais
e estabelecer vnculos e contatos com partidos polticos e advogados, a m
de buscar novos caminhos de resoluo dos impasses fundirios. Em 1991,
ocializou-se o Movimento de Posseiros, com o apoio da CPT, do Frei Domingos
Hellmann, da Central nica dos Trabalhadores (CUT) e da Fundao Rureco. A
AFATRUP chegou a ter oitocentas famlias cadastradas, mantendo atualmente
cerca de seiscentas.
Em 1992, o Movimento de Posseiros inicia a reocupao de reas da
madeireira. Esse um momento bastante tenso para os posseiros, relembrado
como muito perigoso, devido ao aumento das perseguies, ameaas e
assassinatos. Alm dos seus tradicionais capangas, a empresa organiza uma
equipe de seguranas armados e uniformizados, que faziam rondas em veculos
automotores e scalizavam as atividades dos membros dos movimentos sociais.
Alm das reocupaes realizadas por posseiros e seus descendentes, esse
contexto tambm marcado por desequilbrios na administrao, nas relaes
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
170
entre os scios, e nas nanas da indstria, proliferando-se suas dvidas. Em
1994, o parque fabril que a empresa possua em Guarapuava fechado, e a
madeireira passa a concentrar-se em Pinho. Nessa poca, so acionados cerca
de quinhentos processos trabalhistas contra a Zattar (Monteiro, 2008: 163).
A partir desse perodo, o Movimento de Posseiros e a AFATRUP passam
a envolver-se com instncias jurdicas e governamentais, com o objetivo de
resolver os impasses sobre as terras. Investem em processos de usucapio
barrados por processos de reintegrao de posse feitos pela empresa, e na
demarcao de lotes individuais para as famlias em conito com a madeireira,
tendo como horizonte processos de regularizao fundiria nos moldes da
reforma agrria. Ainda nos anos 1990, conseguem regularizar a rea conhecida
como Quinho 1-G, no Faxinal do Ribeiros, onde vivem oitenta e sete famlias.
Desde 2006, as Indstrias Zattar e os posseiros buscam resolver as questes
de terras atravs do INCRA, com o qual a empresa vem desde ento tentando
negociar a venda de 21 mil hectares de terras em Pinho. Em dezembro de
2012, porm, a situao ainda no havia sido solucionada. Naquele ms,
ocorreu uma audincia pblica no municpio, onde o rgo federal props aos
interessados o processo de desapropriao por interesse social, que dever
ser levado adiante. Enquanto isso, os posseiros que resistiram expropriao
permanecem em seus territrios, atualmente divididos em lotes individuais,
sem terem os documentos das terras. Se a situao est mais calma, j que no
h mais jagunos e nem o peso dos contratos sobre suas costas, os posseiros
convivem agora com a angstia de no terem os ttulos de suas propriedades.
angstia soma-se o medo, sempre presente, de que a prpria empresa ou
outro agente de fora possa coloc-los novamente numa situao de riscos e
limitaes, como a que viveram por tantos anos.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
171
Referncias bibliogrcas
AYOUB, Dibe Salua. Madeira sem lei: jagunos, posseiros e madeireiros em um
conito fundirio no interior do Paran. Dissertao (Mestrado em Antropologia
Social), Universidade Federal do Paran (UFPR), 2011.
BAILEY, F.G. Gifts and Poison. In: Gifts and Poison. Oxford: Basil Blackwell, 1971,
pp.1-25.
BARTH, Fredrik. Por um maior naturalismo na conceptualizao das sociedades. In: O
guru, o iniciador e outras variaes antropolgicas. Rio de Janeiro: Contracapa,
2000. p. 167-186.
BOURDIEU, Pierre. Esboo de uma teoria da prtica. Precedido de trs estudos de
etnologia Cabila. Oeiras: Celta, 2002 [1972].
CHANG, Man Yu. Sistema Faxinal: Uma forma de organizao camponesa em
desagregao no Centro-sul do Paran. Londrina: IAPAR, 1988.
ELIAS, Norbert & SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das
relaes de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2000.
HEREDIA, Beatriz. Formas de Dominao e Espao Social. So Paulo: Marco Zero,
1989.
HUGUES , Everett. The sociological eye (selected papers). Chicago: Aldine-Atherton,
1971.
LAVALLE, Aida Mansani. A madeira na economia paranaense. Dissertao (Mestrado
em Histria). Universidade Federal do Paran (UFPR), 1974.
LEITE LOPES, Jos Srgio. O Vapor do Diabo: o trabalho dos operrios do acar. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
LOPES, Juarez Brando. Crise do Brasil Arcaico. So Paulo: DifusoEuropia do Livro,
1967.
LUCAS, Karin Adriane Hugo. A formao dos educadores como eixo do
desenvolvimento curricular: o Projeto de Educao dos Posseiros do Paran
(PEPO). Tese (Doutorado em Educao). Pontifcia Universidade Catlica de So
Paulo (PUC-SP), 2009.
LUZ, Cirlei Francisca Carneiro. A madeira na economia de Ponta Grossa e Guarapuava
(1915-1974). Dissertao (Mestrado em Histria). Universidade Federal do Paran
(UFPR), 1980.
MACHADO, Brasil Pinheiro. Formao Histrica. In: BALHANA, Altiva Pilatti et alli
(org.). Campos Gerais: Estruturas Agrrias. Curitiba: Edio do Departamento de
Histria da Faculdade de Filosoa da Universidade Federal do Paran, 1968.
MARQUES, Ana Cludia. Intrigas e Questes, Rio de Janeiro : Relume Dumar, 2002.
MONTEIRO, Nilson. Madeira de Lei: Uma crnica da vida e obra de Miguel Zattar.
Curitiba: Edio do autor, 2008.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
172
NASH, Manning. Machine age maya. The industrialization of a Guatemalan community.
The American Anthropological Association, Memoir n. 87, 1958.
PASSOS, Renato Ferreira. O Pinho que eu conheci. Pinho/PR: Edio do autor, 1992.
POWDERMAKER , Hortense. Copper town, changing Africa. The human situation
on the Rhodesian Copperbelt. New York: Harper Colophon Books, Harper & Row
Publishers, 1962.
SCOTT, James C. Formas Cotidianas da Resistncia Camponesa. In: Razes, vol. 21,
n01, Campina Grande, jan-jun 2002, p. 10-31.
SOUZA, Roberto Martins de. Mapeamento Social dos Faxinais no Paran. In: ALMEIDA,
Alfredo Wagner B., SOUZA, Roberto M. de. 2009. Terra de Faxinais. Manaus: UEA,
2009.
(______.). Na luta pela terra, nascemos faxinalenses: uma reinterpretao do
campo intelectual de debates sobre os faxinais. Tese (Doutorado em Sociologia).
Universidade Federal do Paran (UFPR), 2010.
WEBER, Max. Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva,
vol.1. Braslia: Editora Universidade de Braslia, 2004.
173
Captulo 8
Memrias de um mundo rstico: narrativas
e silncios sobre o passado em Pinho/PR
Liliana Porto
1
A
proposta deste captulo elaborar uma reexo em torno de como os
moradores de Pinho/PR principalmente aqueles residentes nas reas
de matas constroem suas memrias sobre o passado local. Pretende
discutir quais as temticas mais recorrentes em seus discursos, bem como os
perodos selecionados para elaborar narrativas sobre sua histria. Para tanto,
tem como base de sua anlise trs tipos de materiais distintos: 1) quatro
textos escritos por moradores do municpio sobre sua histria, tendo sido dois
deles publicados O Pinho que eu conheci, de Renato Passos (s.d.)
2
e Por
que nosso municpio chama-se Pinho?, de Jos Silvrio de Camargo (s.d.)
3
e os outros dois Faxinal dos Ribeiros, elaborado pela equipe da Escola
Rural Municipal Norberto Serpio, e a Agenda de Joo Oliverto de Campos ,
vindo a pblico pela primeira vez neste livro; 2) 141 redaes de alunos do 6.
ao 8. ano da Escola Estadual Rural Izaltino Bastos, produzidas em atividade
da disciplina de Histria, em outubro de 2012
4
; 3) entrevista realizada com
1
Doutora em Antropologia pela UnB e professora do Departamento de Antropologia da UFPR.
Realizando ps-doutorado no PPGAS/Museu Nacional. Autora dos livros A ameaa do outro e
Curitiba entra na roda.
2
A primeira verso do livro foi publicada em 1992, em edio do autor, e se encontra disponvel
na Biblioteca Pblica do Paran apenas para consulta. A segunda verso no foi publicada.
Agradeo a Eliana Rocha Passos, lha do autor, que fez a gentileza de me enviar sua verso
digital via internet.
3
Este livro foi publicado postumamente pela neta do autor, Neusa Maria Amaral Camargo
Almeida, que tambm contribuiu com pesquisas suplementares e com a coautoria do texto.
Foi atravs dela que conseguimos ter acesso a um exemplar. Embora no conste a data de
publicao, o ento prefeito era Osvaldo Lupepsa, que esteve no cargo entre 1997 e 2004.
4
Agradeo Profa. Alecxandra Portella e ao diretor da E. E. Izaltino Bastos, Prof. Vandir
Orzechowski, no somente pela possibilidade de desenvolver esta atividade, mas tambm pelo
apoio dado pesquisa de forma mais ampla. E, atravs deles, a toda a equipe das Escolas Rurais
Norberto Serpio e Izaltino Bastos.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
174
D. Joana
5
, antiga moradora da zona rural de Pinho e hoje residente em rea
perifrica da cidade.
importante ressaltar que a interpretao que se prope do material
analisado, signicativamente diverso, no busca preencher lacunas de uma
histria ocial do municpio, ou dar voz aos excludos do discurso ocial,
ou ainda tentar descobrir a verdade oculta sobre os conitos fundirios que
marcaram e ainda marcam o cotidiano de Pinho. Tendo por base as reexes
de Pollak (1989, 1992) e Portelli (1981, 1991, 1996, 2010), compreende
que os discursos sobre o passado apontam a maneira como, no presente, se
lida com este passado. Neste sentido, silncios, deslocamentos, imprecises,
a opo por determinadas temticas e nfases narrativas so, muitas vezes,
mais signicativos que um discurso que coincide com registros documentais e
que comprova sua preciso frente aos fatos. A representao do passado,
em outras palavras, necessariamente uma seleo de aspectos e eventos de
outro tempo para a construo de uma perspectiva tanto do tempo antigo
quanto do atual. Alm disso, a ausncia de alguns temas, aspectos ou perodos
nas narrativas sobre o passado no apontam sua irrelevncia ao contrrio,
podem mesmo indicar a fora da memria e uma avaliao das consequncias
dos relatos no presente e no futuro. Silncio no sinnimo de esquecimento
embora tambm possa ser e o conhecimento do contexto de vida dos
narradores, bem como de enunciao das narrativas, que permite interpretar
tanto o dito quanto o no dito.
A anlise seguinte, portanto, permite perceber como a populao local no
somente reete sobre seu passado, mas, a partir de suas narrativas e silncios,
constri possibilidades de presente e de futuro. Com efeito, os raros trabalhos
acadmicos sobre Pinho referem-se s ltimas dcadas de sua histria, com
destaque para a presena da madeireira Joo Jos Zattar S/A na regio, os
conitos a ela vinculados e projetos de resistncia e organizao dos moradores
locais para se defender do processo de expropriao e expulso do territrio
(cf. Ayoub, 2010; Pin, 2011; Gonalver, s.d.; Lucas, 2009; Francesconi, s.d.).
J os relatos locais tendem a enfatizar perodo mais remoto, caracterizado
pela rusticidade mas tambm pela autonomia, apresentando relativo silncio
em torno das ltimas dcadas e dos conitos e eventos, vividos como
humilhaes, que marcaram o cotidiano dos moradores locais. As histrias
familiares, por sua vez, ocupam lugar de destaque no conjunto de narrativas
analisadas, e a vrias delas se vinculam relatos de guerras tanto especcas
quanto indenidas, em geral como pano de fundo da trajetria de um ancestral
remoto, antes de sua chegada a Pinho. A compreenso das estratgias de
5
Devido s tenses relativas aos temas tratados na entrevista, optou-se pela adoo de um
nome ctcio para a entrevistada.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
175
referncia ao passado traz para a discusso, ainda, a presena da valentia/
violncia
6
tanto nos relatos sobre a histria local quanto no cotidiano, e indica
as diculdades presentes nos processos de negociao de conitos. Evidencia-
se, assim, que o silenciamento sobre o passado recente no o resultado de
seu esquecimento. Ao contrrio, parte de uma avaliao das consequncias
da memria na manuteno de tenses graves, e em sua possvel perpetuao
no futuro
7
. Principalmente na medida em que os sujeitos envolvidos em tais
processos ou seus descendentes convivem em espaos comuns no dia a dia.
Assim, para compreender os processos de construo dos discursos sobre o
passado, necessrio ter em mente alguns aspectos bsicos da dinmica social
local ontem e hoje. No com a pretenso de contrastar uma objetividade
academicamente construda subjetividade dos narradores, mas apenas
de fornecer um quadro de referncia, tambm este construdo atravs de
seleo e a partir de pesquisa de campo e das prprias narrativas, para que
as diferentes valorizaes de aspectos do passado adquiram sentidos prprios
e as interpretaes se tornem mais fundamentadas. Embora esta empreitada
tenha sido enfrentada em captulo anterior, retomarei a seguir pontos que me
parecem essenciais.
A compreenso do contexto de Pinho na atualidade precisa levar em
conta uma diviso bsica das reas do municpio entre os campos e as matas.
Tal diviso se estabelece a partir das caractersticas ambientais do territrio
que deniram, por sua vez, processos diferenciados de povoamento, atividades
produtivas diversicadas e a formao de contextos socioculturais particulares.
Alm disso, ela estabelece proximidades especcas com outras reas do
estado: assim, a regio de campos do municpio se vincula tanto histrica
quanto atualmente a Guarapuava (estando inclusive voltada, em termos de
6
A avaliao do carter positivo ou negativo de situaes de enfrentamento de perigos e
demonstrao de fora no simples, e os dois termos, o primeiro apontando uma positividade
e o segundo uma condenao moral, so signicativamente prximos.
7
Uma notcia publicada no Jornal Fatos do Iguau em 05/04/2013 exemplica como a memria
de um passado conituoso pode ter consequncias graves no local. Segundo o jornal:
Homem que matou pinhoense com cinco tiros e o degolou est preso
Em janeiro, dentro de um bar da avenida Trifon Hanysz, principal avenida de Pinho, Rosemar
de Jesus Pereira, de 25 anos, assassinou com cinco tiros o antigo desafeto Claudinei Martins.
Depois, levou o corpo para a calada do estabelecimento e, com uma faca, fez um profundo
corte no pescoo da vtima.
Ainda em janeiro ele se apresentou delegacia, disse que o motivo seria uma vingana,
planejada h muito tempo. Ele disse que o Claudinei teria atirado no seu abdmen h mais ou
menos cinco anos. Ele no se esqueceu e cou com essa amargura at agora. O autor confessou
o crime em detalhes, armou o delegado da Polcia Civil, Luiz Alberto Vicente de Castro. O autor
armou ainda que tinha perdido a arma do crime durante a fuga.
Como no foi caracterizado o agrante o homicida aguardava a deciso da Justia em
liberdade. Mesmo assim, o delegado pediu a priso preventiva e desde o dia 26 de maro, ele se
encontra preso na Delegacia de Pinho, disposio do Poder Judicirio (disponvel em http://
www.jornalfatos.com.br/modules/news/article.php?storyid=3573).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
176
contatos e transaes comerciais, para o municpio vizinho); j a das matas
tem um processo de povoamento e uma sociabilidade que remetem ao sudoeste
do Paran, inclusive no que se refere s principais atividades econmicas e aos
conitos territoriais e ambientais delas decorrentes. Acrescente-se que, apesar
de haver um discurso de que a regio dos campos a grande representante do
progresso local com suas fazendas e, atualmente, o agronegcio atravs de
grandes cooperativas de produo de gros , o perl da sede do municpio
muito mais marcado pela presena da populao, da sociabilidade, e inclusive
das tenses e conitos caractersticos da regio das matas.
Pensando nesta diviso e em suas consequncias, cabe ressaltar que o
povoamento ocial do territrio ocorreu a partir da ocupao colonizadora
dos Campos de Pinho que compem o conjunto dos Campos de Guarapuava.
Devido s atividades do tropeirismo e criao de gado bovino, equino e muar,
foi este o foco das expedies dos sculos XVIII e XIX dentre as quais se
destaca a de Diogo Pinto de Azevedo Portugal, responsvel por uma xao
mais efetiva de colonizadores no lugar. Ao povoamento ocial acompanhou,
ainda, a ao dos representantes da igreja catlica, que instauraram a
catequizao dos povos indgenas como um dos objetivos da expanso do
domnio portugus/nacional. Bem como a formalizao do direito terra para
um grupo especco: dos colonizadores que se tornam sesmeiros, a partir
de ato da administrao central da colnia e posteriormente do imprio. Da
perspectiva desse grupo, ento, a rea das matas ser simultaneamente um
local de atrao do gentio, a m de que se converta ao catolicismo (e tambm
que possa servir de mo de obra para o projeto colonizador); e, principalmente,
um espao de perigos, tanto sociais quanto naturais pois que local de feras
selvagens, mas tambm dos indgenas cujo ataque s fazendas e povoados
instaurados pelos colonizadores representa um risco constante.
J a rea das matas que compreende no somente as orestas mistas
de araucria, mas tambm os espaos de matos menos densos e regio das
beiras dos rios, denominadas localmente capoeiras possui muito menos
registros da formao de sua populao, e no se inclui na histria ocial
at meados do sculo XX. Isto porque o adensamento populacional aqui se
deu de maneira muito menos sistemtica e controlada pelo Estado, na medida
em que se baseava na ocupao pela posse de parcelas de terras livres.
Embora a ausncia de registros implique em uma preciso menor, possvel
levantar alguns aspectos que a caracterizam: uma populao formada por
descendentes dos indgenas regionais (normalmente no nomeados, mas que
podem ser identicados com aqueles ditos do lugar mesmo em contextos com
profundidade temporal de mais de um sculo), descendentes dos colonizadores
dos campos, e migrantes nacionais e internacionais que chegaram a Pinho
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
177
atravs de trajetrias muito diversas. Organizavam-se produtivamente segundo
a lgica do sistema faxinal: o estabelecimento de grandes reas abertas, no
interior das orestas de araucria, em que construam suas moradias, criavam
animais de grande e pequeno porte e faziam extrao de madeira, pinho,
erva-mate e outros produtos; e reas de lavouras familiarmente controladas e
separadas do criadouro comum por cercas, acidentes naturais ou signicativa
distncia das reas de residncia, criao e extrativismo. Nestas reas, em
geral, eram construdos paiis para o armazenamento da produo agrcola,
abrigo dos trabalhadores e, em alguns casos, moradia durante alguns perodos
do ano de intensicao do trabalho na roa.
Nas matas as madeireiras concentraram, a partir da dcada de 1950, suas
atividades. Com destaque para a madeireira Joo Jos Zattar S/A, que durante
um perodo chegou a (tentar) controlar mais da metade do atual territrio
do municpio de Pinho. Esta, segundo a biograa autorizada de um de seus
donos, iniciou suas atividades comprando as rvores que lhe interessavam,
principalmente pinheiros. Da compra, eram lavradas escrituras, assinadas
pelos proprietrios dos terrenos em que elas se encontravam. Na memria,
h registros de compras em que os donos, pensando assinar a escritura das
rvores, teriam assinado documentos de venda de suas terras, sendo expulsos
das mesmas. Posteriormente, as posses passaram a ser ameaadas, quando
a empresa iniciou um processo de reivindicao de propriedade de terras h
muito ocupadas, mas cuja ocupao no era formalizada tendo em vista ter
ocorrido no sistema de terras livres a que se fez referncia.
A madeireira implantou uma grande estrutura no municpio a m de
realizar suas atividades extrativas, com a edicao de vilas em torno de suas
principais serrarias, uma delas com o nome de Zattarlndia. Nesta ltima,
uma formao de cidade: igreja, escola, comrcio (descrito por moradores
locais como mais consolidado que o do povoado de Pinho), transporte, um
conjunto signicativo de casas organizadas segundo a hierarquia de seus
ocupantes, quase 600 habitantes no incio da dcada de 1990 (segundo Censo
Demogrco). Suas chegada e sada eram controladas por cancelas ao longo
da estrada. Tambm criou uma moeda prpria, aceita no comrcio das vilas,
com a qual pagava parte do salrio de seus funcionrios. E, ainda, um corpo
de funcionrios armados ociais e no ociais, os guardas e os jagunos
responsvel por impor as normas da empresa, controlar as atividades dos
moradores das regies em ela que atuava e, em vrios contextos, (tentar)
expuls-los de suas terras.
Embora inicialmente voltada para a extrao de madeira, a empresa
personicada no vocabulrio local por ser tratada como o Zattar decide
expandir suas atividades aps um perodo, passando tambm a explorar a
erva-mate e a comercializar terras. Para tanto, instaura um sistema de controle
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
178
e expropriao que, segundo Hamilton Jos da Silva, lder faxinalense local,
pode ser sintetizado no trip jaguno, contrato e cerca. Consiste, em linhas
gerais, na armao de propriedade sobre vastas reas territoriais controladas
h dcadas pela populao local (embora sem documentao ocial), atravs da
inviabilizao dos modos de produo tradicionais, a no ser que os ocupantes
assinassem contratos de arrendamento com um representante da madeireira.
Este, em geral armado e caracterizado como jaguno pelos moradores locais,
conseguia a assinatura dos contratos atravs da fora. Caso houvesse recusa
em tal assinatura, o resultado da produo do morador era conscado seja
agrcola ou de extrativismo. Criaes eram mortas ou machucadas. Em caso de
enfrentamentos maiores, a vida dos moradores era colocada em risco, casas e
paiis incendiados. Acrescente-se a esse sistema o m das terras livres e o
surgimento das cercas, que representaram o trmino dos espaos coletivamente
explorados e administrados.
A tal quadro se conjugou a venda de terrenos para fazendeiros e pequenos
proprietrios vindos de fora. No caso de fazendeiros, a venda foi normalmente
marcada pela intensicao dos conitos no sentido de expulsar os moradores
tradicionais de suas terras. J no dos pequenos proprietrios muitos deles
no herdeiros de famlias de camponeses do oeste do estado, descendentes de
gachos , as terras vendidas estavam previamente hipotecadas pela empresa,
trazendo a impossibilidade de ter acesso ao documento das terras, apesar da
compra. A chegada dos vindouros estabeleceu, por um lado, nova tenso
com os moradores locais, devido s diferentes concepes de produo dos
dois grupos o primeiro tendo como base de seu sistema a agricultura e
a criao fechada, e o segundo a lavoura protegida e a criao aberta de
animais. Gerou, tambm, uma nova categoria de posseiros: no mais aqueles
que no possuam documentos de propriedade por terem ocupado o territrio
no sistema de terras livres, mas tambm aqueles que, embora comprando
suas terras, no tiveram acesso aos documentos devido s irregularidades no
processo de venda.
As tenses se intensicaram a partir da dcada de 1970, com a
organizao da Associao das Famlias dos Trabalhadores Rurais de Pinho
na dcada de 1980 e a consolidao do Movimento dos Posseiros de Pinho
na dcada de 1990. Para tanto, a atuao da igreja catlica, atravs de seus
representantes na cidade, foi fundamental. Bem como a abertura poltica do
Brasil. O movimento, por sua vez, iniciou no princpio da dcada de 1990 um
processo de reocupao de reas cujos moradores haviam sido expulsos pela
ao da madeireira. Os conitos se tornaram mais violentos, o que provocou a
abertura de uma Comisso Parlamentar de Inqurito na Assembleia Legislativa
do Paran a m de apurar a violncia em Pinho, e levou a que a Romaria da
Terra fosse realizada, em 1994, na cidade. J a madeireira moveu uma srie de
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
179
processos de reintegrao de posse contra os ocupantes vrios deles ainda em
andamento, com a ameaa constante aos moradores de precisarem, a qualquer
momento, sair do territrio onde vivem. O movimento de posseiros, como
resposta, buscou apoio em outros movimentos nacionalmente constitudos,
que se instalaram no municpio: o Movimento Sem Terra (MST) e o Movimento
dos Pequenos Agricultores (MPA). Alm disso, j no sculo XXI, Pinho se torna
um dos primeiros articuladores do movimento faxinalense, organizado atravs
da Articulao Puxiro dos Povos Faxinalenses, e que d origem Rede Puxiro
dos Povos e Comunidades Tradicionais. O contato entre os representantes dos
vrios movimentos e os projetos polticos de cada um deles compem um
quadro complexo. Um ltimo aspecto relevante: a AFATRUP, nos ltimos anos,
tem suas atividades reduzidas, e d origem CooperAFATRUP, cooperativa
que comercializa os produtos dos moradores da regio das matas, e que teve
crescimento exponencial desde sua fundao.
Por outro lado, nas ltimas dcadas, a madeireira vive um perodo de
decadncia e desativao local. A Zattarlndia, que j se encontrava esvaziada e
parcialmente em runas h alguns anos, em 2012 foi praticamente desmontada.
Suas casas de madeira foram ou entregues para funcionrios como parte do
acerto nal, ou vendidas para terceiros. O escritrio, em escombros, permite
ver uma enorme quantidade de papis em decomposio, sujeitos ao do
tempo. A maioria dos funcionrios foi demitida, as atividades reduzidas a um
mnimo, o grupo armado que a empresa mantinha parou de atuar e os processos
de interferncia direta na vida dos moradores locais praticamente cessou.
Permanecem as ameaas de reintegrao de posse e a tentativa do movimento
dos posseiros de que o INCRA adquira os territrios ocupados e formalize o
direito dos moradores locais a eles. E um aspecto importante: vrias famlias
anteriormente ligadas Zattar continuam vivendo na cidade, em atividades e
relaes diversas com os demais moradores: colegas de trabalho, alunos das
mesmas turmas, vizinhos, professores, comerciantes, etc.
Mas a regio das matas marcada por outra atividade relevante, e que
afeta o perl do municpio: a construo da Usina Hidreltrica de Foz do Areia
pela COPEL, inaugurada em 1980 e a maior do Paran ainda hoje (2013).
Esta tambm provocou expulso de populao tradicional de suas reas de
origem e a inundao de vrios hectares de terra. Por outro lado, fez com que
parte dos habitantes do municpio, empregados nas obras, passasse a ter uma
insero no mercado de construo de hidreltricas, deslocando-se pelo pas
em trabalhos do gnero. E levou construo de Faxinal do Cu, uma vila bem
estruturada que no governo Jaime Lerner, a partir de um convnio com a COPEL,
se tornou o local de funcionamento da Universidade do Professor responsvel
por cursos de capacitao de professores da rede pblica estadual de ensino,
de cursos para indgenas do Paran e de outras atividades de formao. Embora
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
180
muito conhecida no estado, principalmente pelos prossionais da educao, a
Universidade do Professor no fez com que se soubesse mais sobre o municpio
de Pinho, ou que houvesse uma maior interao entre os frequentadores de
Faxinal do Cu e os habitantes locais. Foi fechada no incio do mandato Beto
Richa, em 2011, com consequncias danosas signicativas principalmente
para proprietrios comerciais e funcionrios locais que trabalhavam para as
empresas prestadoras de servios para a Secretaria de Educao do Paran.
J os impactos mais amplos das hidreltricas no foram bem explorados pela
equipe do projeto Memrias dos Povos do Campo.
O esboo acima, embora simplicado, permite perceber a complexidade
do contexto de Pinho, oferecendo um quadro a partir do qual orientar as
interpretaes do material que ser analisado a seguir. Aponta dinmicas
que resultam em mudanas expressivas ao longo do ltimo sculo, com
agentes diversicados e conitos mltiplos e de alto grau de intensidade. O
investimento de moradores locais no sentido de narrar sua histria permite ver
a complexidade sob outra perspectiva: da agncia dos sujeitos na construo de
seu passado, a partir de seu presente e de sua projeo de futuro construo
esta que, por sua vez, tambm um elemento chave na elaborao do presente
e do futuro. A anlise a seguir prope trazer para o leitor um pouco desse
processo, tendo por base a considerao de relatos mltiplos e variados sobre
o Pinho de outros tempos.
1. O que se escreve sobre o prprio passado
Pinho conta, entre seus moradores, com autores que se dedicaram a escrever
sobre a histria do municpio, bem como sobre suas memrias e reexes acerca
do passado e do presente. Ao longo dos quatro anos de pesquisa do projeto
Memrias dos Povos do Campo, foi possvel entrar em contato com algumas
destas produes. Duas delas, Por que nosso municpio chama-se Pinho?,
de Jos Silvrio de Camargo, e O Pinho que eu conheci, de Renato Passos,
publicadas em edies locais e acessveis atravs das famlias dos autores. Uma
terceira, coletivamente produzida pela equipe da Escola Rural Municipal Norberto
Serpio, disponvel em cpia de verso datilografada na secretaria da Escola
Rural Estadual Izaltino Bastos. E, ainda, a Agenda de Joo Oliverto de Campos,
manuscrita, de posse do autor, e que um texto em constante elaborao. As
duas ltimas obras com o reconhecimento de que a Agenda uma verso no
concluda so levadas a pblico pela primeira vez neste livro. Acrescente-se
terem sido todas elas elaboradas ou nalizadas nas ltimas duas dcadas.
Este conjunto de textos um material de reexo bastante rico. Os autores no
somente tm pers muito distintos, mas tambm se colocam objetivos diversos,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
181
e apresentam posturas e recortes diferenciados. Embora no tenha sido possvel
avaliar seus impactos no contexto mais amplo, seus escritores so reconhecidos
como referncias importantes no municpio, e foi este reconhecimento que nos
levou a alguns deles. Pensar, portanto, nas temticas presentes em cada obra,
na forma em que se estruturam e como abordam questes relevantes ajuda a
compreender a maneira de registrar o passado dos autores locais.
Por que nosso municpio chama-se Pinho? Jos Silvrio de
Camargo
Nascido em 1911 em SantAna Pinho, pertencente famlia de dois
dos primeiros sesmeiros da regio, Jos Silvrio de Camargo foi fotgrafo e
professor primrio estadual. Neste livro, nalizado e preparado para edio por
sua neta, Neusa Maria Amaral Camargo de Almeida, traz um misto de pesquisa
e conhecimento por sua prpria trajetria, complementado por inmeras
imagens a que sua prosso de fotgrafo permitiu ter acesso e produzir. J na
Introduo, o autor assim apresenta seu texto:
No seguimento das notas deste livro, meu objetivo fazer um
levantamento histrico do passado de nosso torro bendito, de nossa
gente, tanto dos parentes como daqueles que imigraram para c,
atrados pela fertilidade do solo de nossa querida terra.
Irei medida do possvel, sujeitar-me a um merecido sacrifcio mental
e intelectual, para produzir uma redao histrica, de forma a provar
o PORQU DO NOSSO MUNICPIO CHAMAR-SE PINHO e tambm a
diculdade que nossos predecessores enfrentaram para conseguirem
apropriar-se dos campos, faxinais e densas matas, daquela poca
(s.d.: 8).
A m de realizar seu projeto, o autor faz uma retomada histrica que vai
desde o descobrimento das Amricas at a chegada, em terras pertencentes ao
atual municpio de Pinho, dos primeiros colonizadores o que, segundo ele,
teria acontecido j desde o sculo XVII, com a Bandeira de Raposo Tavares. Mas
a partir da segunda metade do sculo seguinte que se inicia efetivamente
o povoamento (reconhecido) dos Campos de Guarapuava, atravs, segundo
Camargo, dos Campos de Pinho. , portanto, a partir da presena ocial dos
colonizadores nas reas de campos, principalmente aps a caravana de Diogo
Pinto de Azevedo Portugal, no incio do sculo XIX, que se pode contar a
histria do municpio. Esta tem como momento fundamental a distribuio das
primeiras quatro sesmarias, ainda no perodo colonial, e a xao do marco
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
182
rgio, denidor do ponto de divisa comum s sesmarias. A identicao dos
donatrios e de sua descendncia, bem como da rvore genealgica das famlias
que contam
8
para a histria municipal, ocupa parte signicativa do livro: o
intervalo entre as pginas 48 e 130 (de um total de 159 pginas) dedicado
exclusivamente a isto, mas a nomeao de moradores o eixo de toda a obra.
tambm o perodo do estabelecimento das sesmarias nas reas de campos
de Pinho que fornece o nome ao municpio nome de um dos primeiros
quatro imveis distribudos pela coroa (embora o autor reconhea a presena
signicativa de pinheiros e de seus frutos no local, na regio das matas).
O nal do sec. XIX passa a ser o momento a partir do qual o autor inicia
um relato mais detalhado sobre o local. So citadas como datas relevantes
1892, em que se implanta o Distrito Judicirio de Pinho e Reserva, e 1893,
quando toma posse o primeiro tabelio do cartrio do distrito. Neste perodo,
a precariedade de infraestrutura se destaca como a grande caracterstica:
ausncia de estradas, de comrcio, farmcia, necessidade de grandes viagens
para adquirir bens de consumo bsicos, como sal, acar e tecido. At que, no
incio do sec. XX, surge a casa de comrcio daqueles que seriam os doadores
do terreno para a construo da cidade:
Em 1909 surgiu aqui a 1. casa de comrcio: Casa de Comrcio Lus
Dell & Filho.
Sr. Lus Dell ao chegar aqui, comprou uma rea de terras e iniciou o
ramo de comrcio onde havia o boteco do Job, que por ter assassinado
cruelmente seu padrasto, teve de deixar o lugar indo embora para um
lugar ignorado.
Mais tarde, quando Francisco Dell estava administrando o comrcio,
doou uma rea de terras para a construo da cidade (:40).
O trecho acima transcrito signicativo em termos das informaes que
traz frente quelas que omite. Assim, embora faa referncia a um comrcio
prvio, um boteco, de algum a que se refere pelo primeiro nome, Job, com
a chegada dos Dell, que so tratados por nome e sobrenome, que surge a 1.
casa de comrcio. Alm disso, h uma referncia ao assassinato do padrasto
sem maiores detalhes
9
. Por outro lado, no h tambm um silenciamento sobre
8
O uso do termo remete ao debate realizado por Comerford (2003), em que o autor, analisando
um contexto em Minas Gerais, mostra como, nas histrias locais, h famlias que contam e
outras que no contam.
9
Em um contexto de conversa com um morador local, a histria narrada em detalhes: Job
teria ido at a fazenda de seu padrinho para roub-lo. Matou-o e feriu gravemente sua madrinha,
que morreu pouco tempo depois. No viu, contudo, que uma menina criada pelo casal havia
se escondido debaixo da cama. Ela no apenas reconheceu a voz do agressor, mas tambm foi
em busca de socorro logo que Job abandonou o local. Socorro que chegou a tempo de ouvir a
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
183
o crime, que aparece, mas no esclarecido e que no um crime comum,
anal apresentado como assassinato de um padrasto. Assim, embora no
explorada, a violncia se manifesta presente j nos primeiros momentos de
constituio do povoado, em seu mito de origem.
A narrativa continua com o relato da chegada de um enfermeiro, Trifon
Hanycz, e um professor, Pedro Antnio de Carvalho, e das condies precrias
de trabalho de ambos: o primeiro atendendo em sua casa, o outro ministrando
aulas em um ranchinho de pau-a-pique coberto de folhas de palmeira,
depois na igrejinha tambm de pau-a-pique. As diculdades de transporte
e infraestrutura continuam sendo destacadas neste perodo que, segundo
Camargo, ainda fase de colonizao. Os nomes dos imigrantes ilustres do
perodo permanecem o grande eixo do livro.
A dcada de 1940 recebe maior destaque, e aparece atravs da reconstruo
da igreja do Divino Esprito Santo (com madeiras doadas por Joo Mansur
10
) e
vinda do 1. proco local, da aquisio do primeiro prdio para a construo
da escola, do incio das atividades do autor como professor, da presena de
representante do distrito na Cmara de Guarapuava, da produo da erva-mate
e da chegada das madeireiras. Estes dois ltimos itens so assim abordados:
Foi ainda nessa dcada que as Indstrias Madeireiras chegaram em
Pinho. Na poca isso podia ser visto como progresso e hoje no mais.
As madeireiras foram responsveis pelo desmatamento incontrolado,
a extino da araucria que at ento era abundante e tambm a
desapropriao ilcita dos verdadeiros donos da terra, o que faz com
que at hoje Pinho seja notcia nacional e at internacional com os
conitos de terras.
A erva-mate nativa por essas datas, era comercializada pelos seus donos,
que extraa e secava nos barbaqus e vendiam pela medida de arrouba
(15 kg) para Marechal Mallet. O transporte era feito por cargueiros ou
seja, as tropas. A erva-mate tinha um grande valor comercial.
conrmao da mulher agonizante de que teria sido seu alhado o responsvel pelo ocorrido.
A violncia e crueldade do ataque motivaram, ento, a reunio de inmeros homens armados,
com a disposio de linchar Job pelo que havia feito. Tomando conhecimento dos riscos que
corria, ele se dirigiu a Guarapuava para se entregar polcia, tentando evitar sua morte. Antes,
porm, teria dado as chaves de seu comrcio para Lus Dell, que armou no ter como pag-lo.
Ele retruca que, no futuro, voltaria para receber, o que nunca ocorreu. A famlia Dell se torna,
a partir de ento, uma das grandes potncias comerciais locais.
Posteriormente, Camargo aborda um pouco mais este episdio no livro, ao falar de duas netas
de Silvrio Antnio de Oliveira, Leopoldina e Joaquina, sobre as quais no possui informaes.
Escreve: No entanto, ao ser narrado o trgico assassinato de Antnio Laurindo, praticado por
seu lho adotivo Job Fernandes de Azevedo, descrevia que a mulher de Antnio Laurindo havia
cado louca ao presenciar o acontecido. Narrava tambm que essa mulher era lha de Joo
Damasceno de Oliveira, a qual presume-se que fosse a de nome Leopoldina ou Joaquina (:68).
10
O grupo Mansur, segundo Passos (s.d.), foi um dos primeiros a instalar serrarias na regio.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
184
Novamente, neste trecho, silncios e indcios importantes para se
compreender a relao dos moradores de Pinho com seu passado. A chegada das
madeireiras, que mudam o perl do municpio em vrios aspectos econmico,
demogrco, poltico, social, ambiental , bem como provocam conitos que
fazem Pinho ser notcia nacional e at internacional, referenciada apenas
em seu primeiro momento. No h, ao longo do texto, qualquer anlise da
atuao e dos impactos provocados pelas madeireiras. Acrescente-se que, se
o autor fala dos verdadeiros donos da terra, no esclarece quem seriam
eles, o que ocorreu, suas lutas e processos de resistncia expropriao.
Alm disso, as madeireiras so abordadas de maneira genrica, no havendo
referncia especca Joo Jos Zattar S/A, que durante um perodo se armou
proprietria de parte signicativa das terras do atual municpio de Pinho
11
e foi/ um dos grandes eixos dos conitos fundirios no municpio. Silncio
que, como se explicitar ao longo do texto, marca boa parte dos relatos de
moradores locais sobre o passado.
referncia s madeireiras se segue a armao da importncia da
extrao da erva-mate. Atividade realizada nas reas de matas do municpio
(especicamente nos faxinais), exatamente pela populao que entrar em
conito com a Zattar. No entanto, existe uma invisibilidade desta populao
ao longo de todo o texto: o povoamento ocorre pelos campos, so as famlias a
xadas e os imigrantes que vm para a sede do municpio as grandes referncias
das famlias que contam, os conitos vividos pelos moradores das regies
das matas, dos faxinais, no fazem parte da histria. Haver, apenas, ao nal
do livro, a nomeao dos faxinais, com a identicao de alguns dos primeiros
habitantes, ou dos motivos dos nomes locais adotados.
As dcadas seguintes, de 1950 a 1990, so descritas, por sua vez, a partir de
acontecimentos mais pontuais: a fundao da Parquia do Divino Esprito Santo
(1953), a emancipao poltica do municpio (1964), a criao de trs distritos
(1965), a abertura da primeira agncia bancria (1972), o incio da construo
da hidreltrica na juno do Rio DAreia com o Rio Iguau (1975), a referncia
inaugurao posterior da hidreltrica Segredo, tambm no Rio Iguau. Com
relao s hidreltricas, novamente se destaca a postura crtica do autor, embora
sem desenvolver em maiores detalhes sua perspectiva. assim que arma:
o progresso que chegou, mas junto a ele chegou a destruio. Para
construir essas hidreltricas, quantos alqueires caram submersos,
sem que para nada mais servem... Alm disso, quantos seres humanos
e animais foram desapropriados de suas habitaes, e ainda rvores
11
Passos (s.d.) arma que eles chegaram a ter mais de 43.000 alqueires de terras em Pinho o
que corresponde a mais de 50% da rea atual do municpio.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
185
e outras espcies de vegetais que l entregaram suas vidas sem nem
gritarem por socorro (:47).
Novamente, questes signicativas aparecem de maneira indireta: os
conitos sociais provocados pelo progresso, as expropriaes, a destruio
ambiental. No entanto, como no trecho sobre as madeireiras, os indcios no
se transformam em narrativas mais detalhadas sobre os processos. Assim,
embora haja uma referncia especca, no penltimo pargrafo do captulo, a
questes polticas, pode-se pensar que ele bastante ilustrativo da maneira
como se constroem os discursos e os silncios:
Para concluir este captulo de memrias sobre o Pinho gostaria de
dizer que assim como o Pinho tem histrias bonitas como estas
que at aqui escrevi, tem tambm histrias que envergonham seus
muncipes. Foram momentos marcados por pessoas que deixaram
nosso Municpio em verdadeiro descaso (:47).
A um pinhoense orgulhoso de suas origens, com signicativa atuao
como fotgrafo e professor, estudioso da histria do municpio, e que se inclui
entre aqueles que amam esse torro, no adequado escrever sobre tudo.
O silncio das histrias que envergonham no sinnimo de esquecimento,
mas de respeito e admirao pela terra natal.
Por outro lado, h uma temtica que merece toda ateno: as histrias
familiares. Histrias que tm como ponto de partida as primeiras fazendas
instaladas nos campos, a partir do imvel Pinho (de Silvrio Antnio de
Oliveira) e da sesmaria de Gernimo Jos de Caldas. Concentram-se nas rvores
genealgicas que representam a descendncia dos principais colonizadores.
A elas se vinculam, tambm, alguns registros da estrutura fundiria e o
destaque de atividades polticas e econmicas de pessoas especcas. Com
relao aos cnjuges que no fazem parte das famlias, pouca informao,
com exceo da origem europeia de alguns, como Francisco Dell (suo) ou
Carlos Stouth Junior (ingls), a caracterizao como escravo livre de Francisco
Nunes e, principalmente, a descendncia, na famlia de Gernimo Jos de
Caldas, de duas irms indgenas lhas do cacique Guairac. Uma delas, Ana
Balaia, abusada por Francisco Ferreira Caldas quando cedida para trabalhar
como criada, e cujo lho Procpio Ferreira Caldas se torna genitor de famlia
numerosa, descrita por Camargo inclusive da av do autor. A segunda, Ana
Anhangu, casada ocialmente com o primeiro lho de Gernimo, Salvador da
Silveira Caldas, e com descendncia tambm relevante entre os quais o av
de Camargo. Em ambos os casos, contudo, uma relao desigual entre homens
brancos colonizadores e mulheres ndias que se explicita pela ameaa dos
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
186
ndios Fortaleza quando sabem que Anhangu, a ndia casada, l se encontra
(o que ocorre logo aps o nascimento de um lho seu).
Com efeito, a partir da referncia s duas ndias ancestrais, a temtica
da relao com os ndios e dos conitos dela decorrentes passam a aparecer
no texto, pela narrao de eventos tanto relatados por mais velhos quanto
presentes na literatura. O risco era uma constante para aqueles que viviam na
rea da fazenda de Salvador Silveira Caldas, a Casa de Pedras, pois levavam
uma vida atribulada, rodeada de insegurana e da expectativa dos ataques dos
ndios (:133). Ou seja, uma relao conituosa descrita a partir da perspectiva
dos colonizadores. No por acaso, a experincia de sertanista de Salvador que,
tendo uma relao ao mesmo tempo prxima e tensa com os ndios, permite
que o contato entre os grupos no implique na destruio dos colonizadores.
Conhece a lngua, casado com uma ndia, mas tambm mantm uma postura
de desconana e distncia segura. E, quando necessrio, arma seu poder,
como se explicita no seguinte relato:
Quando meu av Manoel da Silveira Caldas (lho de Salvador), tinha
apenas 5 dias de vida, um grande nmero de ndios atacou a Casa de
Pedras, por saber que a Anhangu estava ali.
Salvador e Chico Paulista saram cada um com uma espingarda na
mo. Salvador sabia o idioma dos ndios, e ento comeou a dar-lhes
conselhos benignos. Dialogando com o Cacique, exigiu que zesse
os ndios sentarem-se em la num barranco da estrada que ia para o
capo. Assim, o que estava mais prximo deveria car bem afastado
da casa.
S que os ndios, usaram de uma artimanha: o ltimo que estava
na la, cava em p e vinha sentar-se mais perto da casa, e assim
foram se revezando. Isso acontecia, enquanto os moradores da casa
negociavam com o Cacique.
Para no dar problema me, as outras mulheres fecharam a porta
da Fortaleza. Ento, os homens estavam em situao desesperadora.
Mas, para alvio deles, os ndios pediram pssego. Salvador lhes
ordenou que subissem nos ps de pssego e comessem vontade.
Quando havia muitos em cima do pessegueiro e mais alguns por ali,
o cacique pediu que queria ver dar um tiro com aquela arma.
Imediatamente Salvador fez pontaria na cabea de uma tronqueira
e atirou em seguida. A tronqueira esfaixou-se, voando lascas para
todos os lados.
Foi a salvao. Todos os ndios at os que estavam no pessegueiro,
caram por terra e continuaram muito assustados. S assim se
renderam e pediram paz (:134/135).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
187
Os embates entre colonizadores e indgenas e a armao de poder dos
primeiros no so uma dinmica apenas local, mas tambm regional. assim
que, ao falar de Guarapuava no dia da independncia do Brasil, o autor relata
como esta coincide com a morte de uma menina ndia de apenas trs anos, logo
aps ser batizada. sepultada pelo Pe. Chagas, que ao amanhecer se regozijava
pelo sucesso de sua empreitada catequizadora, mas tambm temia um ataque
indgena, que poderia provocar a destruio completa de tudo aquilo que ali
estava, o fracasso da conquista (:144). Ao sepultamento comparecem todos
os moradores do povoado, no devido vtima, mas celebrao do padre. Nas
palavras do autor:
O corpinho de Maria foi como pedra fundamental, assentada nesse
dia memorvel, do templo que se elevou mais trade em homenagem
Virgem de Belm, Padroeira da Diocese de Guarapuava.
(...)
Depois que o Pe. Chagas zera o sepultamento da bugrinha Maria, no
largo destinado construo da Igreja da Freguesia, a me da citada
bugrinha morta, vinha diariamente at a lagoa prxima da aldeia
para ali chorar copiosamente a morte da lha.
Essa lagoa existe at hoje, muito bem zelada e pavimentada e tem
o nome de Lagoa das Lgrimas (:145/146).
As duas histrias acima narradas so muito signicativas. Elas reconhecem
a importncia regional e local da presena indgena, e o processo de
colonizao como tenso e impositivo. Casar-se com Anhangu no signica
estabelecer relaes amistosas, o ataque dos ndios indica como a concebem
como prisioneira. Alm disso, possvel se aproximar, conversar, mesmo dar
conselhos, mas o sucesso da empreitada ocorre a partir da demonstrao da
superioridade de fora blica. E sobre o corpo de uma menina ndia que se
constri o templo catlico
12
de Guarapuava, que na perspectiva do padre
sinnimo da conquista. Conquista que no aceita de forma tranquila, pois
o risco de ataques indgenas paira no ar, e a me da criana continua chorando
todos os dias, na Lagoa das Lgrimas (muito bem zelada e pavimentada at a
atualidade) a sua morte.
Acrescente-se que o marido de Anhangu o possuidor da primeira imagem
catlica das terras de Pinho, SantAna, a ele doada por sua me pouco antes
de sua morte. Esta imagem tinha o poder de proteger as mulheres moradoras
da Casa de Pedras, quando sozinhas, dos ataques indgenas. Posteriormente,
12
interessante observar que a presena de crianas mortas surge tambm em gua Morna,
comunidade quilombola situada no norte pioneiro do Paran, como elemento de sacralizao do
territrio (cf. Porto et al., 2009).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
188
o lho de Salvador constri uma igreja em homenagem santa. O catolicismo
, ressalte-se, outro aspecto relevante das narrativas nais do livro, quando
o passado mais remoto retomado podendo ser o presente, no entanto,
lido a partir dessas histrias distantes. Mas no apenas o catolicismo ocial,
colonizador. O autor tambm destaca a presena local de Joo Maria de
Agostinho conhecido em todo o interior do Paran como So Joo Maria, santo
no cannico e profeta muito relevante na religiosidade popular regional
13
.
Nesta parte h, ainda, um ltimo aspecto destacado pelo autor que ajuda
a delinear perspectivas recorrentes dos habitantes de Pinho sobre sua prpria
terra: a questo da valentia dos habitantes locais (e regionais). assim que,
ao abordar o nome dado a Guarapuava, retoma texto escrito por Pe. Chagas em
1809. Neste o proco relata terem sertanistas, em momento anterior, prendido
uma arara pelo p, e esta, a m de se libertar e incapaz de romper a corrente,
cortado sua prpria perna. A denominao local seria, assim, a conjuno
dos termos Guar e Puava pssaro pequeno (...) e ave brava que no
rasteira, mas voadora, veloz (:140)
14
. Ou ainda, a partir de Romrio Martins,
a conjugao de termos signicando rudos de ces selvagens, ou na verso de
Daniel Cleve, lobo bravo.
E a caracterstica de braveza no se restringe natureza, mas tambm
se aplica aos habitantes locais. A valentia, que se reete nas relaes
cotidianas, ilustrada em um aventureiro que marcou poca tanto na histria
do Pinho como de Guarapuava, do Paran e porque no dizer do Brasil
(:146). De nome Ferreiro, segundo contam tal aventureiro era to forte que
conseguia desatolar uma vaca de um lamaal puxando-a pelo rabo. Alm disso,
teria uma vez sado com um amigo procura de onas, e quando balearam um
espcime, Ferreiro teria dado uma surra de rabo de tatu no bicho agonizante.
Ao narrarem o ocorrido para a mulher do amigo de Ferreiro, esta retrucou no
haver nenhuma vantagem no feito, pois o bicho j estava morto. Ferreiro
saiu, ento, no dia seguinte, acompanhado apenas de cachorros, e voltou com
um tigre morto, que jogou aos ps da mulher, armando t-lo matado apenas a
rabo de tatu. Alguns homens analisaram o corpo do animal e no encontraram
ferimento de faca ou arma de fogo. E, embora aventureiro, o valente deixa suas
marcas no municpio: Ferreiro possui vrios descendentes em Pinho.
A riqueza e quantidade de informaes presentes no livro de Jos Silvrio
de Camargo fazem com que qualquer tentativa de esgot-lo como ocorrer
tambm com relao aos demais textos analisados seja infrutfera. No entanto,
possvel perceber como a histria de Pinho contada por ele perpassada por
13
H produo acadmica relevante sobre So Joo Maria. Sugiro como fonte de referncias
Porto et al. (2012).
14
Curiosamente, no texto do padre no h qualquer referncia ao carter bravo da ave, mas
apenas a sua condio de voadora e veloz (cf. Lima, 1852).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
189
selees de temticas, de nomes, de pocas e silncios. O passado prximo
desaparece do texto, dinmicas de conito so muito mais indicadas que
exploradas, e o reconhecimento da existncia de histrias que envergonham
faz com que certos caminhos narrativos sejam privilegiados, enquanto outros
evitados. Mas pode-se pensar em que medida os relatos ao nal do livro, centrados
no perodo colonizador, tambm falam de processos do tempo da redao do
texto: a imposio de um modelo dominador, a resistncia dos expropriados,
os conitos e o uso da fora (das armas). Tambm interessante observar que
vrias das estratgias e escolhas feitas por Camargo so mobilizadas por outros
narradores, seja no discurso escrito ou oral como se explicitar a seguir.
O Pinho que eu conheci Renato Ferreira Passos
Tambm descendente das famlias de Silvrio Antnio de Oliveira e
Gernimo Jos de Caldas (cf. Camargo, s.d.), Renato Ferreira Passos nasceu
em 1934 em Pinho. Atuou como Agente Fiscal da Secretaria da Fazenda do
Estado do Paran, principalmente no municpio natal, tendo se aposentado em
1983. Em 1992, publicou a primeira edio do livro O Pinho que eu conheci.
Posteriormente, preparou uma segunda edio, ampliada, infelizmente ainda
no publicada, a que tivemos acesso em verso digital. A anlise a seguir se
refere a esse texto digitalizado.
A proposta de Passos elaborar um registro de suas memrias, que possa
fornecer ao leitor pensado como os conterrneos das geraes mais novas
informaes interessantes sobre a histria local, tendo como foco a Vila de
Pinho, principalmente a partir da dcada de 1940 (perodo de sua infncia). O
livro, assim, na segunda edio dividido em trs partes: 1) episdios vividos
e rememorados pelo prprio autor, 2) episdios narrados por testemunhas, 3)
divulgao de aspectos relevantes da histria ocial local, j publicados. No
h, arma o autor, preocupao com a cronologia, mas com o interesse e a
possibilidade de uma leitura agradvel. Alm disso, as duas primeiras partes
so o corpo do livro, mais signicativas que a ltima, acrescentada nessa
segunda edio.
curioso observar que a narrativa dos episdios interessantes de seu
passado se inicia com uma temtica recorrente nas trajetrias de famlia
locais, principalmente dos moradores das reas de faxinais: a guerra. No
entanto, aqui no como uma guerra genrica e que caracteriza o passado
dos ancestrais antes de sua chegada a Pinho
15
, mas como algo distante,
15
Esta perspectiva da guerra ca bem clara nos textos dos alunos da E. E. Izaltino Bastos, como
ser abordado no prximo item.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
190
ameaador, incompreensvel, e que mesmo assim afetou signicativamente
a vida dos moradores locais. Estes sofreram pela carestia, foram privados de
bens de necessidade como sal e acar. E, ainda, alguns jovens do local
foram convocados para servir. Em seu primeiro relato, Passos fala do relativo
isolamento da vila, que recebe notcias a cada quinze dias, atravs dos jornais e
revistas trazidos por um estafeta. Notcias aguardadas, principalmente ao longo
da Segunda Guerra Mundial. H uma sensao de risco iminente inclusive de
invaso do Brasil , vinculada a um desconhecimento das questes polticas e
geogrcas da guerra. Na narrativa, observa-se como comicidade do fato se
alia uma caracterizao de Pinho, marcada pela rusticidade:
Naquele tempo, automvel era raridade por aqui. De vez em quando
surgia um Ford p de bode l na estrada que vinha de Guarapuava,
fazendo a festa da piazada, todos correndo atrs dele.
Naquela tarde, porm, a monotonia foi quebrada, pois de repente,
um rudo forte de motores comeou a ser ouvido, vindo do lado
do poente. No demorou muito e apareceu na curva do corredor do
Dell, uma frota de caminhes, todos cobertos com lona. Foram
chegando e pararam um ao lado do outro, na campina em frente
Igreja. Eram cinco caminhes ao todo, que logo foram despejando
uma gente esquisita. O homem trajando roupas diferentes das que
estava acostumado a ver. As mulheres com vestidos compridos e
cores berrantes.
Algum mencionou que eram os alemes.
Foi um Deus nos acuda. Todos trataram de fugir o mais depressa
possvel.
Os que moravam na Vila, correram paras suas casas e os sitiantes,
montaram seus cavalos, cutucando as ilhargas dos pobres animais
com as esporas e surrando dos dois lados com o rebenque, fugiram
em disparada.
Na escola, que funcionava na Igreja, o susto no foi menor. A
professora desesperada, pedia ajuda em uma das janelas.
Meu pai e um carpinteiro chamado Pedro Candinho, que estava
trabalhando na reforma da nossa casa, correram para l a m de
prestar auxlio s crianas, pois algumas delas comearam a desmaiar.
Sendo necessrio levar algumas delas s costas at suas casas.
Os ocupantes dos caminhes foram logo erguendo barracas na
campina e nessa altura, suas mulheres j andavam batendo de porta
em porta, oferecendo suas mercadorias, que eram na maioria, tachos
de cobre de sua prpria fabricao, no fundo dos quais, batiam com
pedao de ferro guisa de propaganda.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
191
Passado o susto, logo se viu que no era o temvel Exrcito de Hitler,
mas inofensivos ciganos (:5/6).
A aparente temvel ameaa, contudo, no to inofensiva assim: os
ciganos importunam os moradores locais, extorquem alguns mais ingnuos,
perturbam o sossego da Vila com brigas, at que assim como vieram vo
embora: Deixaram apenas os vestgios e muito lixo no local (:7).
aps esta narrativa que Passos descreve a vila no seu tempo de criana:
um povoado com apenas dezessete casas (de madeira, a maioria coberta de
tbuas lascadas de pinheiro), duas estradas margeadas pelas casas, duas casas
de negcios, sapataria, aougue, selaria, correio a cada quinze dias, igreja em
que tambm funciona a escola e cerca de oitenta moradores. Um local tranquilo,
marcado pelo silncio, canto dos pssaros, cercado por pinheirais. E, tambm,
pela amizade entre seus moradores, pois naquele tempo no havia poltica
(:8). Um bosque nos fundos de sua casa, onde teria morado um comerciante
muito rico, que ali teria enterrado um tesouro. Em sntese, simplicidade e
rusticidade, temas que so centrais nas construes dos pinhoenses sobre seu
passado como se evidencia tambm no texto de Camargo e ser recorrente
nas prximas narrativas analisadas.
Posteriormente, o tema retorna ao falar dos transportes no Pinho da
dcada de 1940. Apenas cavalos e carroas, que marcavam a paisagem e a
dinmica local:
Em frente s casas comerciais, tinha sempre uma leira de roletes
compridos, bem pregados em fortes esteios, que serviam para os
fregueses amarrar seus cavalos.
O cortejo dos casamentos, quando este era realizado no cartrio, que
era em uma chcara que cava atrs do cemitrio, vinha a cavalo.
Os noivos a frente, ele de terno e gravata e a noiva toda vestida
de branco, com o vestido cobrindo o lombo do cavalo. Os cavalos
enfeitados com tas coloridas por sobre as cabeas.
Na volta passavam pela Vila soltando foguetes.
Uma vez, um noivo estava vestido de terno branco e havia chovido
muito, ento, o cavalo do noivo escorregou num boeiro que havia no
corredor do Dell, caindo e dando um banho de lama no noivo, para
divertimento nosso, que de longe presenciamos.
Os fazendeiros quando vinham Vila para fazer compras, era de
carroas puxadas por dois cavalos.
Nos dias de festa na Igreja, ou quando o Padre vinha de Guarapuava,
para ministrar os sacramentos aos is, havia um congestionamento
no trnsito nas proximidades da Igreja, pelas carroas estacionadas
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
192
a torto e a direito.
As vezes, os cavalos assustavam-se com os foguetes que soltavam e
disparavam com as carroas provocando acidentes.
O transporte de mercadorias para o abastecimento da populao, era
feito em carroes enormes, puxados por oito cavalos.
A rusticidade cria situaes inusitadas. Passos relata a necessidade de
sua me, a primeira professora pblica local, cancelar sua aula devido a um
(estranho) velrio. E de um aluno que, sem saber do ocorrido porque vindo a
cavalo (provavelmente da zona rural), se depara com o velrio e sai desesperado
a procurar a professora em sua casa.
O terceiro captulo, por sua vez, aborda a Igreja e as celebraes semestrais
das missas, com sua capacidade de mobilizar a populao da zona rural que
enchia a cidade e se hospedava nas casas dos amigos, parentes, compadres. Eram
nesses momentos que tambm se celebravam batizados e casamentos. Tambm
as festas religiosas: Divino, SantAna, Natal. Vemos, assim, o surgimento de
trs temticas relevantes tambm em vrias das demais narrativas sobre o
passado: a guerra, a rusticidade, a religiosidade. Mais uma temtica apontada:
a valentia, expressa tanto na gura do famoso valento que conheceu na
festa de Natal quanto do delegado duro do captulo seguinte. O primeiro,
comportando-se muito bem na festa, apesar de ter adquirido sua fama em
brigas na vila e permanecido um tempo na penitenciria do estado. O segundo,
talvez devido a pragas rogadas por mes de jovens punidos de maneira muito
dura, afogando-se no Rio DAreia, e sucedido por outro menos truculento.
Seguem-se as narrativas de episdios presenciados pelo autor: a presena
de um mdico na cidade, que l reside por pouco tempo, sofrendo perseguies
devido desconana dos moradores; o circo que permaneceu na vila por trs
meses, com arquibancadas lotadas (evidenciando o grande nmero de populao
rural local, a caipirada que vinha dos arredores); a fundao do Clube Unio
e Progresso, que aps um tempo funcionando bem, ao decidir se abrir para
festas de casamento, decaiu devido s desordens e a um homicdio ocorrido
em suas dependncias; os fantasmas do Pinho: o tropel do cavaleiro que
vinha da regio do cemitrio nas noites escuras, gritos desesperados vindos
dos lados da cachoeira, o fogo do capo do Felcio; a praga dos gafanhotos
em 1946, que destruiu a vegetao local; a visita de Ademar de Barros
regio, com o objetivo de caar aves nativas, que atraiu outros caadores de
fora, prejudicando a fauna local atividade continuada pelos funcionrios das
madeireiras nas dcadas posteriores; a visita de Moyss Lupion a Pinho em
1948; a chegada do primeiro vigrio; os loucos do Pinho: Nh T, Nh Lusa,
Paralio, Antnio Vesgo, Pantaleo, os irmos mudos Sebastio e Pedro Chagas.
Passos tambm traz algumas informaes sobre sua famlia, outro tema,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
193
como j apontado, importante nos relatos de moradores locais sobre o passado.
Ressalta o lugar de sua me, Clara Passos Ferreira, como primeira professora
ocial de Pinho; a atuao de seu pai, Joaquim Ferreira Neto, como segundo
agente dos correios; a ocupao, por seu irmo Sebastio Passos Ferreira, do
cargo de prefeito entre 1969 e 1972.
No captulo intitulado massacre dos pinheiros, alm de relatar o corte
de um pinheiral a m de construir um loteamento para a Vila, tambm traz
algumas observaes importantes sobre o lugar. Neste trecho, o autor explicita
a localizao do povoado e como os pinheiros marcam a paisagem e a vida dos
moradores:
Quem idealizou a localizao da Vila do Pinho, deve ter vindo
do lado dos campos e ao chegar aqui, achou o lugar ideal para
morar, sombra acolhedora de frondosos pinheiros, que naquele
tempo existiam aqui em abundncia, pois a povoao foi iniciada
exatamente na linha onde a oresta encontra-se com os campos.
(...)
Quantos pinheiros havia. Para qualquer lado que se olhasse, via-se as
copas unidas lado a lado, parecendo um oceano verde.
Havia pinheiro de todo porte. Os novinhos e tenros, que na vspera
do Natal, meu pai ia cortar um desses para mame enfeitar com
bolinhas coloridas e com um prespio embaixo dos galhos.
Havia os frondosos, com galhos at o cho, permitindo que se
apanhasse as pinhas com as mos.
Havia os gigantes, com os galhos voltados para cima, em forma de
taa, imitando mos em louvor ao Criador.
Quando adentrava-se oresta, via-se os troncos aos milhares,
robustos e eretos, lado a lado, numa distncia que parecia no ter
mais m.
Nossa casa cava bem pertinho de uma poro deles.
A noite quando soprava ventos fortes, aoitando os enormes galhos
com aquelas bolas grandes de saps nas extremidades, faziam um
barulho caracterstico, muito parecido com o marulhar das ondas
do mar.
Quando era tempo de pinho maduro, a noite ouvia-se o barulho da
chuva de pinhes caindo ao cho. De manh cedinho, corramos a
juntar numa peneira, feita com bambus, bem vermelhinhos e maduros.
Da era fazer fogo no fogo a lenha, ass-los na chapa e depois de
macetar com um martelo para rachar a casca, comer tomando caf.
Ento, num triste dia da dcada de 1940, a Prefeitura de Guarapuava,
resolveu lotear o imvel onde estava localizada a Vila, mas antes,
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
194
contratou alguns homens para derrubar todos os pinheiros que
estavam no quadro do loteamento.
Gostaramos, aqui, de chamar a ateno para alguns aspectos. Em primeiro
lugar, o autor indica como a localizao de Pinho aponta sua diviso entre
duas realidades: a dos campos e a das matas. reas distintas, com dinmicas
de povoamento, economias, sociabilidades e culturas particulares. Atravs
dos campos se conta a sua histria as sesmarias, as primeiras fazendas, as
famlias tradicionais. Nas matas, onde se refugiavam os ndios, estava a fonte
de ameaas e o desconhecido. Mas so os pinheiros que marcam a paisagem
ambiental e social. a produo de erva-mate, os couros de animais de caa,
as crinas de cavalos que representam os grandes produtos econmicos at
a dcada de 1950. das matas que vem o delegado duro. E a partir
delas que a extrao de madeiras possibilita, por um lado, o crescimento e
emancipao do municpio, enquanto por outro traz os conitos fundirios e
os enfrentamentos entre jagunos e posseiros.
Com relao a este ltimo ponto, no entanto, Passos prefere o silncio.
Silncio que no to absoluto quanto pode parecer em um primeiro momento,
se pensamos nas reexes do autor, na segunda parte do livro
16
, sobre os
ndios, no captulo assim intitulado. A citao abaixo leva a questes que
indicam caminhos de pensamento para lidar com os conitos sociais intensos
no momento de escrita do livro, mas no explicitamente abordados:
No se pode falar em histria sem abordar a gura do ndio. Muitos,
nem gostam de ouvir falar neles, talvez at por se sentirem acusados
pela conscincia, porque estas criaturas, os verdadeiros donos da
terra, foram injustiados.
Embora sendo seres humanos, sempre foram tratados como animais.
Escorraados de seu habitat natural, muitas vezes com o uso da
fora, jamais tiveram seus direitos reconhecidos.
Os historiadores nos contam, que muitas lutas foram travadas entre
os desbravadores e os ndios, mas que estes, embora em quantidade
numrica maior, levaram a pior pela inferioridade do armamento.
As primeiras famlias, ou pioneiros que vieram habitar a terra, estavam
escoltados por duzentos milicianos de cavalaria, armados com o que
tinha de moderno naquela poca, to somente para combater os
ndios.
Estes no incio resistiram, mas vendo-se ameaados pelas armas
16
Aqui, interessante observar que o captulo sobre os ndios, embora no se baseie no relato
de algum, e remeta a um passado mais remoto, situado na segunda, e no na terceira parte
do livro, que aborda a primitiva e ocial histria de Pinho (:102).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
195
de fogo, armas que at ento, eram desconhecidas para eles,
naturalmente foram fugindo para mais longe, cando por aqui uns
poucos, que logo foram sendo dominados pelos colonos.
(...)
Com o passar do tempo, os poucos que restaram, sem qualquer
assistncia, foram aos poucos desaparecendo e essas raas hoje
esto praticamente extintas.
(...)
Como sempre fui defensor dos fracos e oprimidos, co muito
penalizado quando vejo um pobre ndio, maltrapilho, ps descalos,
aparentando desnutrio e velhice precoce, batendo de porta em
porta, procurando vender seus produtos de artesanato, como cestos
e balaios, a preos irrisrios, na iluso de manter a sobrevivncia
ameaada pela fome e muitas vezes enxotado por aqueles que no
se comovem com o seu infortnio. No entanto, eram eles os legtimos
donos de toda a imensido, que so as terras onde habitamos, as
quais eles nunca venderam, como costumam fazer os civilizados
(:82/83).
Alguns pontos relevantes da argumentao do autor podem exprimir
uma postura frente aos conitos presentes no momento da escrita. Primeiro,
qualquer ocupante da terra posterior presena indgena j coloca em
xeque sua legitimidade na medida em que so eles os verdadeiros donos
da terra, consequentemente a ocupao posterior implica em expropriao.
Alm disso, foram vencidos pela superioridade blica dos desbravadores,
e essas raas hoje esto praticamente extintas ou seja, embora triste,
este um resultado inevitvel no caminho do progresso. Foram expropriados
e intimidados pela violncia. E, ainda, os que restaram no oferecem uma
alternativa socioeconmica vivel, pois se caracterizam pela mendicncia e
perturbam a ordem social. Isto mesmo sem nunca terem vendido terra.
Acrescente-se que, em um momento inicial, se identica no texto uma
dubiedade no que tange atuao das madeireiras, que se manifesta na
oscilao entre a degradao ambiental e o desenvolvimento. Assim, arma
que aps o massacre dos pinheiros, estes no mais foram molestados por alguns
anos e o autor lamenta o dia triste de 1940 em que o corte comeou. At que
apareceram os compradores de pinheiros, e, depois, as serrarias. A populao
teria participado ativamente das mudanas econmicas, vendendo suas rvores
e vendo nas negociaes, na ao das madeireiras, na circulao de caminhes
repletos de toras pelas estradas locais, o sinal do progresso. O autor assim
descreve esse momento, em seu captulo intitulado Industrializao:
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
196
Naqueles anos do ps-guerra, at o trmino da dcada de 1940, o
Pinho passou por uma grande crise nanceira. O comrcio sofreu
profunda retrao, de maneira que os produtos primrios daqui,
restritos apenas aquilo que era produzido nas roas de queimadas, no
tinham compradores e a escassez de dinheiro era uma constante.
Os fazendeiros s conseguiam algum dinheiro, quando vendiam uma
vaca velha para o aougue do Antenor Gomes, o qual de vez em quando
abatia uma rs, sempre vaca velha de descarte, que no mais procriava.
Com a falta de poder aquisitivo do povo, pouca carne era vendida,
ento era comum se ver no varal, as mantas de charque secando ao
sol por dias seguidos.
A nica vantagem de tudo isso eram os preos baixos dos gneros
alimentcios produzidos aqui mesmo.
Foi nesse tempo que comeou a compra de pinheiros em p, pelos
intermedirios e a esperana para a instalao das prometidas
serrarias, que com certeza trariam o to sonhado progresso nanceiro
para o Pinho.
Com as vendas dos pinheiros, houve uma injeo de dinheiro no
comrcio utuante e o consequente aquecimento nas atividades
comerciais.
No ano de 1951, iniciou-se a instalao de duas indstrias madeireiras,
com a denominao de Indstrias Joo Jos Zattar S/A.
A primeira serraria construda nesse ano foi a Santa Terezinha e a
seguir a Serraria So Joo, esta no Bom Retiro, local que mais tarde
recebeu a denominao de Zattarlndia.
Com essas instalaes aconteceu uma grande oferta de empregos,
diretos e indiretos e ainda melhoria nas estradas, porque a prpria
empresa adquiriu maquinrio pesado, motoniveladoras e tratores
para a abertura de novas estradas e a conservao das j existentes,
das quais necessitava para o transporte de toras e madeira serrada.
O pioneirismo das Indstrias Zattar abriu o caminho para outras
empresas que tambm foram se instalando no Pinho.
Instalou-se o grupo Mansur, com a Produtora de Madeiras Irati Ltda.,
localizada na sede do Pinho; Slavieiro S/A; Hilrio Witchemichem e
Indusa em Pedro Lustosa, Jacir de Frana em Faxinal dos Silvrios;
Irmos Gelinski na sede e outras de menor porte.
Com o advento das indstrias o desenvolvimento econmico chegou
ao Pinho e em conseqncia o m do desemprego e aumento da
arrecadao de impostos.
Mais tarde as Indstrias Zattar ampliaram suas atividades e
diversicaram, construindo a fbrica e beneciamento de madeira,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
197
extrao e beneciamento de erva mate, adquirindo ainda esse
produto dos pequenos produtores,criao de gado bovino e ovino
de alta linhagem. Milhares de empregos diretos foram criados com a
expanso dessas atividades. Um salto espetacular no desenvolvimento
econmico do Pinho.
A empresa chegou a adquirir mais de 43 mil alqueires de terras no
territrio pinhoense.
Deve-se ainda ressaltar a gigantesca estrutura montada pela
empresa, com a construo de centenas de casas para a moradia
de seus empregados, praa de esportes, escolas, igrejas, armazns,
onde os funcionrios podiam adquirir de tudo e a preos reduzidos,
clube recreativo, nibus para o transporte dos estudantes, lhos de
seus empregados e muitas outras atividades que pode no ter vindo
a minha memria agora.
Mais tarde a empresa Zattar adquiriu a serraria do grupo Mansur,
localizada na sede e aumentou a capacidade de produo, dando
mais emprego a muita gente.
Tudo isso funcionou por aproximadamente quarenta anos, tempo em
que o Pinho viveu sem crises ou comrcio enfraquecido.
No se sabe quais os motivos que levaram a empresa Zattar a dar
uma brusca freada nas suas atividades no incio dos anos de 1990,
mas o Pinho sentiu o tranco. Hoje s se fala em crise e desemprego
(:59-61).
Aqui, a postura ambgua se esclarece, e a questo ambiental passa a no
ser mais relevante (assim como no foi a social no caso indgena), frente a
tudo que a atividade econmica da extrao de madeira permitiu. De novo,
na segunda parte do livro, um relato do passado ajuda a justicar os danos
ambientais irremediveis. Eles no seriam to irremediveis assim, como os
resultados de um grande incndio ocorrido no Faxinal dos Ribeiros, em 1916,
podem apontar. Neste ano, o fogo destruiu a mata, de maneira a que se pudesse
andar a cavalo por toda parte, onde antes era oresta compacta (:75). No
entanto, com a regularidade das chuvas nos anos consecutivos, a vegetao
se recomps, e como lembranas restaram os troncos de imbuia seca, que
so vistos em toda aquela regio (:75). So, tambm, os tocos de imbuia as
marcas mais visveis da atuao das madeireiras nos faxinais.
Mais um aspecto a destacar que, ao contrrio de Camargo, Passos no
fala em madeireiras genricas, mas aponta a atuao especca da Joo Jos
Zattar S/A. A empresa surge como um divisor de guas entre a crise do ps-
guerra e a pujana posterior com dcadas de tranquilidade econmica para
os moradores de Pinho. Quanto aos conitos fundirios decorrentes das
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
198
atividades da empresa, ou a ao de seus guardas/jagunos, a opo pelo
silncio. Os argumentos anteriores nos fazem pensar em que medida no seriam
vistas como inevitveis, o preo do desenvolvimento.
As mudanas provocadas pela atuao da Zattar tambm contriburam para
o nico acontecimento narrado posterior instalao das madeireiras na cidade,
e um dos eventos centrais no livro: a emancipao do municpio de Pinho.
Esta, que Passos relata ter sido uma iniciativa sua, s foi possvel a partir de um
embate poltico signicativo, por ele contado em detalhes. O autor traz os nomes
dos envolvidos, suas atuaes, as resistncias provenientes principalmente de
Guarapuava, a descrio dos contatos polticos que possibilitaram a sano da
lei em 15 de fevereiro de 1964. No entanto, esta no foi o m do processo,
pois as mudanas polticas nacionais ocorridas em maro de 1964 levaram a que
as eleies s fossem marcadas para dezembro. E, a partir de um acordo entre
os deputados regionais, foi indicado o nome de um administrador da Zattar
como candidato nico. Candidato que, aps eleito, s tomou posse e no mais
compareceu cidade, permanecendo na Zattarlndia. Aps noventa dias de sua
ausncia, uma reunio da Cmara de Vereadores decide pela cassao do mandato
e posse do vice-prefeito por 5 votos contra 4. O autor transcreve, ainda, uma
srie de documentos referentes aos acontecimentos narrados, tendo sido ele um
dos principais agentes em todo o processo.
Posteriormente, inicia-se a segunda parte do livro, referente a situaes
descritas ao autor por testemunhas. Alm dos aspectos anteriormente
levantados, duas temticas surgem como principais eixos das histrias: de um
lado, a esperteza, de outro, a valentia. A esperteza aparece em histrias como
do primeiro morador de Pinho, Joo Pessoa, cujo criado consegue car com
toda a herana do patro, embora devesse dar um tero para os pobres e outro
para as almas; ou do cavalo matungo que venceu um puro sangue porque seu
dono passou sebo de ona no seu lombo; ou da moa que se casou com um
marido rico, mas j morto; ou do casamento em que o noivo no apareceu e
a moa se casou com outro pretendente presente; ou, ainda, do assassinato
ocorrido por uma invaso de porcos em uma lavoura, sendo um cachorro, para
proteger seu dono, o assassino, em que a polcia prende o cachorro.
J a valentia abordada em contextos de festas, corridas de cavalos, jogos,
quando vez por outra, dois valentes se desentendiam e se entreveravam
at um deles morrer (:77), por brigas de faco para as quais o consumo de
bebidas alcolicas contribua. O consumo excessivo de lcool tambm o que
resulta em um acontecimento que poderia ter sido trgico: o linchamento de
Chico Mentira, devido a um acidente com arma de fogo que levou morte um
rapaz. Neste caso, reuniram-se sessenta homens para linchar o negrinho, o
retiraram da delegacia e dispararam sobre ele, segundo o narrador, mais de
cinquenta tiros. No entanto, nenhum acertou, o que foi visto por muitos como
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
199
milagre. E, por m, uma histria que remete quela do Ferreiro: de Manoel
Julio, um grande caador de tigres que tambm deixou descendentes, e que
ao longo de sua vida abateu 56 animais. Ele era to valente que, ao saber de
um tigre pelas redondezas, perturbando os fazendeiros, vendia o couro antes
mesmo de sair para a caa, sendo o dinheiro utilizado para comprar os itens
de que necessitava. E o trazia, com certeza, no dia seguinte. Aos cem anos
de idade, teria dito ter dois desejos ainda: mamar nas tetas de uma tigra de
cria e fazer amor com uma donzela de quinze anos, que andava lhe provocando
ultimamente (:85).
J a terceira parte do livro menos relevante. No entanto, expressa bem os
eventos que so reconhecidos como compondo a histria ocial: descobrimento
dos Campos de Guarapuava a partir dos Campos de Pinho, no nal do sec.
XVIII; a construo, tambm em Pinho, da Fortaleza de N. Sra. do Carmo; as
ameaas dos ndios; a primeira missa na regio, tambm rezada em Pinho em
1771; a implantao do marco rgio e denio das quatro primeiras sesmarias;
a nova distribuio de sesmarias, agora nove, aps a independncia; o nome
da vila relacionado ao nome do imvel Pinho; as duas primeiras famlias como
de Silvrio Antnio de Oliveira e Jernimo Jos de Caldas. Novamente, so os
campos que denem a histria ocial, mas boa parte das histrias narradas por
Passos ou provm das matas ou envolvem sua populao.
Faxinal dos Ribeiros Equipe da Escola Municipal Rural Norberto
Serpio
O texto Faxinal dos Ribeiros apresenta algumas proximidades e muitas
diferenas em relao aos anteriormente analisados. Em primeiro lugar, uma
produo coletiva, realizada por professores e funcionrios da E. M. R. Norberto
Serpio, com o objetivo de servir de material de referncia para o ensino local
visto a ausncia de registros do gnero para o Faxinal dos Ribeiros. Depois,
um texto datilografado, de dez pginas e alguns anexos, que apenas agora
publicado. Em sua verso original, no h nenhuma referncia aos autores
que colaboraram em sua pesquisa e escrita, embora esta informao tenha sido
prontamente fornecida pela escola ao ser solicitada
17
.
A Escola Municipal Rural Norberto Serpio funciona em conjunto com a
Escola Estadual Rural Izaltino Bastos, em um prdio situado no Faxinal dos
Ribeiros, a em torno de 15 km de estradas de terra da PR-170. Ambas renem
mais de 500 alunos, abarcando todo o ensino fundamental, e iniciando, em
17
Agradeo a toda equipe da E. M. Norberto Serpio a autorizao para a publicao do texto,
e especialmente ento diretora, Profa. Nilsa Aparecida de Oliveira.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
200
2013, o primeiro ano do ensino mdio. Seu pblico so crianas de vrias
das comunidades rurais da regio, abrangendo principalmente lhos de
posseiros/faxinalenses, assentados, pequenos proprietrios rurais. O quadro de
funcionrios das duas escolas fundamentalmente de moradores da regio. J
o quadro de professores diversicado: enquanto os professores municipais
so funcionrios efetivos e provenientes da regio, os professores estaduais
so, em sua maioria, contratados temporrios, e vm de Pinho e cidades
vizinhas. Assim, o texto aqui discutido foi produzido por moradores da regio
de Faxinal dos Ribeiros, em geral nascidos no lugar.
O incio do texto fala dos primeiros moradores do local, de como chegavam
e como era o sistema de terras.
Faxinal dos Ribeiros recebeu esse nome devido chegada dos
primeiros moradores, sendo a famlia Ribeiros, entre elas a Sra.
Silvana Ribeiro.
Era um serto de mata fechada, onde existiam onas e outros animais.
Construram ranchos feitos de varas e cobertos com taquaras para
morarem. Mais tarde, chegaram as famlias Nanguara, em que a me
Maria era uma escrava que havia sido liberta. Tambm a famlia
Prestes, Mariano Borges, Serilho e Silvrio povoaram a regio. As
pessoas que vinham para morar traziam nos cargueiros alimentos,
roupas, camas e ferramentas. Viajavam a cavalo e a p.
A COMUNIDADE
Antigamente, em Faxinal dos Ribeiros ningum dava importncia para
terras, onde quisesse morar era s fazer uma casa e todos respeitavam,
ento ali era chamada de frente um bom pedao de terreno.
Existiam muitos pinheiros gigantes, alguns eram derrubados para
tirar os galhos e fazer lavoura, o restante no era aproveitado.
Neste trecho inicial, j possvel observar questes signicativas em
relao ao que selecionado como aspecto importante para relatar a histria.
Em primeiro lugar, vemos uma ocupao que se distancia muito daquela da
histria ocial de Pinho. Os primeiros moradores vm de fora, a p ou a
cavalo, trazem seus pertences em cargueiros, e apropriam-se de terras que,
naquele momento, so livres. A memria das terras livres, por sua vez, aponta
duas questes: a sustentao do fato dos posseiros no terem os documentos
da terra, apesar da presena no local por geraes, devido dinmica do
prprio processo de formao do lugar; e o contraste com o perodo posterior,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
201
em que so continuamente ameaados de expulso das terras onde nasceram.
A histria legitimaria, assim, um direito ameaado por sua no formalizao.
Alm disso, a caracterizao dos primeiros moradores aponta no serem
eles de elite ou de posses. Seus ranchos so o mais simples possvel nem
sequer de madeira, mas de varas cobertas de taquaras. Seus pertences podem
ser transportados em cargueiros. Chegam a cavalo ou a p. Entre eles h uma
liberta, Maria Nanguara, que vem com sua famlia (curiosamente, o sobrenome
Nanguara no listado entre aqueles que existem no lugar no momento da
escrita). E, ainda, so duas mulheres as nicas pessoas efetivamente nomeadas:
Silvana e Maria. Uma origem que passa pela memria do feminino, no do
masculino.
H, ainda, o ambiente: um serto, sem presena humana, mas com animais
selvagens. Ao contrrio dos relatos anteriores, no h memria sobre indgenas.
Mas sim de pinheiros gigantes, que foram o foco inicial das madeireiras ao
chegar em Pinho. Estes eram derrubados quando necessrio, com o objetivo
de viabilizar a produo e a sobrevivncia, e no pelo interesse na explorao
da madeira. Uma mata na qual as pessoas se instalaram e com a qual conviviam.
A continuidade do relato sobre o local aborda sua organizao social
passada e a rusticidade que a marca j apontada na descrio dos ranchos
iniciais e no meio de transporte das famlias:
Nesse tempo, criavam-se muitos porcos soltos, pois havia frutas em
grande quantidade, principalmente pinhes. Quando matavam os
porcos, eram enxugados os panos de toucinhos na fumaa, depois
colocados em cestos uma camada de toucinho e outra de palha, at
encher os cestos.
A carne era frita e enlatada junto com a banha.
A alimentao era base de quirera, carne e feijo. Arroz e acar
apareciam somente quando uma pessoa cava doente e esses produtos
eram comprados em Cruz Machado. Comprava-se acar amarelo para
mascar. A farinha de milho era feita em monjolos e torrada em fornos.
O sabo tambm era feito em casa com uma sopa de cinza e gua que
chamavam de adequada e era misturada s gorduras.
As pessoas andavam sempre descalas, alguns compravam o primeiro
par de sapatos aos dezoito anos. Os pais tinham autoridade para com
os lhos, mesmo depois que estes se tornassem adultos.
As festas eram feitas em casas e igrejas, a comida tpica era caf
e broa de fub e centeio. Todos se divertiam e quase no existia
violncia. Eram comuns bailes, danas de So Gonalo, festas para
homenagear santos e novenas realizadas em casas de famlias. Nessas
ocasies eram convidados vizinhos, parentes e compadres.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
202
No trecho acima, a grande referncia para caracterizao deste momento
inicial do Faxinal dos Ribeiros um sistema de produo particular, centrado
na alimentao e voltado para o autoconsumo, e que possui como um de seus
principais aspectos a autonomia. Assim, ingere-se o que se produz: carne de
porco (enlatada ou defumada), quirera, feijo, farinha artesanal. Os porcos, por
sua vez, criados soltos indicando o sistema faxinal. Inclusive a alimentao
de festa consiste em broa de fub e centeio, alm do caf. Compras mesmo
de produtos bsicos da alimentao atual como arroz e acar em caso de
doena. Alm disso, essas eram feitas em Cruz Machado, o que aponta para
redes de contato e comrcio com o municpio vizinho.
Mas a vida no s produo. Esta se d em um contexto sociocultural
com carter prprio. No trecho citado, tambm aparecem elementos da
religiosidade catlica local as danas de So Gonalo, as festas de santo, as
novenas realizadas em casas de famlias. E uma sociabilidade marcada pelas
redes de parentesco, vizinhana e compadrio, que movimentavam as situaes
de encontro e diverso. E, ao falar da diverso, um aspecto ressaltado no
texto: quase no existia violncia. Esta expresso bem interessante: o
quase, ao mesmo tempo em que nega a violncia, a arma. Por outro lado,
uma violncia menor que a do tempo presente, o tempo da escrita, em que
se pressupe que esta passa a ser um problema nos contextos de reunio de
pessoas e diverso e talvez no s nesses. Em outras palavras, enquanto no
tempo da memria a violncia um elemento existente, mas quase no, na
atualidade ela se impe. O mesmo se pode pensar com relao autoridade
dos pais, que se estabelecia inclusive sobre adultos armao que faz supor
no ser esta uma realidade contempornea, segundo a avaliao da equipe de
autores. O passado , ento, construdo a partir de determinados aspectos que
denem o contraste com o presente, e ressaltam ao mesmo tempo a rusticidade
da vida, o relativo isolamento e a autonomia dos moradores locais. O que
reforado no item intitulado economia:
O transporte era feito somente a cavalo, as pessoas tinham tropas
de animais para transportar cargas. No trabalho da agricultura,
plantavam milho, feijo, abbora, fumo, mandioca, centeio, batata-
doce e couve. Plantavam pouco e colhiam somente para o sustento
da famlia. Plantavam, por exemplo, um prato de feijo e j era o
suciente, pois no tinha comrcio, assim todos plantavam.
Quanto ao relativo isolamento, as diculdades de transporte e comunicao
so ressaltadas, mas tambm a chegada do rdio, que modica o local ao
trazer o contato mais rpido e efetivo com o mundo exterior.
Antes, porm, de falar desses temas, o texto traz uma histria que possui
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
203
bastante popularidade local tendo sido por diversas vezes repetida ao longo
da pesquisa: a do noivo que, no conhecendo sua noiva, confunde a sogra
com a pretendente. O caso visto como divertido e interessante, e ao mesmo
tempo causa estranheza a possibilidade de que um casamento se d sem o
conhecimento prvio dos noivos. curioso observar que, hoje, o nmero de
casamentos formais cada vez mais reduzido, sendo o processo de casamento
mais comum a fuga de um casal que a partir dela consolida sua unio.
O texto prossegue com os itens sade e comrcio. Com relao sade,
armam no haver mdicos no passado, o que provocou a morte de vrios
moradores locais. Por outro lado, havia curandeiros e citam dois homens,
Pedro Nanguara e Joo Hilrio, armando seu bom poder de cura atravs
de benzimentos, e o respeito a eles devido. Alm disso, atribui-se a Pedro
Nanguara que, lembre-se, pertencia famlia da escrava liberta Maria, sendo
provavelmente negro profecias muito prximas quelas vinculadas, em outros
locais do interior do Paran, a So Joo Maria, como dos gafanhotos de ao
que matariam muitas pessoas ou dos os como teias de aranha, que trariam
males. J ao falarem do comrcio, fazem referncia s primeiras bodegas,
abertas com o decorrer do tempo, e que vendiam produtos como tecidos,
cereais, ferramentas e bebidas, e compravam erva-mate. Assim como no caso
dos porcos, uma referncia a atividades relativas ao sistema faxinal, e que
fazem com que a produo de subsistncia no seja pensada como fechada
na prpria unidade familiar ou no grupo local, mas possa se articular com
sistemas produtivos muito mais amplos, como o caso da erva-mate.
Aps falar do local, o texto passa a falar da escola. Relata a presena
do primeiro professor particular, contratado por um morador local, que teria
lecionado na Igreja de Nossa Senhora. Um segundo professor, dando aulas na
Igreja de So Sebastio, seria o precursor da E. M. Norberto Serpio. So relatados
os nomes de todos os envolvidos no processo de construo e consolidao
da escola. Bem como sua construo, e reconstruo em 1982. Posteriormente
a reunio de nove escolas no local, em 1999, atravs da nuclearizao, que
foi responsvel pela composio do quadro de professores do momento da
escrita. Quanto a sua clientela, so os moradores de Faxinal dos Ribeiros,
que so descritos como dos mais variados nveis socioeconmicos e culturas
diversicadas, sendo a maioria de no assalariados. Descreve-se tambm o
posto de sade e as comunidades limtrofes.
O item seguinte Moradores Antigos, que destaca o carter imigrante
de parte da populao de Faxinal dos Ribeiros, sendo sua origem diversicada
com destaque para os dois outros estados do sul do pas. E uma das famlias
que recebe destaque a de Telo Alves Cerenz, proveniente do Paraguai. O
texto relata que ele teria vindo com oito anos, juntamente com seu pai, irm
e um tio, na poca do incio da guerra. Esta indeterminada, e embora
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
204
fosse possvel supor tratar-se da Guerra do Paraguai, o fato de Telo estar
com 84 anos no nal do sec. XX impede esta suposio. A guerra traz muitos
sofrimentos: a perda da me e os perigos de uma viagem de meses a p. Mas ao
chegarem, aps o sofrimento, constroem suas vidas. Telo se casa, tem doze
lhos e, aos 84 anos, ainda trabalha na roa e luta com a criao de gado,
porco, cabrito, cavalo e carneiro. Tambm fazem, ele e a mulher, quando
da redao do texto, farinha em monjolo, quirera em jorna e carregam sua
produo em cargueiros com cesto e bruaca. Possuem vrios objetos antigos
vinculados ao cotidiano e produo, que utilizam naquele momento.
Com relao histria de Telo repetida por vrios dos alunos dele
descendentes em seus textos, como ser explorado no prximo item
possvel identicar questes signicativas. Aqui, a guerra no mais algo
distante, mas marca a histria de Telo e o motiva a migrar, at que chega a
Pinho. Traz sofrimento, inclusive a perda da me gestante e do futuro irmo.
E, ento, em Faxinal dos Ribeiros o paraguaio pode se xar e construir sua
vida. Vida vivida nos moldes locais, tradicionais, marcada pelo trabalho na roa
e com a criao. Que gera um casamento longo, uma famlia de doze lhos e
o reconhecimento local que o inclui entre os moradores antigos do lugar que
devem ser citados. Telo conta aqui.
A outra moradora a que o texto se refere Maria Trindade de Oliveira Tibes,
vinda de Santa Catarina com o marido. Viagem de nibus e posteriormente
a cavalo, com a mudana em cargueiros uma trajetria bem diversa da de
Telo, no somente feita a p e marcada pelo sofrimento, mas em que,
na chegada, ele se encontra destitudo de quaisquer bens de valor. Alm
disso, Maria Trindade apresenta diculdades de adaptao ao lugar, pois
no tinha o hbito de guardar dias santos, no sabia tomar chimarro, tinha
diculdades na comunicao. Em outras palavras, h um jeito prprio de
viver no Faxinal dos Ribeiros, que no trouxe obstculos para a adaptao de
Telo (apesar de ser ele paraguaio, ou seja, falar inclusive outra lngua), mas
sim para Maria Trindade, brasileira, falante de portugus mas com problemas
de comunicao e que retorna regularmente a Santa Catarina. Esse jeito
prprio, importante ressaltar, tem como primeiro atributo guardar dias
santos respeitando assim preceitos religiosos fundamentais do catolicismo
local. Voltando a Maria Trindade, com 71 anos na poca da escrita do texto,
suas atividades so essencialmente domsticas, cou viva e ainda naquele
momento tem boas amizades e vive bem. Em outras palavras, apesar dos
entraves, a populao local sabe conviver com a diversidade, e os problemas
de adaptao no a impedem de se inserir de forma positiva no contexto social
de Faxinal dos Ribeiros. Sua histria permite um interessante contraponto
de Telo e sua famlia.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
205
Em seguida a essas duas trajetrias, so listados os sobrenomes existentes
em Faxinal dos Ribeiros, em nmero de quarenta e dois. Neste texto,
diferentemente do livro de Camargo, todos contam, e no h hierarquia indicada
entre eles. H sobrenomes de origem nacional e estrangeira, h famlias de
mais e menos posses, mas nada disso sugerido no texto. Posteriormente,
um quadro vai indicar aqueles que vieram de outros pases e estados, mas no
nesse momento. Apenas uma lista, qual se segue o item A Comunidade Hoje.
E, a, uma srie de informaes curtas sobre: clima, agricultura (apresentada
como mecanizada), criao animal, estradas, comrcio, meios de transporte,
comidas tpicas e vesturio. Nenhuma palavra sobre territrio, conitos
fundirios, ao de madeireiras, ou qualquer outro aspecto que apontasse as
tenses vividas no passado prximo e no presente.
O item poltica traz o nome de vereadores eleitos na comunidade. O
primeiro, em 1993, Domingos Silvrio dos Santos. Na disputa seguinte, Manoel
Neri Liber e Amilton Jos da Silva. E este o nico trecho complementado
pelo manuscrito que indica a eleio de Sebastio Rodrigues Bastos por dois
mandatos consecutivos: 2000 e 2004.
H, ainda, um poema que homenageia o Faxinal dos Ribeiros, que o
apresenta como serto, mas capaz de aceitar a todos com carinho, que est se
desenvolvendo mas precisa ser preservado por ser um solo abenoado. E o texto
encerra com Uma Histria Engraada da Dana de So Gonalo. Contam sobre
uma Dana de So Gonalo em que o dono da casa faz um churrasco, e como
as pessoas saem, comem e retornam para a dana, beijam e tocam a imagem,
o santo ca sujo de gordura de carne. Algum, ento, beija o santo com mais
mpeto, ele cai no cho e os cachorros comeam a lamb-lo devido gordura.
Aps um tempo, o santo recuperado, limpo pelos cachorros, e a devoo
prossegue. Com o carter que possui de devoo popular, de uma religiosidade
que simultaneamente sria e exvel, em que no h uma incompatibilidade
entre diverso e devoo.
Trs documentos so anexados ao texto. Um deles, incompreensvel devido
m qualidade da cpia. Outro, uma cpia de uma carta, datada de 1958, que
serve como convite de casamento, em que a noiva chama uma amiga para a
solenidade religiosa, civil e hospedagem de um casamento triplo dela e
de duas irms, uma casando-se com seu irmo. E o terceiro uma autorizao
de 1966, expedida pelo inspetor policial de Faxinal dos Ribeiros, Joaquim
Ferreira Nunes, para o policiamento de um baile aps um puxiro, em que pede
dezarmar e coregir bem a m de core bem o baile. Um bilhete que, ao mesmo
tempo, fala da prtica de puxires (mutires) seguidos de baile no lugar,
do costume dos homens de andarem armados e do risco de conitos nesses
momentos de festas.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
206
possvel perceber, portanto, que o documento produzido pela equipe da
E. M. Norberto Serpio destaca aspectos da histria local que compem uma
viso de si muito diferente da viso de Pinho trazida por Camargo ou Passos.
No mais uma histria ocial da colonizao, mas a ocupao de terras livres.
No mais famlias de colonizadores que formam a elite local, mas inmeras
famlias, de origens e tradies variadas. Com destaque para um paraguaio
que tem no seu passado as marcas da guerra e os inmeros sofrimentos
que ela impe. Este chega a Faxinal dos Ribeiros criana, a p, rfo da me
deixada pelo caminho, mas ali consegue se xar, criar uma grande famlia,
viver de maneira autnoma segundo costumes locais. ele quem se adapta
bem ao lugar, e no uma senhora de Santa Catarina que tem diculdades
de comunicao, no reconhece os costumes, faz sua viagem de nibus e a
cavalo, e volta com frequncia a sua terra natal. Outro mito de origem, em
que os costumes dos moradores dos faxinais so um eixo fundamental a
produo, a alimentao, a religiosidade, uma forma de ser e se relacionar
com o mundo. Mas que no implica em isolamento, pois o Faxinal dos Ribeiros
se faz representar politicamente no municpio, est inserido em um contexto
mais amplo.
Por outro lado, aspectos em comum com os dois textos anteriores. Em
primeiro lugar, um silncio sobre as ltimas dcadas. interessante observar
que, ao falar da comunidade hoje, o texto inicia caracterizando o clima do
lugar, e traz uma srie de informaes secas sobre suas atividades. Depois,
uma valorizao de um passado mais remoto por sua rusticidade. Aqui, no
entanto, essa rusticidade sinal de fartura e autonomia. E respeito, quase
sem violncia. Violncia esta que traz um tema tambm presente em Camargo
e Passos: a valentia como caracterstica dos moradores de Pinho, o que se
percebe no bilhete do inspetor Joaquim Ferreira Nunes autorizando policiamento
em um baile e recomendando o desarmamento dos presentes, a m de evitar
eventuais problemas. Valentia que, juntamente com a experincia ancestral
da guerra, pode apontar a fora da resistncia nos conitos territoriais ento
vividos.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
207
Agenda Joo Oliverto de Campos
Joo Oliverto de Campos nasceu em 1926 em Guarapuava. Filho nico de
Francisco Assis Campos e Graciolina Alves de Campos, aos seis anos de idade
mudou-se para Poo Grande, em Bom Retiro/Pinho, em terreno de dez alqueires
comprado por seu pai em seu nome. Quando criana, estudou dois anos com
um professor particular que atuou na regio, voltando a estudar somente aos
74 anos. Ganhou um livro de atas de presente de sua professora, Sandra Dell,
em 2004, e desde ento faz, no livro, anotaes sobre seu cotidiano, reexes
sobre o mundo e rememorao de histrias antigas. Junto a essas anotaes,
cola recortes de jornal e outros papis importantes como, por exemplo,
convites por ele recebidos, fotos. A composio das anotaes e colagens
constri uma viso de mundo prpria, para a qual contribuem relatos sobre
o passado. Seu texto est em constante construo, e aqui ser analisado o
que foi escrito at 10 de julho de 2012, quando estivemos em sua casa e ele
permitiu que fotografssemos seus escritos para publicao.
Ao contrrio dos autores anteriores, Joo Oliverto no se prope a fazer
uma histria local. Com efeito, sua genda mais explicitamente uma
reexo sobre a atualidade que uma narrativa sobre o passado. No entanto,
sua idade e a temtica da solido e das mudanas ocorridas no mundo, aliadas
a certa perspectiva escatolgica, fazem com que as experincias e eventos
pregressos sejam fundamentais na compreenso e interpretao do mundo
contemporneo, e por isso perpassam o texto. Alm disso, um dos aspectos
essenciais para Joo Oliverto sua localizao social e espacial, o que dene a
partir das relaes familiares, de amizade, vizinhana, compadrio, seu vnculo
com o lugar onde vive e sua atuao religiosa. Tais caractersticas permitem
o dilogo entre seus escritos e os demais textos considerados neste captulo.
Evidenciam, ainda, a intrnseca associao entre discursos sobre o passado e
uma concepo do presente.
A conjugao de recortes e manuscritos, por sua vez, resulta em uma
composio nica, que expressa a viso de mundo do autor. A elaborao da
Agenda, por sua vez, se d em dois sentidos: do incio para o m do livro
de atas (principalmente), mas tambm do m para o comeo. Acrescente-se
que as pginas j escritas so ocupadas em sua totalidade, sem margens ou
espaos vazios. Desde a primeira contracapa, a cujo texto de doao do livro,
assinado pela professora Sandra Mara Dell, se superpem dois recortes de
jornal, de autoria de Chico Alencar sobre a renncia de Jnio Quadros e o
suicdio de Getlio Vargas.
Os excertos de jornal so o principal tipo de material impresso colado
Agenda. So quase sessenta, cerca de um tero deles de autoria de Chico
Alencar. Aparentemente devido ao tamanho, estrutura grca e tipo de letra
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
208
provenientes de uma mesma fonte, no identicada. O grande nmero, no
entanto, no traz uma variedade muito alta de temas. Eles se concentram
em questes polticas e de movimentos sociais da histria do Brasil com
destaque para a abolio da escravatura, o cangao, Canudos, a Coluna Prestes,
a revoluo constitucionalista de 1932, o perodo Vargas, a construo de
Braslia, a renncia de Jnio Quadros, as reformas de base do governo Jango,
a Eco 92 e questes ambientais, voto para presidente reconquistado aps
1989, o plebiscito do desarmamento, a expressiva presena indgena no pas
aliados a acontecimentos internacionais como a assinatura da Declarao
de Direitos Humanos pela ONU
18
. Tambm em temticas religiosas: vidas de
santos, beaticao da brasileira Albertina Berkenbrock, plulas de Frei Galvo,
oraes, atividades litrgicas, presena de animais em cenas religiosas,
conitos entre a legislao e os valores cristos, entre outras. Um terceiro
grupo de recortes fala de questes relacionadas importncia do amor, da
famlia, do casamento, dicas para ser feliz, a beleza da velhice e a arte de
envelhecer bem e ter uma boa morte. E, por m, h alguns recortes sobre
curiosidades meteorolgicas ou da populao mundial, medicina popular e
poesia. Estes ltimos, contudo, muito menos signicativos que os trs grupos
anteriores.
Mas sobre os manuscritos de Joo Oliverto de Campos que concentraremos
a anlise
19
. Tambm neles, h temticas recorrentes e uma estrutura de
pensamento que compem, com os textos acima citados, um conjunto
signicativo. Um dos eixos de tal estrutura j se explicita a partir da anotao
inicial do autor, e refere-se importncia atribuda a sua localizao familiar e
social. Com efeito, desde o primeiro momento Campos registra os aspectos que
o constituem como sujeito: o local de nascimento (Combro, Guarapuava); a
liao (pai Francisco Assis de Campos, de origem paraguaia, e me Graciolina
Alves de Campos, origem alem); sua vinda para Pinho em maio de 1932; a
condio de lho nico; o estudo em escola particular a partir de 1939 at 1940,
a dinmica da escola e a importncia de Juvenal de Assis Machado ao trazer
um professor para o local; o retorno aos estudos somente em 2000, e depois
em 2004. Na segunda anotao, outro aspecto fundamental: o casamento com
Rozilma Jezus de Campos e a formao de sua famlia duas lhas e um lho
natimorto. E, a partir da, prossegue com o relato dos acontecimentos que
mudaram sua vida, iniciados com a grave doena da esposa, a necessidade
de longas viagens para tratamento e, por m, sua morte, que traz para Joo
18
Os textos de Chico Alencar concentram-se nesses temas.
19
No decorrer da anlise, citaremos trechos dos manuscritos. Para tanto, utilizaremos um tipo
de letra especco, estratgia tambm utilizada para a publicao da Agenda. Esta opo se
justica devido ao autor ter um estilo prprio de escrita e estruturao de seu texto, e
necessidade de ressaltar a diferena desse estilo frente ao texto acadmico.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
209
Oliverto uma solido no superada posteriormente. Esta, um dos grandes temas
de seus escritos, que se expressa desde antes da perda da mulher, como no
seguinte trecho:
Eu Joo oliverto de Campos para mim o poo Grande poo
negro a tempo no poo ir num divertimento festas e outros
divirtimentos que tudo o povo vai eu no poo ir nem no
vizinho eu sou o cazeiro de todo o tempo e eu no sei se um
dia vai raiar um novo sol na minha vida vai certo ponto que
agente dezacorssoa, todo o mundo do lugar participam todos
os domingos festa Sarau cazamentos Rodeio na poltica no
perdem comissio, Agra eu esto Ezolado do Mundo s trabalhar
criar as coisas fazer o bem para os outros ser feliz, e e isso nada
mais.
No entanto, apesar da solido, em Poo Grande que o autor constri
sua vida, e no h ao longo do texto qualquer indcio de desejo de se mudar,
apesar da distncia da famlia as duas lhas moram em Guarapuava. l
que se encontram sepultados seus pais, sua mulher, e onde manda construir
a gaveta para seu prprio sepultamento. Tem obrigaes com a capela que
ele mesmo construiu com a mulher, e na qual desempenha a atividade de
ministro extraordinrio da eucaristia. Celebrou por muitos anos a Festa de
So Sebastio, tem funo de relevncia nos rituais da Semana Santa, criou a
procisso ao Morro da Cruz (onde se encontra a esttua de So Joo Maria de
Jesus que ocupa lugar de destaque em suas reexes).
Logo depois do trecho acima, o relato da morte de D. Rozilma. Este ser
o primeiro de vrios registros de falecimento de pessoas da regio, algumas
morando fora. Com efeito, o tema domina principalmente a primeira parte dos
escritos de Joo Oliverto. A estrutura de tal relato uma verso mais completa
daquele que ser o modelo de todos os outros registros. Nele, a identicao do
momento e local da morte, do cnjuge que ca vivo, lhas, netas e bisnetas.
Uma descrio do enterro, ressaltando a presena de quantidade signicativa
de pessoas e dando destaque aos compadres, comadres e alhados. D. Rozilma
teria 194 alhados, sendo 159 ainda vivos. Posteriormente, a identicao dos
genitores de D. Rozilma, e informaes sobre seu casamento com o autor, que
durou 47 anos e 4 meses. Sepultamento no cemitrio de Poo Grande, prximo
capela onde se encontram os restos dos pais de Joo Oliverto. E a saudade que
vai ser rearmada em vrios outros momentos da Agenda. Lembra-se, ainda, do
cncer que a levou a bito, do tratamento recebido no hospital. E termina com a
memria da cerimnia de suas bodas de prata, em 1982 e da reconciliao de D.
Rozilma com a comadre, com quem estava rompida h sete anos.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
210
A apresentao tanto de si mesmo quanto da esposa e dos outros moradores
e ex-moradores locais que morrem no perodo indicam a concepo do autor
sobre as caractersticas fundamentais na construo da pessoa. Primeiro,
seu nome completo, seguido da identicao de sua famlia que consiste
em ancestrais, cnjuge e descendentes, no sendo atribuda importncia
signicativa ao parentesco colateral
20
. Depois, relaes de compadrio e
apadrinhamento, que tecem uma rede complexa e ampla de vnculos sociais
relevantes. Em vrios momentos do texto, o autor identica, com um nico
sujeito, relaes de compadrio mltiplas, assim como posterior compadrio
estabelecido com alhados
21
. Percebe-se que, em seu caso, a pequena dimenso
da famlia pode ser compensada atravs do sistema de compadrio para o que
contribuem os vrios batismos comuns na regio (em casa, na igreja e no olho
dgua), como tambm o fato de outros ritos religiosos, ao estabelecerem
padrinhos, denirem tambm compadres (como primeira comunho, crisma,
casamento). Com efeito, o compadrio permite a insero no crculo de relaes
de pessoas que no tm vnculos prvios denidos, bem como o reforo de
vnculos preexistentes (como de parentesco ou vizinhana).
A importncia da religio catlica e de suas prticas para o autor dene
outro aspecto relevante na composio da pessoa: a realizao de atos
signicativos para o catolicismo como a contribuio na construo ou
reforma da capela, a colocao de uma esttua de So Joo Maria no Morro da
Cruz ou o desempenho de funes especcas no contexto religioso como
papis diferenciados nos ritos, ou a realizao de festas de santo. Atitudes
que no so interpretadas como restritas esfera religiosa, mas um bem mais
amplo para a comunidade.
Entre as narrativas sobre falecimentos, e principalmente as vinculadas
morte da esposa e os rituais posteriores a ela relacionados, uma delas se
destaca por descrever o casamento de um alhado cujo convite se encontra
colado na Agenda:
ESTE AFILIADO EDENILSON Morais que se cazouce com a
Janete dos Santos este rapais morrou com noss 2 anos 1999 e o
ano 2000 cazouce dia 22 de janeiro de 2005 eu fui com o meu
fusca motorista o Joze Nerci e Dna Dulcia foi tambm e o Lucas
e a Delair que veio de Guarapuava do pinho pra c veio com
20
Podemos pensar se tal fato no se deve a ser o autor lho nico, e no possuir tios, primos,
sobrinhos nem prprios nem da esposa vivendo na regio.
21
O compadrio um dos sistemas de formao de redes de relaes mais signicativo no interior
do pas. A expanso das religies evanglicas, que impedem seu estabelecimento, deve ser
pensada tambm quanto a seu impacto social, pois muda esse padro.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
211
nss e Neruza veio com Dna Ana Xusk assistimos o cazamento
na matris e no cartrio e viemos adiante na recepesso almoo e
viemos adiante para abrir o barraco da capela de poo Grande
para o conjunto Lobo Bravo estalar os aparelhos de som o baile
comessou as 16 hs e foi ate as 2 da madrugada munto povo mas
no teve nem uma alterao tudo correu bem mais pra mim
no prestou a festa por mas boa que estava motivo eu estar de
luto de 90 dias que minha espoza ter falecido em 28.10.2.004
Ela tambm era madrinha do Edenilson e ela na vida queria
munto bem e o Edenilson e pra mim tudo a alegria foi gua a
baixo assino Joo oliverto de Campos 23.01.2005
No trecho acima, a descrio de um casamento na regio que est se
tornando raro, pois a maioria dos casais, em geral muito jovens, se casa
atravs da fuga, e no de uma cerimnia especca. Assim, a cerimnia civil e
religiosa em Pinho, mas a festa em Poo Grande, consistindo em um almoo
e em baile que se inicia s 16 horas e se prolonga at a madrugada. Sem que
tenha havido qualquer alterao, o que indica o sucesso da festa. Alm
disso, o apoio dado pelo padrinho e sua famlia, o local escolhido para os
festejos sendo o barraco da igreja de Poo Grande, ao lado da casa de Joo
Oliverto. No entanto, as diculdades de conjugar o carinho pelo alhado com
o luto por D. Rozilma, que faz com que o autor no consiga aproveitar a festa
como o faria em outro contexto.
O casamento tambm um dos principais temas das reexes de Campos.
A vida gira em torno do casal e da famlia, e a ausncia da cnjuge parece ser
a principal causa de sua solido. Tanto que o autor, em anotaes posteriores,
aborda a temtica da solido dessa perspectiva:
O Homem Szinho e a Mulher Sozinha
Nos dias de hoje como sempre e acham que o homem pode
viver sozinho est crto pode sim viver sozinho mais puro
engano, mezmo a mulher a mulher mais face arrumar
um parceiro o homem mais custozo principalmente
se for velho nos dias de hoje pde cerrumar pra cabessa
de si prpio nem todas as mulheres de hoje s qurem a
grana aconslho quem tiver sua mulher onsta zle por
que terminou aqula as vezes terminou tudo o hmem ca
sozinho quazi abandonado longe de lhos ou lhas esse
velho ou velha que sevire se puder nos no estamos nem
nai outros dizem no queremos que o pai caze de novo
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
212
ou a me caze de novo se isso acontecer nos vamos dar
um jeito eu acho que o homem e a mulher tem direito
de se cazar de novo por esse motivo Deus criou o homem
e a mulher vegam em Genessis capitulo 1 a verciculo
26 e 27 Deus feis o Ado do p da terra e tomou uma
parte do Ado e fes a companheira EVA e Deus dice crecei
e multipricai enxei a face da Terra, se foce pro homem
viver sozinho Deus no fazeria a EVA Ado estaria ate
hoje sozinho Muntas famlias dizem o pai viuvou aguente
os pontos no deixamos ele cazar de novo ou a me cazar
de novo mais as vezes as famlias moram bem distante e
o fulano viuvo ou a fulana viuva tem que morar szinho
ou sozinha no meio de gente estranha e sempre na solido
no meio do abandono apozentado ou apozentada tem que
trabalhar pra sobreviver At o m da vida quando morre
os estranhos vo darlhe uma sepultura e a famlia esto
nua boa se deixou alguns bens vamos dividir o homem
sem mulher chega do servio ou da viagem tem que fazer
tudo na caza no tem os quem faa felis da quele que tem
um vizinho proximo. Findou a histria. poo Grande 14 de
maro de 2.009
Guardem o sbado que Deus descanou / e prezervem o
domingo que o Senhor ressucitou
O casamento faz parte da ordenao divina do mundo. Ele traz consigo a
diviso do trabalho adequada e a possibilidade de compartilhar os pequenos
acontecimentos do cotidiano, sendo o principal caminho contra a solido. No
entanto, a mudana dos tempos faz com que seja difcil um bom casamento nos
dias atuais, devido aos interesses nanceiros de algumas mulheres suplantarem
as motivaes legtimas do matrimnio principalmente no caso de homens
mais velhos. Na impossibilidade de ter algum a seu lado, sorte daquele que
conta com o apoio de vizinhos (e compadres). O que, contudo, apenas um
paliativo para a solido. Solido vivida por Joo Oliverto, apesar de poder
nomear, ao longo de sua vida, mais de vinte rapazes e homens que trabalharam
e moraram em sua propriedade, alm dos sogros, que l viveram cinco anos.
Mas tudo cou na saudade.
No so somente as relaes pessoais, entretanto, que cam na saudade.
Tambm um mundo, que nos ltimos tempos se transforma signicativamente,
e para pior. Como um dos eixos dessas mudanas, o uso de drogas pela
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
213
juventude
22
, que passa a no trabalhar, se envolver em crimes, desrespeitar
os mais velhos, impor aos pais sacrifcios para satisfazer seus desejos de
consumo, afastar-se da religio, no mais se importar com instituies sociais
bsicas como o casamento. A tal presente, o contraste de um passado em que
os ritos religiosos eram intensos, com a nomeao de vrios moradores locais
e as festas de santo realizadas pelas famlias. Tambm caracterizado por um
modo de produo artesanal, com a diviso de trabalho por gnero, marcado
pela autonomia. Um tempo de fartura, tranquilidade e respeito aos preceitos
divinos, em que o pobre era rico e no sabia e era gostoso viver:
Uma histria
Como ra o passadiu no passado que j foi e no mais volta
as pessoas as mulheres do passado faziam farinha de milho
moido no monjolo de agua pindocavam o milho abanavam
tiravam o farlo servia para alimentar os caxorros ponhavam
o milho de molho dentro de um saco e o saco dentro de um
sesto cavam o milho de molho por 10 dias da las tiravam
o milho esfregavam no balaio ate sair toda a goma do milho
enxugavam com um pano seco esfregando dentro do balaio
depois de seco o milho ponhavam no pilo do manjolo para
o monjolo moer o milho quando j moido elas peneravam
noutro balaio com a peneira na aonde saia a maa ou fub
da massa levavam ao forno redondo e com ais Mao faziam o
biju com fogo brando em baixo do forno passando um pincel de
palha molhado para no queimar o biju o biju ia levantando
do forno por si prpio elas ponhavam os biju na sururuca
especie de peneira grossa feita de taquara dentro do balaio e
iam moendo cava uma farinha bem ninha e se quizesse
tiravam tambem a quirera para cozinhar com suan de porco
ou a carne de porco guardada na lata coberta com banha
para no arruinar a carne caria de um ano para outro por
que no avia geladeira nesse tempo se quizesse tirava o fub
secava no forno para guardar para fazer bolo de fub ou broa
de fub e se quizesse tirava a cangica para cozinhar e comer
com leite de vaca Os homem plantavam a rossa de toco como
22
Este o tema especco de alguns escritos do autor, e est sempre vinculado propagao
do crime e da violncia e a uma idia de nal dos tempos. assim que, logo antes do texto
acima citado, Campos encerra um trecho sobre tal tema armando: Tudo esses castigos que
nos estamos vendo no Brazil e no mundo o que falta de Deus na humanidade s vai
mudar quando Cristo voltar apartar os cabritos dais ovelhas e o trigo do joio o bom
car a sua direita vinde bendito para meu pai / os da esquerda apartai vs de mim
malditos para o fogo do infrno.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
214
se dizia na poca rossavam a capoeira se era capoeira grossa
rosava em meis de maio junho e os pau grosso derrubavam
com o maxado para queimar da quadra da prima vra em
meis de setembro e a capoeira era na se rosavam queimar
em meis de outubro plantar milho e feijo se plantava com
o saxo ou sengo As mulheres cuidavam da caza dais hrtas
de mandioca e batata e outras ortalicias cuidavam das vacas
prcos cavalos guas burros carneiro cabritos e haves galinha
e outros nessa epca o pobre ra rico e no sabia que ra rico
tinha de tudo criolo so comprava o sal e o assucar e a pinga
que eles gostavam tomar um gle na hra do almoo comer
carne de gado cozinhado com feijo preto comer quirera com
suan de porco mandioca cozida tomar um bom ximaro erva
criola um xaruto de palha fumo que eles mezmo faziam As
mulheres custuravam as roupas para las os homem e ais
crianas Nessa epoca no tinha radio nem televizo nem lus
eltrica nem agua encanada s se trazia da fonte com o barde
se alumiavam com lampio a quirozene ou vela candiero
de banha de porco Nos danava o baile com esses lumes e a
gaitinha 8 soco ali por 1940 como era gostozo viver nessas epoca
Mais tudo mudou hoje os jovem no se trajam como rapais
caro para o garro brinco na orelha fuma se drga pinse
na boca corrento no pescoo s bertence a violencia o roubo
estelhonato secuestro estupro qurem sempre estar longe de
Deus no gostam dais igrejas catolicas e outras evangelicas s
Deus sabe como vai terminar
Aguarde em Brve Jezus Cristo vir
As marcas do progresso so, portanto, ilusrias. A possibilidade de garantir
o sustento a partir de uma produo prpria, crioula, que exigia apenas a
compra do sal, do acar e da pinga, algo muito valorizado pelo autor.
Acrescente-se que esse contexto levava a uma relao prxima entre pais e
lhos, denida pelo trabalho como valor. A construo de uma nova famlia a
partir do casamento como um importante projeto de vida. Contexto que, em
outro trecho, Campos contrasta com a atualidade: jovens no querem saber de
trabalhar, s estudam e nas horas vagas dormem ou assistem TV, pressionam os
pais com desejos de consumo. Moas engravidam solteiras, casais permanecem
juntos por pouco tempo. Um mundo de coisas e pessoas descartveis.
A interpretao dos sinais trazidos pelas mudanas contemporneas a
partir de uma perspectiva escatolgica, por sua vez, se sustenta em uma gura
religiosa muito importante nas concepes do autor: o (santo) profeta Joo
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
215
Maria de Jesus, do qual possui uma foto e um livro, e sobre o qual conta
histrias ocorridas na regio. Acrescente-se ser tal temtica que leva, ainda,
Joo Oliverto a ser visitado, entrevistado, lmado, fotografado e gravado por
mais de um grupo de professores e alunos da Zattarlndia (em seu livro constam
os nomes ou assinaturas de dezenas de crianas junto a suas professoras). O
relato da histria do Morro da Cruz, o primeiro escrito de sua Agenda de carter
menos pessoal, uma referncia importante para o autor que tambm inicia
a procisso at o local. Ele assim o faz:
Uma histria do morro da crus
Contada pelos 5 Homens Antigos que contavam pro meu pai e
eles proziando e eu anotando no caderno
Contado por 1 Jeronimo Leonardo de Ramos / fazendeiro
Contado por 2 Diulindro Elauterio de Ramos / fazendeiro
Contado por 3 pedro Cavalheiro de lima / fazendeiro
Contado por 4 antonio Benizio de Ramos / lavrador
Contado por 5 Manoel fagundes ...... / lavrador
Diziam eles
Que no ano de 1894 nas 3 lagoas abaixo do morro a beira da
estrada tropeira na logoa do meio foi encontrado um drago
igual a quele que So Jorge esta lanceando s que o drago
estava morto os homem que voltiavam a mata o acharam o
fenmeno, e se assustaram munto e a vizaram os vizinhos da
Epca Reuniuce o povo como no sabiam o que fazer montaram
no burro e puxaram outro e l se foram para a cidade de
Guarapuava, buscar o franscisco Clve (Chico Clve) que hoje
tem s a praa Cleve e o homem veio ver o fenmeno e disse
no do meu conhecimento esse fenmeno Voceis amontoem
bastante lenha e queime s no tomem a fumaa. assim a
zeram
Dali a poucos dias chegou o profeta Joo Maria de Jezus o povo
assustado contaram o cauzo ao profta ele nada dice s dice
voceis esto vendo aquele morro l em nossa frente estamos
sim tudo bem no dia 3 de Maio voceis plantem uma crus de
sedro l e rezem e faam suas orao quando eu de novo voltar
por aqui voceis tem cauzo a me contar e o povo feis o pedido
do profeta colocaram o cruzeiro no morro e zeram as orao.
Diziam eles quando chegou o ano de 1.900 escureceu o lugar
e sobre veio uma grande tempestade vendaval que uma
arvore alcanou a outra mezmo no pinhal gigante foi grande
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
216
o estrago mais no matou ningum no levou o rancho de
ningum que para um compadre ir ver o outro se no tinha
morrido percizava de ferramentas machado foice faco e serra
de trasar mais os compadres estavam tudo bem grassas a Deus
eles pensaram temos que contar o profeta sobre a tormenta,
Mais no foi s isso no
Quando chegou o ano de 1902 escureceu o lugar parecia vir
outra tormenta comessaram a rezar e fazer suas peces pedir
auxilio a Deus e lembrar de S. Joo Maria caiu a chuva e logo
clariou de novo o sol volto a brilhar no foi nada grassas a Deus
e S. Joo Maria
saiu de novamente os peo a voltiar a mata a passar pela
estrada tropeira deram com a lagoa do meio cheia de cobras de
todas as espcies ate de aza todas mortas sairam de novamente
avizar os vizinho que a laga do Monstro estava cheia de cbras
s que estavam mrtas se reuniram de novamente os vizinhos
da poca ate de longe vieram ver o fenomeno lembraram da
recomendao do Clve vamos amontoar e queimar assim o
zeram.
Na queles dias veio o profeta Joo Maria e elles tiveram coiza
para contar a elle e elle dice se voceis tivessem ABuzado
atormenta mataria munta gente e criao destruiria muntos
ranchos e as cbras cairiam vivas e terminaria o resto sobrava
munto pouco mais como voceis no ABuzaram nada aconteceu
e nunca deixem de fazer as orao l no morro dia 3 de maio
de cada ano por que no futuro se car ABandonado cair ais
crus e no mais colocarem os fenomenos vo se repetir.
(...)
Eu tenho f em Nso Sr Jezus Cristo e em So Joo Maria e
nossa Me Santicima e no pai lio esprito santo e em toda
a igreja que no vo se repetir os fenomenos vai ser um
ponto turstico o morro da crus morro de Joo Maria. eu
escrevi esta historia para car de lembrana Joo oliverto de
Campos poo Grande pinho pr estou quazi com 80 anos naci
em Guarapuava Quando meus pais vieram para o pinho 4 de
Maio de 1932 eu completava 6 anos no dia 6 de maio naci em
1926 Rezido no pinho a 73 anos.
Explicita-se que a realidade do passado tambm no romntica, mas
repleta de perigos. No entanto, esses no so humanos: tempestades e
vendavais, drages e cobras (inclusive de asas) que aparecem mortos. Por
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
217
outro lado, so as atitudes humanas responsveis por suas consequncias:
o respeito aos conselhos de Chico Clve
23
e So Joo Maria e a adoo de
aes corretas frente aos sinistros acontecimentos protegem o povo do lugar,
impedindo que se tornem vtimas. O profeta, por sua vez, convive com os
antepassados, sacraliza o local e ensina aos moradores a forma prpria de se
portar tanto no cotidiano quanto em grandes momentos. Ele representa esse
passado de mistrios e sabedoria que o presente insiste em desconsiderar
embora os riscos no tenham deixado de rondar Poo Grande e o mundo de
maneira mais ampla.
Nesse sentido, interessante observar a interpretao que Joo Oliverto faz
das notcias a que tem acesso atravs das leituras e da mdia. Elas contribuem
para a perspectiva escatolgica, so claros sinais de que a proximidade do
apocalipse uma realidade e que as profecias de So Joo Maria se cumpriro. O
sculo XX e o incio do XXI so lidos a partir de suas guerras, crises, catstrofes
naturais que embora no sejam responsabilidade exclusivamente humana,
so reexos dos caminhos tomados pela humanidade no perodo:
falta de F e conana Em Deus
Contado pelos antigos que apis Gurra 1 Gurra Mundial
de 1914 a 1917 aperaceu N S em fatima aos 3 vidente lucia
francisco e Jacinta em fatima na cova de iria em portugual
de 13 de maio a 13 de outubro de 1917 mandando rezar o
tero pra guerra acabar // e contavam que em 1918 chegou a
gripe espanhola matou centenas de povos no Brazil e em 1924
estorou a Revoluo federalista S. Paulo paran e Rio Grande
do Sul e em 1929 a crize mundial e em 1930 a Revoluo
Getulista o Getulio Varga ganhou o poder ditadura getulista
por 15 anos em 1935 A Tentona Cumunista no Rio de Janeiro
no vigorou em 1 de setembro de 1939 estorou a 2 Gurra
Mundial terminou e em 8 de maio de 1945 milhes de mrtos
em 1941 a Ratada no Paran em 1946 a 1947 gafanhoto no
paran 1947 a peste suna terminou com os porcos 1948 a febre
afetoza no gado caprino e ouvinos e os porcos que sobrou em 1964
em 31 de maro estorou a Revoluo contra o prezidente Joo
Gular e Brizla a ditadura militar por 20 anos at 1984 e por
m chegou o 3 Milenio Ceculo 21 ano 2.000 ai foi s mudando
torneado ciclones no esterior e no Brazil e no mundo atual
violencias assaltos sequestros drgas prostuio ao AR livre
23
No h maiores informaes sobre quem seja ele, embora seu nome estar em uma praa
indique ser pessoa de destaque na Guarapuava da poca.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
218
2.005 gripe do frango 2.009 a gripe suna no povo brazileiro
veio do Mexico em 7 de setembro de 2.008 para 8 de setembro
de 2.009 a enorme tempestade que atingiu todo o parana 46
municipio e Santa Catarina 6 municpio Sta Catarina j
tinha sofrido catastro em 2.008 Rio Grande do Sul e So Paulo
sofreram agora nesta de setembro milhes de dezabrigados e
muntas mrtes e s Deus pode valer por que est se comprindo
as professias blbicas o nal esta se aprocimando na sua igreja
catolicos ou evangelicos joelhos no cho teros e bblia na mo
sera a tua salvao
Ou ainda:
Deus o Homem
- e a Natureza -
Deus criou a natureza criou o homem e ao passar os cculo o
homem destruiu a natureza e a natureza se revoltou contra o
homem Ai vem o aquecimento grobal que os cientistas falam
vem as frtes tempestades que destroem cidades e mais cidades
ventos de 160 por hora pedreiras enormes que me tudo chuvas
frtes demais no passado no ra assim para nos vlhos de 80
a 90 anos vimos o passado hoje est tudo diferente a natureza
no se sabe quando e invrno ou vero est crto como dice Joo
Maria de Jezus que hoje o homem Abuza de tudo e alguns
dizem que Deus no eziste muntas escla encinam assim que
Deus e uma histria
E ai como ca os jvem do futuro como ca a sua f ai vai
vindo castigo de Deus sobre a humanidade como ns fala a
santa Bibia no antigo testamento Sodoma e Gomorra samaria e
jeruzalem Sodoma e Gomorra ainda EZIste mais foram sofridos
// e hoje o preconseito est em tudo que igreja seja catolica
evangelica o Juda sempre est l Amando o preconceito e assim
vai ate o m
Curiosamente, apesar de abordar as mudanas ocorridas com relao
ao passado, e morar em regio muito prxima Zattarlndia, no h nos
manuscritos de Campos nenhuma referncia atuao da madeireira Joo
Jos Zattar ou de suas consequncias na regio. Silncio sobre a formao
do povoado, a grande auncia de pessoas de fora, a presena de grupos
armados e os embates com moradores locais. As transformaes relatadas
de maneira negativa remetem ao nal dos tempos, no a uma mudana nas
relaes produtivas no municpio. Nenhum comentrio seja sobre o progresso,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
219
seja sobre o conito ou a destruio ambiental aspectos recorrentes quando
a questo da madeireira abordada. A nica meno empresa ocorre ao
falar de Juvenal de Assis Machado, o Machadinho, gura importante em suas
memrias por ser uma pessoa de proeminncia regional chegou a ser prefeito
de Guarapuava , amigo de seu pai, responsvel pela contratao do professor
particular que lhe deu aulas em 1939 e 1940. Em 1942, Machadinho teria se
tornado comprador de pinheiros gigantes. Teria sido ele o responsvel por trazer
a Zattar para Bom Retiro
24
. Quanto s consequncias desta vinda, silncio.
Os indcios do m dos tempos no retiram, contudo, a responsabilidade
das pessoas em desempenhar os papis cvicos e religiosos que lhes cabem.
Apesar da idade, da solido, dos preconceitos de que se sente vtima (pela
velhice), Joo Oliverto continua cumprindo com seus deveres como catlico
25
,
zelando de sua propriedade e da capela prxima, recebendo as pessoas que
vm de fora para ouvir suas histrias, registrando suas impresses sobre o
passado, o presente e o futuro. Em seus recortes e manuscritos, preocupaes
com o devir, a busca de uma boa velhice e de uma boa morte. E o cumprimento
de obrigaes religiosas e cvicas
26
. O que faz e far em Poo Grande, Bom
Retiro, Pinho, seu lugar no mundo.
2. Histrias que se contam para as crianas
Os textos analisados a seguir foram elaborados em atividade desenvolvida
com os estudantes das turmas de histria do 6. ao 8. ano do ensino
fundamental da E. E. Izaltino Bastos, em outubro de 2012 ento sob a
responsabilidade da Profa. Alecxandra Portella. A proposta por mim apresentada
aos alunos foi de que produzissem relatos sobre o passado local, sem tema
denido, a partir de conversas com pais, avs, parentes mais velhos, vizinhos,
etc. A temtica no foi previamente estipulada de maneira intencional, tendo
como objetivo perceber quais os aspectos eleitos como eixos das narrativas, e
como os jovens as abordariam. Dois estmulos para a realizao da proposta:
24
Novamente, o silncio no sinnimo de esquecimento. Em uma conversa, Joo Oliverto
menciona sua lembrana sobre vizinhos que venderam rvores e, enganados, assinaram uma
escritura de venda da sua propriedade. Eles tiveram que abandonar o local, e nunca mais
conseguiram ter acesso a um pedao de terra prprio.
25
Em uma anotao ao nal do livro (uma das duas nicas manuscritas datada de 2009), o
relato de um momento em que o autor teria expulsado o demnio do corpo de uma sobrinha,
apontando poderes e funes religiosas mais amplas do que se poderia supor pelas descries
anteriores.
26
O ltimo texto da Agenda (que, no entanto, no o ltimo escrito, pois como apontamos ele
construdo tanto de frente para trs quanto de trs para frente) o relato de sua admirao
por Getlio Vargas, em quem votou pela primeira vez, sua participao em mesas eleitorais por
trs dcadas e o cumprimento do direito de votar, que pretende exercer at a morte.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
220
a Profa. Alecxandra consideraria o resultado da atividade em seu processo de
avaliao do desempenho na disciplina, e todos aqueles que participassem
concorreriam a um sorteio de material esportivo a ser posteriormente realizado.
Foram, ento, redigidos 141 textos por 140 alunos (apenas dois do 9. ano,
que participaram da atividade voluntariamente). Ou seja, de um total de 262
matriculados do 6. ao 8. ano, no incio de 2012, 138 entregaram textos: uma
participao de 52,7% dos estudantes matriculados, que deve ter sido ainda
mais substancial devido s desistncias ocorridas ao longo de 2012.
Cada texto possui entre algumas linhas e algumas pginas
27
. No entanto,
mais do que as produes individuais, a totalidade pode ser tomada como
um conjunto expressivo, na medida em que as diferentes selees e
interpretaes dadas pelos jovens das histrias a eles narradas compem
um corpo signicativo, com algumas temticas recorrentes e perspectivas
comuns. Assim, alguns dados quantitativos so aqui relevantes. Destacam-se,
de maneira evidente, as narrativas sobre trajetrias familiares, que so tema
de 67 redaes ou seja, 47,5% do total das narrativas aborda esta questo.
Dentre elas, um quarto (17 textos) tem como referncia a temtica da guerra
como vinculada histria dos antepassados. Um segundo tema recorrente
aquele que trata da rusticidade do passado (presente em 50 textos 35,5% do
total), sendo um componente comum as descries do sistema de ensino do
passado e das diculdades de transporte, material, infraestrutura enfrentados
pelos alunos. Em terceiro lugar aparecem as histrias de visagens, presentes
em 21 escritos (14,9%). As referncias aos conitos recentes com a Zattar,
ou a processos de expropriao e violncia vinculados empresa, ocorrem em
apenas 9 casos (6,4%). H, ainda, alguns relatos sobre a trajetria do prprio
autor, a histria do lugar de moradia ou de Pinho, o sistema de terras livres
que marcava o Faxinal dos Ribeiros, festas e prticas religiosas, a vida local,
brincadeiras de crianas, entre outros. Alm disso, os temas no se excluem
mutuamente, havendo textos que abordam vrios deles interligados.
A riqueza do conjunto da produo dos alunos diculta explorar todas as
possibilidades de anlise e questes levantadas por eles. Assim, a proposta
de trazer alguns textos, no por sua representatividade em relao ao todo, mas
por permitirem considerar as vrias perspectivas construdas sobre o passado.
As trajetrias familiares, tema mais recorrente, so narradas muitas vezes
a partir de um ou alguns ancestrais especcos. Nelas, adquirem destaque
27
Os textos citados a seguir o sero em sua totalidade, a m de que seja possvel compreender
sua estrutura. Tambm passaro por uma reviso bsica de portugus, mantendo expresses e
graas fora da norma culta apenas quando forem consideradas signicativas. Alm disso, devido
a algumas temticas terem relao no s com o passado, mas com a tenso do presente, e
objetivando no expor seus autores, no ser citada a autoria de cada um deles, mas apenas o
gnero e a srie de quem o elaborou.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
221
os deslocamentos, tanto passados quanto presentes, responsveis pela
congurao familiar no momento da escrita, como no seguinte texto:
Um pouco sobre a vida da minha famlia
Eu nasci no Pinho, mas moro no Lajeado Feio II. Eu adoro morar l
e incrvel. Eu tenho trs avs e uma bisav. O nome dela Isaltina
Maria de Frana e a lha dela Idalvina Bueno Kinceler e a av da
minha av Irondina e minha bisav tem 96 anos. A minha av tem
53 anos. Minha bisa nasceu no Pinho e morou no Iguau e depois
Faxinal dos Ribeiros e depois no Pinho e agora est morando no
Paredo, Cruz Machado. E minha av nasceu no Pimpo e se criou
no Pimpo e agora est morando no Avencal e minha av tem sete
irmos. Eu tenho quatro tios, treze tias e minha outra av tem 56
anos, o nome dela Anatlia e mora no Lajeado Feio II. Ela morou
em Santa Emlia e o meu av Sebastio morou na Colnia e so
casados desde quando minha av tinha quinze anos. E agora eu estou
morando no Avencal. Etc. (Aluna do 6. ano).
Aqui, uma ideia de que a histria familiar envolve a nomeao de seus
componentes mais importantes e os movimentos por eles realizados. Uma
xao no solo relativa: por um lado, os membros da famlia se mudam
constantemente; por outro, o fazem principalmente dentro de um territrio
comum, que envolve as cidades de Cruz Machado e Pinho, e toda a zona
rural intermediria. O que facilitado devido maneira com que as moradias
so construdas na regio: de madeira ou, mais recentemente, pr-moldado,
permitindo que sejam desmontadas, transferidas para outros lugares,
vendidas
28
em outras palavras, muito mais bem mveis que imveis. Os
vnculos familiares, de compadrio e amizade, por sua vez, permanecem apesar
das mudanas, devido relativa proximidade. Na verdade, o uxo de pessoas
estabelece uma rede de apoio signicativa: h sempre parentes, compadres,
ex-vizinhos ou amigos na cidade ou na zona rural onde se pode comer, car
algum tempo, ou mesmo dormir (posar no vocabulrio local) em algum
momento de necessidade ou diverso embora haja tambm restries ao
abuso da hospitalidade. E, simultaneamente, possvel evitar algumas tenses
28
O contraste com o contexto de Minas Gerais, por mim anteriormente pesquisado, muito
interessante. Com efeito, as moradias de adobe ou alvenaria, comuns em Minas, levam tanto a
uma xao em um local especco quanto permanncia de evidncias da ocupao caso este
seja abandonado. J no interior paranaense, o sistema comum de desconstruo e reconstruo
de casas leva a que haja muito mais exibilidade em relao ao local de moradia, sempre
potencialmente modicvel. Mesmo que, na atualidade, haja alguma perda, por exemplo, com
os pisos ou a estrutura do banheiro, ela sempre relativa, e no impede a comercializao de
casas ou sua mudana de lugar.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
222
e conitos com a sada de um lugar onde eles se tornem muito intensos. Neste
texto, no entanto, no h qualquer referncia aos motivos dos deslocamentos,
apenas a eles em si mesmos. Mas o etc. ao nal indica que a autora no pensa
nestes como tendo cessado, tem a trajetria familiar em aberto.
Mas se h uma tendncia ao deslocamento prximo, este no o nico
mobilizado pelas famlias. Tambm ocorrem migraes mais amplas
29
, o que no
implica necessariamente em uma ruptura com o lugar de origem, ou com os
valores a ele relacionados. O que pode ser percebido no texto de outro aluno:
A minha me natural de Pinhalzinho. Viveu ali at os dez anos,
depois foi com os pais para Cruz Machado. Ficou l at seus quatorze
anos, depois foi para So Paulo, cou l seis anos e oito meses,
depois voltou para o Pinho. Casou e teve ns. Da viveu no interior,
depois foi morar na cidade de Pinho. Viveu quatro anos l, mas ns
fomos crescendo e a me achou melhor vir para o interior, porque ela
tem gua vontade, tem lenha, tem galinha para botar e tambm
para comer ovos, e tambm umas vaquinhas para tomar um leitinho
com farinha e com caf e para fazer bolos e bolachas e tambm
fazer todas as deliciosas coisas com leite sem precisar comprar leite
e tambm horta cheinha de verduras para comer todos os dias nas
refeies e tambm tem um espao suciente para o que quiser fazer.
Ela falou que no interior s alegria, e a me formada em tcnico
especializado e formado pelo SENAC, e ela formada desde 2004. Ela
no est trabalhando porque aqui no Ribeiro no tem indstria nem
comrcio (Aluno do 7. ano).
Neste caso, o retorno ao lugar de origem resulta da possibilidade de
manter, ali, um estilo de vida invivel na cidade seja So Paulo, seja Pinho.
A produo do prprio alimento e a capacidade de desfrutar uma existncia
mais livre so interpretadas como mais relevantes que o trabalho que poderia
advir de uma formao tcnica. Anal, no interior s alegria, mesmo sem
indstria ou comrcio.
Os deslocamentos no se do, portanto, em um sentido nico: do campo
para a cidade, com a consequente perda dos vnculos e valores deixados para
trs. Ao contrrio, ocorrem em mltiplos sentidos. Em alguns casos, mesmo, o
desejo de levar um estilo de vida especco, caracterstico do lugar, dene a
sada de um centro urbano e a opo pela vida na roa, como no texto a seguir:
29
Destinos comuns na atualidade so Santa Catarina e, em menor escala, Mato Grosso e
Rondnia.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
223
Em 1997, dia 14 de dezembro, o meu av chegou em Faxinal dos
Taquaras com a minha av que queria vir morar nos matos. E meu
av vendeu a sua casa em Guarapuava para um primo dele e acabou
comprando um terreno em Faxinal dos Taquaras. Quando ele chegou
no terreno, era um mato, taquarazal, e ele roou para poder fazer
a casa, lavoura, potreiro. Depois que ele fez a casa, minha av veio
morar e trouxe seus lhos. A sua lha que minha me morava em
um paiol. Eu tinha dois anos e minha me teve um beb, e de repente
caiu uma vela no lenol da cama e pegou fogo, ela teve que chamar
o meu av. Com o tempo ns j ouvimos muitas histrias com ele.
Ele conta que tinha um velhinho de 60 anos e um de 30 anos. Um
dia o velhinho falou que ia plantar algumas laranjeiras e o homem de
30 anos falou que quando desse laranja ele j teria morrido. Mas no
foi o que aconteceu. Quando deu laranja o homem de 30 anos tinha
morrido e o de 60 anos chupou laranja por muitos anos.
O meu av tocava em baile quando mais jovem, sempre que saa um
baile eles iam procur-lo. Ele tocava gaita, mas com o tempo ele
deixou de tocar, pois ele casou, da vieram os lhos, ele se mudou
e comeou a trabalhar na roa. Agora ele s toca s vezes. Com o
tempo ele foi construindo uma casa maior. Nem o meu av, nem
a minha av tm estudo. Eles contam que quando os lhos deles
estudavam, eles levavam os materiais num pacote de arroz ou de
acar, chinelinho de dedo, e eles no tinham roupas compradas.
Era minha av que costurava as roupas para eles usarem. Eles no
tinham luz, era base de vela. Quando algum comprava um colcho,
que era bem no, eles falavam que a pessoa estava rica, pois naquele
tempo os colches eram feitos de palha, quando ia dormir tinha que
car arrumando, porque se no caria ruim para dormir. E as casas
eram de ripas e no tinha assoalho, era de cho. E as escolas no
tinham nibus para buscar e levar os alunos. A minha me e meus
tios e tias quando estudavam, eles iam a p, todo dia, com chuva e
com sol. Ela conta que eles no compravam trigo, arroz, feijo e que
os doces ela fazia de acar e o fogo dela era feito de barro. Meu
av conta que no Pinho tinha apurado vinte casas e dois mercados
quando ele veio morar aqui. Mas teve muitas alegrias e tristeza. Com
o tempo morreu na frente da minha casa a minha prima, depois de
anos morreu o meu tio, e eu achei que eu no ia conseguir morar
mais aqui. A minha av quase cou louca, pois ela o amava (Aluna
do 8. ano).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
224
Embora a narrativa leve suposio de que a vida em Guarapuava foi
antecedida por uma criao no interior e em Pinho pois as descries
em torno da forma como se vivia remetem quelas relativas ao passado do
Faxinal dos Ribeiros, e Pinho retratado com vinte casas e dois mercados no
se refere a 1997 interessante observar como a rusticidade no um fator
de restrio vida no interior. Ao contrrio, h o desejo de morar nos matos,
mesmo que para isto seja necessrio abrir o terreno e construir um espao de
vida com trabalho, lutar para produzir o sustento e enfrentar as diculdades de
uma infraestrutura mais simples. Como aponta a histria dos homens de trinta
e sessenta anos, o trabalho na terra sempre recompensa, e o desprezo a ele
indica falta de sabedoria. Os empecilhos esto em outra esfera: as experincias
de morte cujos motivos no so, entretanto, explicitados.
A perspectiva dessa forma de vida especca dbia: por um lado, o
sofrimento de um contexto com diculdades de transporte, acesso sade, bens
de consumo. Por outro, a armao da autonomia e de uma forma especca
e valorizada de viver. Mas, em ambos os casos, algo sobre o que se deseja
falar. Os quatro textos abaixo mostram vrias interpretaes da rusticidade do
passado:
Hoje em dia as pessoas acham que a vida est difcil. Imagine alguns
anos atrs. A comear pelo transporte que eu vou para a escola.
Hoje ningum gasta calado, se depender do transporte s vai a p
quem quer. Antigamente se quisesse estudar era obrigado(a) andar
a p independentemente se chovia ou fazia sol. O material escolar
era apenas um caderno, escreviam com pena, livro jamais existia,
mochila era sacola de pano, alguns faziam de pacotes. No existia
luz nem seus componentes. Fazer compra era muito difcil, tudo era
crioulo, plantado nas roas e lavouras. E no caso de doenas, eram
transportados de carroa. Se a doena fosse grave, a pessoa chegaria
at morrer na viagem, porque demoraria alguns dias para chegar
no hospital. No caso das mulheres ganhar nen, existia algumas
mulheres que faziam o parto em casa, que se chamavam parteiras.
Desculpe dos erros: espero que esteja bom (Aluna do 6. ano).
A vida da minha me
Ela mora no Faxinal dos Ribeiros. Ela entrou na escola com 10 anos.
Era muito longe, era s por carreiro e carregavam o material em pacote
de acar. S que ela no gostava de estudar. Eles moravam no faxinal
e tinham que vir trabalhar no Pimpo. Eles plantavam milho, feijo,
verduras, etc. A v fazia farinha de milho, farinha de mandioca,
polvilho. No tinha geladeira, guardavam a carne na lata, etc.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
225
Eles usavam cavalo como transporte. No tinha estrada, s carreiro,
por isso eles usavam mais o cavalo, etc. Moravam em paiol, era
rodeado de tbua e coberto com tbua e tinha cho de terra e perto
do paiol era oresta. No tinham tempo para brincar, era s ajudar
os pais (Aluna do 6. ano).
Como era a vida dos antigos
As casas eram rodeadas de esteira de taquara. No existiam tipos de
comidas que tem hoje, s existia arroz, feijo, trigo, fub de milho,
mandioca, batata doce.
No tinha estudo como tem hoje. Os meus pais s conseguiram tirar
a primeira srie.
As festas e os bailes no como as este(?). S eram uma romaria.
So Gonalo. Estes eram os tipos de msicas.
Nos bailes dava muita briga, as pessoas bebiam a noite inteirinha.
De madrugada j estavam todos bbados. E brigavam at se matar,
cada briga que dava morria dois ou trs.
No tinha empregos. Eles faziam de cinco alqueires de roa para ter
o que viver.
Eles deixavam os lhos na casa e saam de madrugada. Era inverno
de madrugada, estava branco de geada, e eles iam trabalhar por dia
para os outros para pegar dinheiro.
Hoje no. Tudo mais fcil. Hoje tem tudo o que precisar, s
querer.
Mas a histria no termina aqui. Se for para ouvir os mais velhos,
pois se for falar o que eles passaram a gente escreve um livro inteiro
(Aluno do 7. ano).
Como era antes tempos!!!
Antes tempos meu pai me disse que ele morava no Zattarlndia. Ele
estudava na Escola R. M. Francisco Ferreira e o seu irmo. Moravam
longe da escola, iam a p ou a cavalo. De vez em quando meu pai
no tinha tanta roupa para ir para a escola e nem dinheiro tambm,
nem mochila. Levavam sua sacola de plstico, caminhavam muito at
chegar escola, era muito longe de casa e para voltar tinham que ter
muito cuidado com tigre e outros animais.
No caminho l no Zattar era muito pinheiro. Por isso chamam de
Zattarlndia e muito perigoso tambm.
Meu pai trabalhava na roa, buscava lenha e tambm gua. O
dinheiro era muito pouco para eles comprarem roupa. Daqui uns anos
no ganhavam nem salrio mnimo e nem bolsa famlia. Era muita
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
226
preocupao com eles, como a comida, o dinheiro e o salrio. Tinha
que trabalhar para ganhar o dinheiro e a comida. Minha av fazia
roupa para a av, o meu av e os seus lhos. Minha av tinha seis
lhos, ela pegava algodo para fazer roupa e pele de carneiro e de
ovelha e a crina de cavalo. Meu av trabalhava muito e minha av
e os lhos. Os lhos: minha av tinha quatro lhas e dois lhos.
Ajudavam muito eles na roa, na colheita, em casa, fora e gostavam
muito do trabalho (Aluna do 6. ano).
Alguns aspectos chamam a ateno das crianas, como a inexistncia de
transporte automotivo, a necessidade de caminhar a p longas distncias,
a ausncia de material escolar, a diculdade de acesso a roupas e calados,
o consumo quase exclusivo de alimentos produzidos pela prpria famlia, as
moradias rsticas. Mas, se essas situaes eram descritas como sofridas, por
outro lado, como aponta o ltimo texto, os lhos ajudavam os pais na roa,
na colheira, em casa, fora e gostavam muito do trabalho. Remete armao
j citada de que a vida no interior s alegria. Por outro lado, o terceiro
texto traz os conitos e a violncia cotidiana: bailes com bebedeiras, brigas,
assassinatos mltiplos. Aspecto j presente nos textos analisados no item
anterior, e que compe a imagem de um passado de homens armados e em
que os momentos de reunies e diverso representavam sempre perigo o que
ainda pode ser observado em situaes contemporneas.
O ltimo texto traz ainda outro ponto relevante: a autora diz que o pai
morava na Zattarlndia, mas esta no aparece como um local diferenciado, nem
h referncias ao da empresa madeireira. Apenas a descrio do lugar como
um denso pinheiral, povoado por tigres e outros animais, e muito perigoso.
Somente o trabalho autnomo na roa, com criao, a lida domstica. Nenhum
outro vnculo com um espao que, em conversas com moradores locais, era
descrito tanto a partir de sua pujana e acesso a recursos diferenciados, quanto
pelos perigos e sistema de controle l existentes.
Voltando s trajetrias familiares, um dos aspectos que se destaca nas
redaes dos alunos presente em torno de 25% daquelas que abordam o
tema a relao de antepassados com contextos de guerra. Guerra s vezes
identicada, outras indenida, mas que submete os ancestrais a situaes
de grande sofrimento, ou pelo menos ao risco do sofrimento. Na maioria dos
casos, ela o mvel para o incio do processo migratrio que se encerra
na zona rural de Pinho. Embora a ameaa da guerra no desaparea, como
demonstram situaes em que aqueles que dela haviam fugido so chamados
a lutar novamente, ou em que moradores locais so convocados a participar
de batalhas. A meu ver, este o tema em que os textos dos alunos so mais
ricos e complexos, e a citao integral de alguns deles permitir ao leitor
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
227
desenvolver outros caminhos de raciocnio distintos daqueles aqui sugeridos.
Um dos textos que identica a guerra a que se refere distingue-se dos demais
pela preciso temporal e acuidade das informaes. Refere-se ao Contestado,
fuga dos ancestrais, xao no lugar e permanncia, mesmo que isto tambm
tenha envolvido lutas tanto para a sobrevivncia na comunidade quanto
pela preservao ambiental (estas no explicitadas). Um aspecto signicativo
do texto a armao de que os membros da famlia que chegam a Pocinhos
portam consigo um arsenal blico, embora no haja referncia ao destino
posterior deste arsenal
30
:
Histria da origem dos Jocoski
No ano de 1916, chegaram at a nossa comunidade de Pocinhos, trs
membros da famlia Jocoski, oriundos da regio onde aconteceu uma
verdadeira guerra, conhecida como Guerra do Contestado. Vieram
fugindo pelas matas, abrindo picadas com foices e faces, trazendo
junto um arsenal de armas e munies, dois dos Jocoski acamparam
nas margens do Rio da Areia, regio de Pinho. Com isso foram cando
no local e constituindo famlias, onde estamos at os dias de hoje
na mesma regio. Somos pequenos agricultores, ou seja, somos da
agricultura familiar, lutamos pela nossa permanncia e sobrevivncia
na comunidade, onde tambm defendemos a preservao do nosso
ambiente em que vivemos, que a nossa fauna e ora (Aluna do 8.
ano).
Outros relatos, embora faam referncia a conitos especcos, em seus
detalhes demonstram a impossibilidade de que se reram exatamente a eles
ou que seus desdobramentos sejam aqueles armados. Assim, no texto a
seguir, o ancestral foge da Segunda Guerra Mundial a p, se xa em Palmas e
posteriormente vem para o interior de Pinho. Alm disso, a possibilidade de
trazer algo de valor da guerra, como armas e munies, pouco comum nas
narrativas. Ao contrrio, o contexto de guerra de extrema falta, inclusive
de itens bsicos de alimentao. Aqui, o bisav precisa se tornar canibal,
bebendo o sangue de soldados mortos, para sobreviver. E a experincia da fuga
da guerra o deixa debilitado de maneira denitiva, estando impossibilitado de
caminhar ao chegar a seu destino, morrendo em idade no muito avanada:
30
interessante observar que h um morador do Bom Retiro que possui espadas da poca
do Segundo Imprio. Tambm em Faxinal dos Taquaras, onde alguns membros relacionam sua
histria familiar ao Contestado, houve referncia sacralizao do local onde estava construda
a primeira igreja catlica e na atualidade a igreja da Congregao Crist atravs de espadas
trazidas da guerra e l enterradas.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
228
Eu vou escrever sobre a histria do meu bisav Diogo Silvrio Mendes.
Ele foi soldado da 2. Guerra Mundial, mais ou menos no ano de
1945, com 25 anos. Chegando l meu bisav passou fome, sede, frio,
medo. Para no morrerem de fome e sede eles forravam os braos
com uma tnica e bebiam o sangue dos soldados mortos. Depois
de muito sofrimento, meu bisav e mais trs soldados conseguiram
fugir da guerra. Andaram muitos quilmetros a p no meio do mato.
Moraram muitos anos em Palmas. Teve quatro lhos e se casou com
Otlia Mendes. De Palmas veio morar no interior da cidade de Pinho.
Quando chegou em Pinho ele no conseguia mais andar por causa
dos tiros que levou na guerra. Depois de tanto sofrimento faleceu
com 60 anos. Est sepultado no cemitrio do Faxinal dos Ribeiros
(Aluna do 7. ano).
A saga do paraguaio Telo e de sua famlia, abordada de forma mais
genrica em Faxinal dos Ribeiros, uma grande referncia para seus
descendentes, e traz uma riqueza de detalhes signicativa. Em um caso em
que os vnculos familiares de uma estudante so conhecidos, e em que seu av
paterno um dos smbolos do sofrimento pela ao dos jagunos da Zattar e
da resistncia a ela, a autora opta por falar de sua famlia materna, a famlia
de Telo. Uma breve referncia luta contra a madeireira, apenas da famlia
materna, e trechos signicativos sobre a fuga da guerra. Mas no texto de
outro descendente que a riqueza de detalhes se manifesta de maneira mais
plena:
Histria de Telo Alves Cerens
Morava no Paraguai quando ocorreu a guerra. Ele tinha sete anos
e veio com o pai, me e o tio. A sua me estava grvida de sete
meses. Estavam vindo pela mata corridos, fugindo. Trouxeram um
burro com bruacas com pouca comida, porque conforme o alimento
estragava no caminho. Deixaram at a porta e as janelas da sua
casa abertas, porque tiveram que fugir do Paraguai para vir morar
no Paran. Levaram trs meses para chegar ao Paran, e a me de
Telo, como estava grvida, cou perdida na mata e morreu. Como
eles no podiam parar no caminho, tiveram de abandonar sua me
Andrelina, porque seno os guardas matavam os trs. Eles tiveram
de vir a p pela mata fechada. A guerra durou dez anos, quando
chegaram ao Paran os guardas pegaram o pai de Telo e tio
Frederico para levar para a guerra. Quando estavam a caminho da
guerra, souberam que a guerra tinha acabado. Soltaram-nos no meio
do caminho, tiveram que vir a p. Enquanto o pai e o tio de Telo
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
229
no chegavam, ele cou num barraco sozinho. No demorou muito
o pai e o tio chegaram e comearam a fazer uma casa, onde hoje
tem o nome de Campinas. E outro amigo de Telo era um pi que
tinha em base de doze anos. Ele tinha que sustentar dez famlias por
causa da guerra. Para alimentar as dez famlias, ele fazia uma rodilha
com uma corda nos carreiros das vacas e matava de quietinho, para
que os donos no escutassem. E comiam a vaca de uma vez s.
Enquanto algumas pessoas tentavam tirar o couro da vaca, as outras
pessoas j comiam a carne sem lavar e sem assar, sem sal, e o couro
eles esperavam secar um pouco e mascavam com pelo e tudo. Eles
moravam no mato como ndios, quando no tinham o que comer,
eles tinham de roubar montarias e comiam os couros. Tudo isso por
causa da guerra: ele perdeu a me, pai, s cou os parentes, tios,
dez famlias, cada uma com mais ou menos oito pessoas. Moravam
no meio do mato.
Alfredo Domingues nasceu em 1942, no lugar hoje chamado Faxinal
dos Ribeiros. Aos treze j trabalhava para sustentar os pais, que eram
muito doentes. Aos vinte e dois anos, casou-se com Maria de Lourdes.
Fizeram uma casa no meio do mato, que antes era propriedade do
Zattar, uma madeireira que atentou muito ele, mas ele no desistiu.
A chegou o INCRA, que dividiu as posses. Hoje ele tem um terreno
com documento e tudo. Tem de histria um grande toco de pinheiro
que o Zattar derrubou. O brotinho que cou hoje quase um pinheiro
gigante, para quem quiser ver o pinheiro (Aluno do 8. ano).
Vemos, aqui, uma riqueza de detalhes que amplia simbolicamente a
importncia da temtica da guerra na compreenso da perspectiva local sobre
seu passado. Uma guerra mltipla, em tempos e espaos distintos, que marca
a vida dos moradores locais. Telo, j criana, a enfrenta, com a necessidade
da fuga do Paraguai, que obriga a famlia a deixar todos os seus pertences, e
inclusive sua casa aberta. Trs meses de caminhada em meio mata, a perda
da me grvida, a fuga dos soldados e o risco de morte. E, no momento da
chegada, o encontro com os temidos guardas e a necessidade dos homens de
retornar para a guerra que, para a sorte deles, aps dez anos havia acabado
, cando Telo sozinho no novo lugar. Mas o destino de um amigo de Telo
muito mais grave, e no h indcios de que fosse paraguaio. Com doze anos,
precisando sustentar sozinho dez famlias, que moravam no meio do mato.
Tendo como recurso o roubo de gado, comido cru, de uma s vez, sem sal, sem
sequer lavar a carne; o couro mastigado logo que comeava a secar, com pelo
em um processo de desumanizao extrema. Perdeu no apenas a me, mas
ambos os genitores, cando ainda com o encargo do sustento dos parentes.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
230
Posteriormente, os problemas de Alfredo Domingues, natural de Faxinal dos
Ribeiros, com a ao da madeireira, que atentou muito ele. Por ter construdo
uma casa no meio do mato, em rea reivindicada como sua pela empresa.
Mas possvel pensar: para quem descendia de algum que, ainda criana,
tinha cado rfo mas sobrevivido guerra, e que encontrou em Faxinal dos
Ribeiros o lugar para se estabelecer e construir sua famlia, como no resistir?
Resistncia bem sucedida, pois o INCRA regularizou suas terras. E o conito,
embora lembrado, se tornou coisa do passado: o brotinho do toco de pinheiro
que o Zattar derrubou hoje quase um pinheiro gigante.
Outro relato, to rico quanto o anterior, fala de uma guerra distinta, mas
com proximidades (tanto estruturais quanto em relao a suas consequncias),
histria de Telo e seu amigo. Interessante observar que, quando seu
autor foi ler o que havia escrito em sala de aula, pulou uma grande parte
principalmente aquela que falava do retorno guerra por ser triste demais.
Tudo comeou com o Senhor Bertolino Prestes e sua mulher Vergilina
da Silva Prestes. Moravam em uma fazenda em Curitiba, l existiam
muitos guerrilheiros de terras, a em diante comeou conito por um
espao grande de terras e foram se perdendo muitas pessoas dos dois
lados, tanto dos invasores quanto dos verdadeiros donos das terras.
Com a guerra em alta, os donos das terras tiveram que abandonar
suas moradas porque no aguentavam mais ver seus familiares sendo
mortos, foi nesse momento que resolveram vir para o municpio de
Pinho, em que antes disso se dava o nome de Comarca Dois Irmos,
onde na poca s existiam dois irmos que viviam sobre as terras a
que hoje se d o nome de Pinho.
Bem, continuando, zeram suas trouxas de roupas, cobertas e
alimentos, colocaram em um cargueiro arreado em burros e mulas, por
serem resistentes a longas viagens. Saram na noite escura fugindo
das tropas armadas. Passaram 120 dias viajando, entre eles estava
uma mulher que estava grvida, aps ter dado a luz acabou cando
para trs e veio a falecer. Seu lho que tinha nascido cou com o
casal Bertolino e Vergilina. Passaram esse tempo todo passando frio,
chuva, dormindo embaixo de rvores e em roda de fogueira, sua
comida era a caa e frutos do mato, e pescando cargueiro. Vieram se
escondendo pelo mato fazendo picadas com faces, pois se fosse por
estradas os soldados acabavam pegando e para evitar optaram pelo
mato at chegar aqui. Foi onde se instalaram, juntaram, fazendo
rancho de pau a pique coberto de folha de taquara, construram uma
nova famlia e deram um novo nome para se esconder dos soldados,
nome de Famlia Prestes.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
231
Depois que zeram seus barracos foi quando tiveram certeza de que
estavam seguros com sua esposa e lhos e caram impressionados com
o lugar, pois no tinha ningum que convivia por aqui, pois era s mata
por todo lado. Aps um certo tempo a justia veio at a famlia e fez
uma proposta para Bertolino, em que se fossem para a ltima guerra
lutar, se ganhassem a guerra eles poderiam car ali na propriedade e
se perdessem teriam que ir embora. Foi nessa volta para a guerra que
descobriram que tinham cado algumas pessoas de sua famlia por l,
que se salvaram da guerra, e quando foram conversar com essa mulher
que sobreviveu, ela acabou correndo e foi pega a cachorro e acabaram
trazendo junto da famlia. As pessoas que estavam na guerra acabaram
presas em uma jaula sem gua e sem comida. Ficavam l presos at
morrer, pois tinham ganhado a guerra. As pessoas que estavam presas
morriam e um desses homens acabou sobrevivendo, pois uma bugre
acabou amamentando pela chave da porta e ningum sabia, os guardas
se perguntavam como que aquele homem no morria? E a mulher fez
uma certa pergunta aos guardas. Se no conseguissem responder
eles iriam soltar o homem preso. Antes fui lha, hoje estou sendo
me, criando lhos alheios e marido da minha me. No conseguiram
responder e soltaram o homem que estava preso, e seguiram viagem de
volta para perto de sua famlia de onde no saram mais. Isso faz mais
de 100 anos que aconteceu (Aluno do 8. ano).
O relato se inicia com um intenso conito de terras, agora prximo a
Curitiba, que resultou na expropriao dos ancestrais. Estes, ento, precisam
fugir das tropas armadas ou seja, assim como no caso anterior, so as
foras ociais do Estado os grandes opositores. O destino, uma regio de
fronteira, pouco povoada, onde pudessem reconstruir sua vida. No trajeto,
tambm a morte de uma mulher grvida, que deixa o lho rfo para ser criado
pelos ancestrais. E a necessidade de caminhar pelas matas, abrindo picadas,
sobrevivendo com o que podiam adquirir do ambiente, sofrendo com as
intempries climticas. Mas, ao chegar a Faxinal dos Ribeiros, a possibilidade
de se estabelecerem, criarem razes, construrem famlia. Como estratgia,
um novo sobrenome: Prestes. No entanto, a desejada tranquilidade ainda no
havia sido conquistada, pois a justia vem impor aos ancestrais a luta em
uma ltima guerra. Esta, ainda pior que a anterior, pois os que nela estavam
acabaram presos, sem gua ou comida, sujeitos a uma morte lenta. Mas a triste
sina foi impedida pela ao de uma bugra, que amamentava o homem pelo
buraco da fechadura, e cujo enigma no solucionado permitiu sua libertao e
retorno para perto da famlia. Enigma em que ela estava criando lhos alheios
e marido da minha me.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
232
Uma histria que remete ao contexto de colonizao e experincia
indgena neste contexto. assim que a ancestral encontrada viva no retorno
guerra pega a cachorro e acaba vindo junto com a famlia
31
. Tambm a
mulher responsvel por salvar a vida do ancestral alimenta seu prprio pai, o
marido de minha me, e ela uma bugre. E a famlia precisa mudar o seu
nome, esquecer o seu passado, a m de fugir dos soldados embora no tenham
sido bem sucedidos em faz-lo mesmo adotando esta estratgia. Acrescente-se
que os participantes da guerra foram presos pois tinham ganhado a guerra,
e no a perdido. Uma situao que pode ser pensada como apontando para o
duplo vnculo
32
da colonizao, em que a vitria na guerra a subordinao
s normas do vencedor, e em que no h sada positiva possvel para os povos
colonizados.
O sofrimento e a impossibilidade de vida no local de origem, no entanto,
no so resultados apenas das guerras do passado. Tambm nas ltimas
dcadas foi necessrio lutar muito para manter o estilo de vida tradicional
e permanecer nas terras. Embora sendo relatados com uma frequncia muito
menor, os conitos com os agentes da madeireira Zattar surgem como um
contexto que remete aos sofrimentos do passado, trazendo o risco da expulso
da terra natal, a privao e, em ltima instncia, a morte:
Os jagunos
Quando minha me era criana, sofria muito, pois toda minha famlia
morava em terrenos que pertencem a uma rma chamada Zattar. Eles
tinham que viver com o pouco que lhes era dado. Sobreviviam tirando
erva escondido, arrendando roas para plantar e dar quase tudo o que
plantavam para a rma. Mas o tempo foi passando e o povo foi se
revoltando e a requerer seus direitos de morador antigo, isso gerou
conito entre os moradores e os jagunos da rma.
31
Joo Pacheco de Oliveira Filho (1999), ao comentar sobre a maneira pela qual a ancestralidade
indgena aparece nas rvores genealgicas dos brancos brasileiros, arma: Nas elites do Norte
e Nordeste muito comum encontrar pessoas que reivindicam sua descendncia indgena (mas
no africana), descrevendo que suas avs (ou bisavs) foram apanhadas no mato e a dente
de cachorro (:199). A imagem de uma mulher pega a cachorro no mato pode ser vista como
estando vinculada, no imaginrio nacional, da mulher indgena. Neste caso, no entanto, no
representa a insero de sangue ndio na famlia atravs da linha materna, mas, ao contrrio,
identica a prpria famlia, pois aquela j uma parente.
32
A noo de duplo vnculo refere-se a sua denio por Bateson (1991), sendo o trecho
a seguir ilustrativo: What we have done above is to imagine a culture placed in a double
bind. From its own point of view, the culture faces either external extermination or internal
disruption, and the dilemma is so constructed as to be a dilemma of self-preservation in the
most literal sense. Under no circumstances can the preexisting self survive. Every move seems
to propose either extermination by the larger environment or the pains of inner disruption.
Even if the culture elects for external adaptation and by some feat achieves the necessary inner
metamorphosis, that which survives will be a different self (:113).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
233
Os jagunos chegavam de repente e atacavam. Mulheres, e homens,
crianas, disparando balas de revlver e todo tipo de armamento de
fogo, queimando casas sem d nem piedade. Mas graas a algumas
pessoas que tinham o poder de nos ajudar, tudo foi mudando e hoje,
depois de muitos anos, nossa famlia vive tranquila, cada um com seu
pedacinho de cho, sem nenhuma perseguio (Aluno do 7. ano).
So identicados, aqui, mecanismos usados pela madeireira como tentativa
de expulsar os moradores locais do territrio: inicialmente, a inviabilizao da
vida cotidiana atravs da imposio da assinatura de contratos de arrendamento,
com o consco de parte da produo caso esse fosse assinado, e da totalidade
da produo caso no o fosse. Os contratos de arrendamento, por sua vez, foram
utilizados como estratgia para legitimar a reivindicao da Joo Jos Zattar S/A
sobre a propriedade de reas tradicionalmente ocupadas assin-los implicava no
reconhecimento formal de que a propriedade do lugar onde se vivia e trabalhava
pertencia madeireira. A ao violenta e opressora dos jagunos foi a resposta
da empresa resistncia dos moradores locais aos conscos e tentativas de
expropriao do territrio. Ocorreu de forma marcante na regio em que mora o
autor: Faxinal dos Taquaras. A comunidade e em especial sua famlia se tornaram
uma referncia em termos da resistncia expropriao, mas pagaram um alto
preo por isto. Como se explicita no texto, eles viveram uma situao de guerra:
tiroteios, incndios, mltiplas ameaas. Situao que, embora parte do passado
pois no presente no h mais perseguio relembrada e contada para os
mais jovens. Relembrada tambm a ao de agentes externos que contriburam
nos enfrentamentos madeireira, principalmente vinculados igreja catlica e
ao PT que desde a ao de alguns de seus membros em defesa dos direitos dos
posseiros na dcada de 1980 representa uma das principais foras polticas em
Faxinal dos Ribeiros.
No entanto, a atuao da madeireira no sempre lembrada pelo uso direto
da fora, e em nenhum relato ela to explcita quanto no citado acima. Em
outros textos, o destaque dado a um momento anterior: a forma pela qual
a empresa adquire as terras que arma serem de sua propriedade. Neles, o
desconhecimento e simplicidade dos moradores locais levou a processos de
logro e abuso de sua boa f, e resultou no somente na impossibilidade de
manter sua forma de vida tradicional e em sua sada do territrio, mas tambm
em destruio ambiental:
Os quatro donos do Faxinal dos Ribeiros
H cem anos atrs, o Faxinal dos Ribeiros era dividido em quatro
partes, eram quatro donos que mandavam no Ribeiro. Os donos
dessas quatro partes eram Joaquim Silvrio e a Joaquina Silvrio e
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
234
Manoel Silvrio e o Abro Silvrio. Essas reas eram vinte e quatro
mil alqueires divididos em quatro partes. Nessa poca esses quatro
donos comearam a fazer troca com o Zattar em troca de capas,
botas, chapus at que perderam todas as terras para o Zattar.
Naquele tempo no tinha desmatamento, no havia transporte nem
estradas, s carreiros, nem comrcio nem comunicao, no tinham
estudos, no existia relgio, o transporte era terestimo(?).
Eles se alimentavam do que plantavam, com arroz, feijo, batata
doce, milho. Carne eles produziam das criaes de porco, gado.
Plantavam na roa.
No existia caada, s caavam o que perseguia a famlia, como feras
bravas. Era muito pouco povoado, s eram quatro irmos. A natureza
era muito linda, naquele tempo tinha muitos pssaros.
No existia energia eltrica. A iluminao a fachos de fogo. At que
perderam as terras para o Zattar (Aluna do 7. ano).
O Zattar
Nos anos 60 e 70 surgiu neste municpio de Pinho uma empresa
chamada Zattar e comeou comprar madeira dos moradores, e
pegando um documento mentindo que era das madeiras mas na
verdade era os terrenos. A as pessoas analfabetas perdiam o terreno.
Essa empresa cou dona do municpio e montou uma vila chamada
Santa Terezinha e outra chamada Zattarlndia e contratou muitos
guardas para cuidar os seus bens. Com os terrenos comearam a
cortar o material: pinheiros, imbuias, etc. e eles cortaram quase toda
a madeira e hoje em dia j no tem quase nada. E a eles entregaram
as terras para um programa chamado reforma agrria. As pessoas
que pegaram um lote de terra sofrem com a falta de madeira para
construir suas propriedades (Aluno do 7. ano).
No primeiro dos textos, quatro donos, com um mesmo sobrenome Silvrio
(bastante recorrente na regio), controlavam imensas reas de terras no
Faxinal dos Ribeiros. Tinham uma forma de vida tradicional: plantavam os
produtos cultivados at os dias de hoje pela populao, ou seja, arroz, feijo,
batata doce, milho; criavam porco, gado. Viviam com os recursos do lugar,
que tambm conservavam. O contato com o mundo externo era difcil, as
comunicaes praticamente inexistentes. No tinham acesso a energia eltrica.
A natureza era linda, com pssaros e matas preservadas. Em outras palavras,
a descrio da rusticidade vista anteriormente, aqui com um carter positivo.
Mas a chegada do Zattar teria mudado tudo. Iludidos, trocaram suas terras
por bens irrisrios como capas, botas, chapus at perderem a totalidade
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
235
dos 24.000 alqueires que possuam. Todo um estilo de vida inviabilizado pela
malcia e abuso da empresa.
J no segundo texto, a narrativa de um processo de expropriao de terras
atravs do engano de moradores locais que possuam documentos regulares de
suas glebas. De acordo com prtica corrente na regio de compra de rvores a
serem posteriormente cortadas, a empresa Joo Jos Zattar S/A ou, em alguns
casos, um terceiro com contatos com ela, propunha uma negociao de rvores
ao dono do terreno, e este, pensando assinar a escritura referente a esta
transao, assinava documento de venda das terras
33
. Para tanto, contribua o
alto ndice de analfabetismo dos moradores da zona rural de Pinho (cf. APEART,
2002, Francesconi, s.d., Lucas, 2009), que impedia um efetivo controle sobre o
teor do documento assinado. De acordo com o relato do aluno, foi atravs desse
processo fraudulento que no somente a madeireira se apropriou ocialmente
de enormes reas (cou dona do municpio), mas tambm efetuou a extrao
depredatria da madeira, destruindo o meio-ambiente local e prejudicando os
moradores subsequentes, l residentes atravs da regularizao fundiria pela
reforma agrria.
interessante observar que h narrativas do uso de estratgia semelhante
por parte de uma madeireira tambm na regio de Curiva/PR. Segundo os
moradores da comunidade quilombola de gua Morna, com a chegada de
uma serraria regio, a ancestral da comunidade, Benedita, solicitou a um
compadre que intermediasse a venda do pinheiral prximo s moradias da
comunidade. Este, ao faz-lo, vendeu tambm as terras. Assim, os membros do
grupo trabalharam no corte da madeira, um dos ancestrais doou parte de seus
ganhos para a construo de uma igreja no lugar e, quando pensaram estar o
trabalho concludo, foram informados de que as terras haviam sido vendidas,
e que teriam que sair do local. Tambm aqui o analfabetismo da ancestral e a
falta de domnio referente a legislao, contratos e questes fundirias levou
expropriao de parte signicativa do territrio do grupo (cf. Porto et al.,
2009).
Mas os perigos do mundo no se restringem guerra, ou ao da madeireira
e de seus jagunos, ou s brigas e agresses em momentos de reunio coletiva,
ou a outras tenses presentes no cotidiano das relaes sociais. Eles perpassam
os vrios espaos de um mundo encantado, povoado por seres como boitats,
lobisomens, bolas de fogo, velas acesas, vozes, cobras em profuso, homens e
33
A prtica , em certa medida, reconhecida na biograa de Miguel Zattar, em que Monteiro
arma:
Joo Jos, ao longo de muitos anos, no comprara terras, mas rvores. Quando faleceu, suas
rvores cobriam milhares de alqueires, parte signicativa dos municpios limtrofes a Pinho.
Comprava s a madeira em p, com contratos de explorao que iam de trinta a sessenta anos.
Ao morrer, deixou para seus lhos um mar de escrituras de compras, entre rvores e retalhos
imensos de terras (2008: 58).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
236
animais sobrenaturais que perseguem as pessoas. No por acaso, quase 15%
dos textos dos alunos trazem a temtica das visagens, do medo que provocam,
dos riscos que representam. E, neles, as visagens fazem parte do passado,
mas tambm do presente. So um risco que constitui o mundo. E que tem
consequncias diretas nele, como apontam os seguintes textos:
Em 1990, um jovem de 17 anos se recolheu tarde para descansar
do trabalho, na semana de lua cheia. Logo ao escurecer escutou uma
voz chamando pelo nome dele vrias vezes. Se aproximou perto da
casa e era uma vela acesa. Daquela hora em diante ele enlouqueceu
e at hoje ele est assim (Aluna do 7. ano).
Contar uma histria do lugar onde vocs vivem.
O meu av me contou que uma vez ele e seu irmo estavam na
mata tirando erva. noite o amigo deles bebeu, cou bbado. Logo
depois surgiu uma brasinha em cima de um toco velho. O bbado
comeou a chamar a brasinha de boitat. A brasinha comeou a
crescer, crescer e virou uma mulher, veio para seu lado e o abraou.
Onde a mulher encostou queimou muito, e ele acabou morrendo a
caminho do hospital (Aluno do 7 ano).
Nestas duas histrias, as visagens representam muito mais que meras
assombraes. No apenas assustam
34
na verdade, seu potencial de amedrontar
pequeno: uma vela acesa e uma voz, uma brasinha que permaneceria assim
caso no fosse provocada. Mas com um poder deletrio: uma enlouquece, outra
queima e mata. Elas, por sua vez, agem em um momento de risco, a escurido
da noite. E acontecem em um perodo relativamente recente, indicando como
fazem parte do presente, no do passado. No h nada nos textos que indique
que os perigos representados pelas visagens pertenceriam a uma outra poca.
A loucura e a morte, no entanto, so consequncias menos comuns do
contato com o sobrenatural. H outra muito mais frequente, que implica na
inviabilizao da moradia em um espao frequentado por visagens. Assim, so
vrios os casos relatados em que a perturbao por elas provocada, o medo,
so motivos de abandono do local de residncia. Cito, a seguir, um exemplo:
Vou contar uma histria do meu av Jos Ribeiro, pai da minha me,
conta at hoje para ns. Meu av hoje mora em Guarapuava, ele tem
86 anos, bem velhinho.
34
Em pesquisas no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, era interessante observar que as
assombraes no tinham poder no mundo material. Elas s assustavam. E assustavam muito.
Mas nos casos de pessoas destemidas, capazes de enfrent-las, elas perdiam todo o seu impacto.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
237
H cerca de 50 anos ele morava em Pinho, numa humilde casa com
minha av Oraclia Cortes Ribeiro e cinco lhos. Naquela humilde
casa aconteciam muitas coisas estranhas, at que eles desistiram de
viver naquela casa e venderam. Muitas vezes de acordarem de noite e
no chiqueiro de porcos tinha algo que os assustava muito. E muitas
noites tinham que levantar para ver o que estava acontecendo.
Quando chegavam perto dos animais, estavam todos dormindo.
Uma noite quando todos dormiam, tinha uma porca que tinha
criado 12 leitezinhos. Ento eles se acordaram com os gritos dos
porquinhos. Meu av falou para minha av car na cama, que ele ia
ver o que estava acontecendo. Eles tinham s uma caixa de fsforos
com dois palitos s, ento meu av falou vou acender um lampio
com um palito e o outro deixo para amanh, e foi at o chiqueiro.
Chegando l os porquinhos estavam todos dormindo, no tinha nada.
Naquilo meu av ia voltando para casa quando viu que minha av
tinha gastado o outro palito, pois a casa estava toda iluminada. Ele
cou uma fera, pois no tinham mais fsforos. A v tinha gastado o
ltimo palito. Chegando em casa, quando abriu a porta para entrar,
se apagou toda aquela luz que ele viu. Ento foi at o quarto e
xingou a v, falou eu te falei que no era para voc gastar o fsforo,
e a v s resmungou, pois ela estava dormindo. O v chacoalhou a
caixa de fsforos, e ento eles venderam tudo e foram embora. O
senhor que comprou achou uma panela de dinheiro debaixo da casa
e foi embora, e nunca mais ningum mais viu aquele homem.
Essa uma histria verdadeira que aconteceu com meus avs.
Jos Ribeiro e Oraclia Cortes Ribeiro, ele tem 86 anos e ela 76 anos,
ainda vivos. Aconteceu em Pinho (Aluna do 7 ano).
Aqui, no pode ser identicado um ser ou um evento especco. O que existe
uma srie de perturbaes inexplicveis. Que inviabilizam o sono, provocam
inquietaes, iluses. O transtorno causado to grande, que implica na venda
da casa e mudana para outro lugar. No entanto, caso houvesse um contato
maior com as visagens, um controle do medo, o destino da famlia poderia
ter sido outro: encontrar uma panela de dinheiro, enriquecer e ir embora,
mas ento para uma vida melhor. E aqui surge outro tema recorrente no s
na regio de Pinho, mas tambm em outras reas do interior paranaense:
a existncia de tesouros escondidos as panelas de dinheiro que so
entregues para algumas pessoas atravs de manifestaes de visagens e da
coragem para enfrent-las. O temor o grande inimigo nesses casos, impedindo
o enriquecimento rpido. Entretanto, retirar uma panela de dinheiro no to
simples: s capaz de faz-lo aquele a quem a visagem escolhe. Por isso, em
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
238
outro texto h relato de um local assombrado, onde a me da narradora diz ter
panela de dinheiro, mas ningum conseguiu retir-la.
As narrativas sobre histrias de visagens so muito mais comuns que
reexes sobre sua origem
35
. Mas, em alguns dos textos, elas so relacionadas
a situaes de assassinatos, como no seguinte:
A histria do homem de branco
Essa histria aconteceu em aproximadamente dez anos, quando
minhas tias estavam vindo a cavalo para casa, pois tinham ido ao
armazm e na volta, quando estavam descendo em uma descida, viram
um homem de branco caminhando atrs delas. Elas no ligaram, pois
acharam que era um conhecido, um homem normal. J estava tarde e
estavam com pressa, ento abriram o porto para passar, e notaram
que o homem no precisou abri-lo. Ele conseguiu passar sem abrir.
Ento quando viram aquela cena, correram com seus cavalos
assustados e cada vez que corriam mais, o homem fazia o mesmo, at
que enm chegaram em casa e o homem desapareceu. Elas contando
o que havia acontecido a seu pai, que meu av, ele lhes contou o
que tinha acontecido com aquele homem.
Ele falou que aproximadamente 30 anos atrs, um homem foi beber
em um armazm e l havia outros homens que tambm estavam
bebendo. Aquele homem j tendo fama de mau, j conseguiu
encrenca brigando com outro homem, a briga foi separada, mas ele
no satisfeito foi embora, mas cou esperando o outro na mata.
Finalmente, quando o homem saiu ele pegou uma faca e o matou.
Desde ento contam que a alma daquele homem vaga pela estrada
procurando vingana.
Mas agora aquela estrada virou mato, e foi feita outra estrada, mais
longe, e ningum passa mais por l.
Local do acontecimento: Trs Barras (Aluna do 8. ano).
A vingana por um ato de maldade a motivao da existncia da visagem.
A maldade, por sua vez, ocorre em um contexto propcio, como j explicitado
em textos anteriores: o bar, que conjuga a bebida alcolica com situaes de
proximidade social entre homens, e possibilita o surgimento de tenses. Mas
35
Em dois momentos ao longo da pesquisa, ouvi histrias sobre funcionrios da Zattar que
teriam se transformado em visagens. Em um deles, um dos altos funcionrios da empresa seria
um lobisomem o que era atribudo a uma sina, e no a qualquer ao especca do funcionrio.
Em outro, um aluno fala da maldade dos agentes da empresa como tendo resultado em situaes
sobrenaturais. Um deles teria sido to ruim que foi necessrio cortar suas unhas e cabelos
depois de morto. No entanto, nunca foi possvel registrar de maneira mais sistemtica esses
relatos.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
239
neste caso, a tenso no ser resolvida no prprio local, e sim depois, traio.
De maneira indireta, aponta-se o risco dos espaos coletivos e dos conitos,
e a fora da vingana. No caso, contudo, esta fora se reduz bastante, pois
aquela estrada virou mato, e foi feita outra estrada, mais longe, e ningum
passa mais por l.
As histrias trazem, ainda, indcios sobre a possibilidade de enfrentar as
visagens. A coragem um mecanismo, que embora no acabe com elas, reduz
sua fora em contextos especcos:
Quando o meu pai viu uma bola de ouro
O meu pai estava caando no Lajeado Feio, quando de repente uma
bola de ouro apareceu na frente dele, e a bola de ouro era brilhante.
Ficava a um metro e meio do cho e cava caindo favo de ouro
brilhante, e quando chegava ao cho, apagava e desaparecia. Ele
falou que no cou com medo e da o pai pediu, disse se for para
mim, venha e da a bola se partiu ao meio, e cada metade foi para
um lado, e o pai voltou para casa.
Onde a minha av mora tem muitas histrias sobre fantasmas,
lobisomem. Quase todos os irmos do meu pai j viram e sofreram
com fantasma. Bom, isso que meu pai contou para mim (Aluno do
8. ano).
O enfrentamento da visagem pelo pai do narrador permite a ele retornar
para casa sem maiores consequncias. Mas esta no uma soluo denitiva,
pois o local onde sua av mora perturbado por fantasmas e lobisomens. E
quase todos os tios j foram vtimas desses seres. Assim, se o medo um
empecilho para quem encara uma visagem, a mera coragem no garante que se
livre dos problemas por elas provocados.
H, tambm, outra forma de lidar com o tema assustador. Que no lev-lo
to a srio. A brincadeira, embora no negue a importncia das manifestaes
sobrenaturais ou sua realidade, faz com que o tema se torne mais leve, divertido.
O riso como uma grande arma, e a capacidade de rir de si mesmo e de suas
crenas como um dos mecanismos para enfrentar a realidade muitas vezes
dura. O texto a seguir, alm de trazer novos exemplos de visagens possveis
inclusive aquela, bastante temida, que subia em garupa de cavalos e hoje sobe
em garupa de motos faz do riso e do medo do outro uma forma de lidar com
mais leveza com a questo:
Oi, venho contar uma histria meio assustadora. No que com
medo, essa histria como vrias outras. Aconteceu em Faxinal dos
Ribeiros, isso h muito tempo atrs, com vrias pessoas. Diziam os
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
240
antigos que quando os homens iam para o bar beber, na volta, quando
eles estavam voltando para suas casas, um animal conhecido como
porco-espinho cercava eles no pontilho e no deixava os homens
passarem. E eles corriam sem olhar para trs e s paravam quando o
porco-espinho parava de correr atrs deles.
No sei se verdade isso, mas que os antigos contavam essa histria,
essa histria e vrias outras como: o pilo que socava sozinho, a
noiva que morreu indo para seu casamento e sempre naquele lugar
ela aparecia e atacava as pessoas. Se a pessoa estava de moto, ela
subia na sua garupa e ia junto at uma altura.
At a prxima, e cuidado com a noiva, o pilo e o porco-espinho.
Eles andam por a, podem pegar voc. KKKKK. (Aluna do 7. ano)
A riqueza dos relatos das crianas, a diversidade de temticas abordadas
e as vrias perspectivas assumidas pelos autores demonstram a complexidade
do presente do mundo rural em Pinho, e como alguns aspectos como as
trajetrias familiares ou a rusticidade so privilegiados ao se falar do passado,
enquanto conitos fundirios recentes, embora tambm presentes na memria,
so tornados pblicos de maneira muito menos signicativa. importante
armar uma forma de ser e viver especca, que no resulta do isolamento ou
do desconhecimento de outras formas de vida, mas de uma armao do valor
desse jeito de ser algo que se aproxima do orgulho sertanejo presente
no Vale do Jequitinhonha (cf. Porto, 2007). Apesar de todas as tenses do
cotidiano (seja com o mundo natural, seja com o mundo sobrenatural), o
Faxinal dos Ribeiros um espao de vida, e de uma vida prpria. No somente
em termos produtivos e sociais, mas tambm com relao a uma maneira
particular de pensar o mundo e se relacionar com ele. Acrescente-se que
aquele territrio que permitiu a muitos se humanizarem novamente, aps a
experincia das guerras e da opresso do Estado. A resistncia ao sofrimento
inigido por poderosos uma consequncia da luta por continuar vivendo
segundo seu jeito especco, de um povo que constri sua histria a partir,
entre outros aspectos, da memria da guerra e da sobrevivncia a ela.
Outros aspectos tambm presentes nos textos como forma de vida na
contemporaneidade, festas e rezas, poderes de cura, feitiaria, separaes e
conitos familiares, eventos como a enchente de 1964, etc. poderiam contribuir
ainda mais para o leitor formar uma imagem do contexto local e de como o
passado visto a partir dele. No entanto, o volume e a riqueza do material
produzido impedem uma abordagem mais completa. Mas a opo por trazer os
textos na sua integralidade, deixando-os falar um pouco por si mesmos, visa
permitir que outras interpretaes sejam construdas, e apontar a potencialidade
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
241
das crianas de Faxinal dos Ribeiros quando falam sobre seu passado e sua vida.
Nos textos, ainda, possvel perceber a importncia da oralidade na transmisso
da histria local, que se reete tambm no estilo de escrita.
3. Entrevista com D. Joana: uma reexo sobre o passado e o
silncio no presente
A entrevista com D. Joana, realizada em sua casa em 08 de outubro de
2012, foi motivada pelo fato de ter sido o marido dela baleado por jagunos
da Zattar, h em torno de vinte anos. Fui levada ao local pelo casal que
era meu antrio, e que j a conhecia por serem membros da mesma igreja
evanglica. Este, creio, foi o motivo de nos receber, pois ao longo de toda
a entrevista era evidente o desconforto em abordar memrias de dor, que
marcaram denitivamente sua vida. No por acaso, logo que liguei o gravador,
a primeira pergunta registrada foi dela, no minha, querendo saber quais os
motivos que me levavam a fazer o que fazia. Lembra-se, ento, que tudo j
havia sido gravado na poca, no tempo em que ele foi machucado. A mdia
noticiou o acontecido, pois o incio da dcada de 1990 foi o momento de maior
visibilidade externa dos conitos entre posseiros e a madeireira. No mesmo
perodo, houve um tiroteio prximo a uma escola, que feriu uma criana.
Ao longo da entrevista, uma srie de silncios e de no ditos. Vrios
detalhes apenas insinuados. Desde o incio, quando D. Joana conta ter sido o
marido baleado no caminho da roa, quando os jagunos do Zattar o cercaram
e atiraram. E ela assim aborda o ocorrido, em um primeiro momento:
J: Porque eles queriam tomar as terras l, queriam dizer que no era
dele, sendo que era nosso. Por bandido. A foi o caso que ele pra
brigar... pra ir bem rme que ele era bandido, n? E coisa que nunca
da vida. Toda vida trabalhando. Da quando eles comearam a atirar
ele... ele de a cavalo, rolou de cima e cou l cado de joelhos e os
pi chegaram pegar l, trouxeram... Ento quei um ano eu dando de
comer as crianas e ele em cima de cadeira de rodas. Pra sair tinha
que erguer, pra trazer ele pra c.
Aqui, a violncia narrada, e a diculdade em falar de suas causas. Os
jagunos seriam bandidos, mas teriam tentado atribuir a bandidagem a seu
marido. Como estratgia para tomar as terras. Um ataque pblico, pois a
vtima estava acompanhada de dois rapazes que nada puderam fazer. Terras
que pertenciam ao pai de D. Joana, e onde ela morava desde que nasceu. Aps
casar, permaneceu no local, suas crianas foram nascidas l. E da o Zattar
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
242
queria de certo tomar. Mas no que armassem ser as terras da empresa, o
que faziam era embargar a produo, impedir a feitura do roado. No dia do
acontecido, o marido teria se deparado com os jagunos colhendo mandioca
no mandiocal plantado por ele: eles chegaram l, encheram os bocs de
mandioca dos mandiocais nossos.
Neste momento, a entrevista toda truncada. D. Joana continua a falar
pelo estmulo das perguntas, no somente minhas, mas tambm do casal que
eu acompanhava. Mas, quando perguntada se eles respeitavam a proibio da
empresa madeireira de plantar em suas terras, D. Joana arma:
J: No, plantava, pois era nosso. Eles queriam tomar e ns no podamos
entregar, pois era nosso. Da que eles... Deus... Eles zeram tudo
aquilo. Da que tivemos que trocar l, troquemos l e viemos pra c.
No trecho acima, percebe-se que a tenso estava instaurada. O enfrentamento
da proibio de roar era desconsiderado, pois estavam nas prprias terras. No
entanto, depois dos tiros, se viram obrigados a sair do lugar. Trocaram quinze
alqueires (36,3 ha) na zona rural por apenas seis litros (0,3 ha) em rea
perifrica da cidade de Pinho. No entanto, para a deciso de fazerem a troca
e se mudarem, tambm contriburam os vizinhos, que soltavam seus animais
na roa do casal. No faz, contudo, referncia a quem seriam esses vizinhos e
quais os outros conitos que estavam em jogo. Tambm diz que os problemas
com os jagunos foram estimulados por uns fuxicos, armao de que o marido
dela era muito bravo, armado. Isto feito por gente que no gostava dele,
tinha raiva assim da gente. Mas D. Joana nega os boatos, dizendo que os
vizinhos moravam pertinho e eles no brigavam com ningum.
A conversa, ento, passa a ser dos arbtrios da poca de controle da regio
pela Zattar. Como eles embargavam qualquer trabalho. Impediam retirada
de pinho, de erva, de carvo, a plantao de lavoura. Surravam as pessoas.
Derrubavam gente de cima de pinheiro a tiro. Tambm ressaltam a existncia,
no esquema de controle, dos olheiros. Essas pessoas tomavam conta das
reas, a m de dar notcias sobre a movimentao dos moradores locais em
seus territrios. D. Joana conta que ela e o marido haviam feito roa e ido
trabalhar em Guarapuava, mas no caram nem dois meses. O pai dela foi
busc-los, para que colhessem a produo. O ocorrido foi depois de trs dias
do seu retorno. Onze tiros, sem morte. E sem qualquer motivo imediato: no
houve discusso, os jagunos apenas zeram trincheira de suas montarias e
atiraram, no dando a ele a chance de fugir. Embora estivesse armado, quando
caiu no cho o marido no teve foras para puxar a arma. Depois, dois anos
em cadeira de rodas, se recuperando. E sem nunca mais poder trabalhar, pois a
primeira vez que tentou adoeceu novamente.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
243
Meu antrio, que ajuda a compor o quadro de opresso que marcou o
perodo de ao da empresa atravs dos jagunos, surpreende-se com a histria.
Primeiro, porque pensava que a Zattar teria atacado apenas os posseiros, que
por no possurem a regularizao de suas terras, cavam vulnerveis. Espanta-
se com o relato de que tambm proprietrios eram alvos da opresso. Depois,
por ter sido o marido de D. Joana to baleado, e ter sobrevivido. Mas, neste
sentido, so vrias as histrias ouvidas em Pinho sobre situaes de violncia
que levam at quase a morte, mas no matam.
Aps quase meia hora de conversas entrecortadas, difceis, a lembrana
dos fatos narrados parece trazer mal-estar, e D. Joana, encerrando, diz que
No adianta. Tem que suportar. Deus o livre!. ento que meu antrio
pergunta a ela se fala do passado para as crianas, e o nal da entrevista
torna-se bastante esclarecedor quanto ao silncio identicado ao longo deste
texto sobre o passado recente, acompanhado da valorizao de um passado
mais distante e marcado pela rusticidade. Transcrevo a seguir:
A: E a senhora conta isso pra... pros netos da senhora hoje, eles param
pra ouvir isso, ou no?
J: Ih, eles vem pra contar pra eles, eles gostam. Mas na hora uma parte
se a gente contar o que aconteceu pra eles assim, eles se revoltam.
A: bom nem contar...
J: Uma parte das crianas que meio fraco, Deus o livre.
L: E a senhora fala o qu?
J: Do qu?
L: Do v?
J: No, pois do v eu conto... eles quase num se lembraram dele. Eles
eram pequenos quando ele morreu da, sabe? Nem... dava foto assim.
S a minha menina mais velha que tava com dez anos, e os outros
mais pequenos, tudo se lembra mas lembra mal dele.
L: E quando eles pedem pra senhora contar histria antiga, a senhora
conta histria de que?
(Neste momento, o tom da entrevista muda bastante, com a voz de D.
Joana adquirindo gradativamente uma animao que esteve ausente
de toda a conversa anterior, como se, pela primeira vez, tivssemos
tocado em um assunto sobre o qual ela tinha prazer em falar).
J: Pois eu conto dos trabalhos. Que ns amos trabalhar, naquele tempo.
Sofrido, trabalhando, n. Deixava eles o dia inteiro na casa, e parava
na roa trabalhando. Ao meio dia a gente chegava sofrido, cansado,
pra descansar. E ali assim vou contando pra eles. E das coisas que a
gente fazia, sabe, das coisas assim. A gente num comprava nada, das
coisas...
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
244
A: Lado bom...
J: Isso a, sabe. Voc pensa, eu fui aprender a comprar as coisas aqui.
Feijo, eu nunca tinha comprado um quilo de feijo, banha nunca
tinha comprado, farinha num comprava.
A: Fazia tudo?
J: Fazia tudo, pois a gente tinha monjolo, tinha o milho, tinha o porco,
tinha tudo, proc ver. Colhia o arroz. Tinha de tudo. Galinha tinha
bastanto. Que mais?
A: Uma vida boa!
J: ! Tinha carne. Num carecia nada. Eu num comprava nada. S... At
trigo ns plantava.
A: Que coisa mais divertida!
J: Pois , isso a que eu falo. Tipo hoje em dia a gente tem que
comprar tudo que coisa. Da das crianas... Conto... Comeam
a perguntar assim como que era, me, do tempo que a senhora
pequena, c ia na escola. Eu contava meus lhos, era assim, naquele
tempo era sofrido, tinha que trabalhar de ano por ano pra gente
comprar roupa, sabe? Num era assim como agora que o povo anda
tudo bem arrumadinho. No, trabalhava de ano em ano pra gente
comprar roupa pra ir pra escola. E da ali os pais da gente eram
diferentes, n, eles compravam aqueles peo de pano pra fazer
roupa. Assim.
Ao longo da entrevista, D. Joana explicita como seu silncio est muito
distante do esquecimento. Mesmo porque impossvel esquecer acontecimentos
que a zeram sair da zona rural, perder o apoio do marido no sustento da
casa, ter que trabalhar para terceiros, ver o marido sofrer por anos devido
invalidez. As lembranas so ntidas, e dodas. Alm disso, perigosas, pois para
as geraes posteriores podem gerar sentimentos de revolta e vingana. Por
isso, um silncio intencional sobre tudo aquilo que mudou a vida da famlia
nas ltimas dcadas. E uma lembrana de um passado mais remoto, descrito
como sofrido, mas cuja memria traz um prazer que se reete na fala. A
autonomia, a produo para o prprio consumo, a independncia do mercado:
feijo, farinha, banha, carne, porco, galinha, ovos, milho, arroz, at trigo, tudo
fruto do prprio suor. As diculdades na escola, a necessidade de trabalhar de
ano por ano para comprar roupa. Temticas que surgiram com frequncia e de
maneira semelhante nos textos dos alunos, como vimos anteriormente. este
o passado que vale a pena lembrar, tambm ele que permite a construo de
um presente e um futuro melhores.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
245
Considerar os relatos acima, diversos tanto em seu contedo quanto no
perl de seus narradores, permite no apenas reconhecer a complexidade do
contexto de Pinho e as vrias possibilidades de composio de vises sobre seu
passado e presente, como tambm tendncias semelhantes quando se analisam
as pocas e temticas selecionadas como signicativas pelos narradores.
Sem desconsiderar as especicidades, evidenciam-se dois grandes grupos:
dos narradores da sede municipal, descendentes das famlias dos grandes
sesmeiros, e dos habitantes das matas. Eles possuem distintas perspectivas
da histria. No primeiro grupo, observa-se uma nfase em processos formais
de povoamento, identicados com a colonizao e o desenvolvimento local,
e em que a populao nativa tem pouca visibilidade e um aparente caminho
inevitvel no sentido de se submeter aos representantes dos grupos dominantes
seja ao longo da colonizao, seja a partir da industrializao. No segundo,
h valorizao dos modelos produtivos, religiosidade e sociabilidade dos
moradores das matas, e de um tempo em que o pobre era rico e no sabia,
havia pouca violncia, um padro de relaes familiares e sociais positivo
frente ao presente. E em que no somente as elites contam, mas todos aqueles
que participam da organizao social local com o reconhecimento, em alguns
casos, exatamente de quem representa a base da pirmide social: fugitivos de
guerras, ex-escravos, curadores, etc.
Mas se os sujeitos e eventos da histria so distintos para os dois grupos,
alguns aspectos so recorrentes em todos os registros: uma tendncia
valorizao de um passado mais remoto em detrimento do passado recente, e a
constituio da imagem desse passado a partir da armao de sua rusticidade.
Destaca-se o relativo isolamento local, as diculdades de comunicao
e transporte, a precariedade de sistemas de sade e educao, a restrio
do consumo quase que exclusivamente aos produtos nativos. No que a
viso elaborada seja romntica. Na maior parte dos casos, a rusticidade
acompanhada pelo sofrimento. Um tempo de luta, de diculdades, de trabalho
rduo, de episdios de valentia/violncia. No entanto, tambm de autonomia
e de capacidade de produzir para o prprio sustento. Perodo que vale a pena
lembrar e sobre o qual se deve falar. Muito diferente das ltimas dcadas, cujos
conitos, enfrentamentos, histrias de perseguies, incndios e assassinatos
devem ser silenciados (mesmo que nem sempre isso seja possvel), no s
pela humilhao que representam para os que os vivenciaram, mas como
estratgia de produo de um futuro em outros moldes. Em que seja vivel
uma convivncia mais serena, mesmo entre aqueles que tm suas trajetrias
marcadas por posies incompatveis nos embates recentes.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
246
Referncias bibliogras
APEART ASSOCIAO PROJETO DE EDUCAO DO ASSALARIADO RURAL TEMPORRIO.
2002. PEPO Fazendo Histria, Londrina: UEL.
AYOUB, Dibe S. 2010. Madeira sem Lei: Jagunos, Posseiros e Madeireiros
em um Conito Fundirio no Interior do Paran, Dissertao de mestrado
apresentada ao PPGAS/UFPR.
BATESON, Gregory. 1991. A Sacred Unity. Further Steps to an Ecology of Mind,
New York: A Cornelia & Michael Bessie Book.
BOURDIEU, Pierre. 2005. A Dominao Colonial e o Sabir Cultural in Revista de
Sociologia e Poltica, n. 26, Curitiba: UFPR.
BOURDIEU, Pierre. 2011. O Senso Prtico, Petrpolis: Vozes.
CAMARGO, Jos Silvrio de. s.d. Por que nosso municpio chama-se Pinho?,
Pinho: Secretaria Municipal de Educao.
COMERFORD, John. 2003. Como uma Famlia. Sociabilidade, Territrios de
Parentesco e Sindicalismo Rural. Rio de Janeiro: Relume-Dumar.
FRANCESCONI, Juliana O. P. 1998. O sistema de faxinais, o analfabetismo e suas
consequncias econmicas para o municpio de Pinho Paran, Guarapuava:
monograa apresentada ao curso de Geograa da UNICENTRO.
FREITAS, Geovani J. 2003. Ecos da Violncia. Narrativas e Relaes de Poder no
Nordeste Canavieiro, Rio de Janeiro: Relume Dumar.
GONALVES, dina M. s.d. Municpio de Pinho: Conito agrrio na dcada de
(1990-1997), mimeo.
LIMA, Pe. Francisco das Chagas. 1842. Memoria sobre o descobrimento e colonia
de Guarapuava in Revista Trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro, Tomo IV, n. 13, p. 43-64. Rio de
Janeiro: Typographia de Joo Ignacio da Silva.
LUCAS, Karim A. H. 2009. A formao dos educadores como eixo do
desenvolvimento curricular: o Projeto de Educao dos Posseiros do Paran
(PEPO), tese apresentada como requisito parcial para obteno do ttulo de
doutor ao Programa de Ps-Graduao em Educao da PUC/SP.
MACEDO, Azevedo. 1995. Conquista Pacca de Guarapuava, Curitiba: Fundao
Cultural.
MARQUES, Ana Cludia. 2002. Intrigas e Questes: Vingana de Famlia e Tramas
Sociais no Serto de Pernambuco, Rio de Janeiro: Relume Dumar.
MONTEIRO, Nilson. 2008. Madeira de Lei: Uma Crnica da Vida e Obra de Miguel
Zattar, Curitiba: Edio do Autor.
NASCIMENTO, Jos Francisco T. 1886. Viagem feita por Jos Francisco Thomaz do
Nascimento pelos desconhecidos sertes de Guarapuava, Provincia do Paran,
e relaes que teve com os indios coroados mais bravios daquelles lugares.
Revista Trimensal do Instituto Historico Geographico e Ethnographico
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
247
do Brazil, tomo XLIX, 267-281. Rio de Janeiro: Typographia, Lithographia e
Encadernao a vapor de Laemmert & C.
OLIVEIRA FILHO, Joo Pacheco. 1999. Cidadania, racismo e pluralismo: a presena
das sociedades indgenas na organizao do Estado-Nacional brasileiro in
Ensaios em Antropologia Histrica, Rio de Janeiro: UFRJ.
PASSOS, Renato Ferreira. s.d. O Pinho que Eu Conheci, verso digital doada pela
lha do autor, Eliana Rocha Passos Tavares de Moraes.
PIN, Andr E. 2011. Moyss Lupion e as transformaes na cultura faxinalense em
Pinho/PR in BONAMIGO, Carlos A. et. alli. Histria: Tradies e Memrias,
Francisco Beltro: Jornal de Beltro.
POLLAK, Michael. 1989. Memria, Esquecimento, Silncio in Estudos Histricos,
v. 2, n. 3, Rio de Janeiro: CPDOC.
POLLAK, Michael. 1992. Memria e Identidade Social in Estudos Histricos, v. 5,
n. 10, Rio de Janeiro: CPDOC.
PORTELLI, Alessandro. 1981. Tentando Aprender um Pouquinho: Algumas Reexes
Sobre a tica na Histria Oral in Projeto Histria n. 15 tica e Histria Oral,
So Paulo: Departamento de Histria da PUC-SP.
PORTELLI, Alessandro. 1991. The Death of Luigi Trastulli and Other Stories:
Form and Meaning in Oral History, New York: State University of New York
Press.
PORTELLI, Alessandro. 1996. O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana: 29
de junho de 1944): mito, poltica, luta e senso comum in FERREIRA, Marieta,
AMADO, Janana (org.). Usos & Abusos da Histria Oral, Rio de Janeiro:
Fundao Getlio Vargas.
PORTELLI, Alessandro. 2010. Ensaios de Histria Oral, So Paulo: Letras e Voz.
PORTO, Liliana, KAISS, Carolina, COFR, Ingeborg. 2009. Relatrio Antropolgico:
Comunidade Quilombola de gua Morna Curiva/PR, Documento resultante
do Convnio UFPR/INCRA com base no projeto Direito Terra e Comunidades
Quilombolas no Paran, Curitiba.
PORTO, Liliana, KAISS, Carolina, COFR, Ingeborg. 2012. Sobre solo sagrado:
Identidade quilombola e catolicismo na comunidade de gua Morna (Curiva/
PR) in Religio e Sociedade, 32(1), Rio de Janeiro: ISER.
PORTO, Liliana. 2007. A Ameaa do Outro. Magia e Religiosidade no Vale do
Jequitinhonha/MG, So Paulo: Attar.
RAMOS, Rene W. 2011. A Resistncia Camponesa e a Igreja Catlica no Municpio
de Pinho/PR in Anais do V Congresso Internacional de Histria, realizado
em Maring entre 21 e 23 de setembro de 2011.
VILLAA, Antnio C. 1998. Dirio de Faxinal do Cu, Rio de Janeiro: Lacerda
Editores.
VILLELA, Jorge M. 2004. O Povo em Armas: Violncia e Poltica no Serto de
Pernambuco, Rio de Janeiro: Relume Dumar.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
248
WACHOWICZ, Ruy C. 1987a. Obrageros, Mensus e Colonos: Histria do Oeste
Paranaense, Curitiba: Vicentina.
WACHOWICZ, Ruy C. 1987b. Paran, Sudoeste: Ocupao e Colonizao, Curitiba:
Vicentina.
249
Captulo 9
Joo Jos Zattar S.A.: disputas sociais,
legitimidade, legalidade
Jefferson de Oliveira Salles
1
Introduo
2
N
o presente texto, analisaremos alguns aspectos da instituio da
propriedade fundiria no Centro-Sul do Paran (municpio de Pinho),
abordando disputas sociais envolvendo uma grande empresa madeireira
e a populao camponesa estabelecida na regio.
A pesquisa ser feita a partir de reviso bibliogrca e pesquisa
documental, tendo por base consulta ao Relatrio da Comisso Especial de
Investigao da Assembleia Legislativa do Paran organizada para vericar os
conitos fundirios no municpio de Pinho
3
(CEI) instituda em 12.11.91
por requerimento dos deputados Dr. Rosinha e Ovdio Constantino, encerrada
em 26.11.92, tendo como integrante e relatora a deputada Emilia Belinati
(que, posteriormente, foi, eleita vice-governadora do Estado). Eleio que
levou a que, no mais alto escalo do executivo estadual, se encontrasse uma
conhecedora dos conitos fundirios do estado, suas causas e agentes.
Nosso objetivo compreender a formao social da propriedade fundiria
na regio centro-sul do Paran, a partir da relao entre a insero de um
novo agente capitalista o setor industrial madeireiro e a populao rural
da regio.
1
Professor de Histria da rede pblica do Paran, especialista em Educao do Campo,
mestrando em Sociologia na Universidade Federal do Paran. No perodo em que escreve este
trabalho exerce a funo de assessor tcnico do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justia de Proteo aos Direitos Humanos do Ministrio Pblico do Estado do Paran (CAOPJDH-
MP). Contato jefferson_oliveirasalles@yahoo.com.br.
2
O presente trabalho faz parte de pesquisa de mestrado em curso que tem como tema a
formao social da propriedade fundiria capitalista entre as dcadas de sessenta e oitenta.
3
Trata-se de uma cpia autenticada pelo rgo do relatrio original.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
250
Estabelecidos e outsiders na formao do setor industrial
madeireiro
O conceito de rede de famlias antigas foi originariamente construdo
por Elias e Scotson (2000) na obra em que analisam as relaes sociais de um
bairro operrio na Inglaterra partir das relaes de poder entre os moradores
que, segundo os autores, no apresentavam diferenas signicativas
econmicas, religiosas ou tnicas. Fato este que no impedia a existncia de
grande assimetria de poder dentro do bairro. Esta diferenciao se expressava
na existncia de dois grupos, os estabelecidos e os outsiders, sendo que o
primeiro era composto por moradores originrios (por duas ou mais geraes).
Os outsiders eram compostos por indivduos migrantes que, entre si, no
tinham relaes anteriores, conhecendo-se na prpria Wiston Parva. Segundo
os pesquisadores, os estabelecidos se auto-representavam como a minoria
dos melhores, portadores dos valores da tradio e da boa sociedade,
diferenciando-se dos outsiders, que no as tinham ou as possuam de forma
inversa: a delinquncia, a violncia e a desintegrao, falta de higiene,
etc., sendo por isso estigmatizados pelos primeiros
4
. Constatada esta realidade
e as relaes de desigualdade entre os grupos, os autores se dedicaram a
identicar como elas foram produzidas, reproduzidas e como se manifestavam
atravs da anlise da natureza da interdependncia entre os dois grupos
(Elias e Scotson, 2000: 23). A construo de mecanismos de diferenciao
(no sentido valorativo melhor/pior) foi promovida pelos moradores que
residiam h uma ou duas geraes no bairro e, por fora disto, estavam ligados
por uma rede de parentesco que reunia suas famlias. Este fato sustentou
material e ideologicamente o processo de estigmatizao, pois os moradores
antigos estavam solidamente estabelecidos em todos os postos principais da
organizao comunitria [Clube de Senhoras; de Idosos; de Teatro; a Banda,
Igrejas; a associao ligada ao Partido Conservador ingls, nica agremiao
poltico-partidria existente no bairro
5
] desfrutando da intimidade de sua vida
associativa, [da qual] procuravam excluir os estranhos que no partilhavam
de seu credo comunitrio e que, sob muitos aspectos, ofendiam seu senso de
valores (Elias e Scotson, 2000: 104-105). Estas agremiaes e outras com
algum grau de representao social estavam ligadas entre si por meio de redes
de famlias antigas de moradores com ancestrais no bairro, possibilitando um
instrumento poderoso de coeso social interna e coero sobre os outsiders. O
4
Neiburg in Elias, Scotson, 2000: 7.
5
Acredito que este fato signicativo, visto que justamente conservar a ordem vigente no
bairro era inteno dos estabelecidos, sendo que os outsiders tendiam a associar-se ao Partido
Trabalhista fato que os primeiros consideravam uma demonstrao da irresponsabilidade e
ausncia de compromisso com a comunidade (Elias e Scotson, 2000: 21).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
251
fato dos estabelecidos ocuparem diretamente os principais postos decisrios da
vila demonstra que um grupo s pode estigmatizar outro com eccia quando
est bem instalado em posies de poder das quais o grupo estigmatizado
excludo. Enquanto isso acontece, o estigma de desonra coletiva imputado aos
outsiders pode fazer-se prevalecer (Elias e Scotson, 2000: 23).
A partir das noes de estabelecidos e outsiders foi possvel aos autores
construrem o conceito de redes de famlias antigas. Em nosso trabalho,
este ltimo foi utilizado para analisarmos as origens dos latifundirios
da regio estudada que reivindicavam origens na sociedade tradicional
campeira
6
assentada, por sua vez, nos primeiros povoadores dos Campos
de Guarapuava. Mesmo os novos latifundirios que passaram a integrar a elite
proprietria a partir da dcada de 1920 tm seu mito de origem em um novo
tipo de estabelecidos, com origem associada aos migrantes europeus chegados
ao Brasil entre 1890 e 1920, proclamados por parte do discurso historiogrco
e intelectual da poca como self-made men, bandeirantes modernos/
bandeirantes do progresso, dinamizadores de empreendimentos capitalistas
modernos, srios
7
. Termos utilizados para representar um novo agente
social que integrou os grupos hegemnicos a partir de atividades industriais
nascentes. Para este texto, estabelecemos o recorte na atividade industrial
madeireira e das grandes colonizadoras, diretamente associadas a nosso objeto
de reexo: a construo da propriedade privada do setor industrial madeireiro
atravs do estudo da empresa Joo Jos Zattar S.A.
A anlise da rede de famlias antigas , nesse contexto, de grande relevncia,
visto que alguns desses ancestrais tiveram papel central na formao da
estrutura fundiria regional, como representantes do poder estatal. A partir
do incio do sculo XX, a elite campeira passou a perder seus latifndios
que foram (como veremos) paulatinamente sendo adquiridos por uma nova
frao hegemnica, composta por descendentes de imigrantes detentores
de capital associados a alguns integrantes do antigo grupo dominante. Os
descendentes do antigo grupo dominante migraram para atividades urbanas,
passando a ocupar, em especial, postos de primeiro e segundo escalo da
burocracia estatal nos trs poderes. Nestes postos, mesmo que com algumas
crticas em relao ao projeto poltico e econmico dos novos latifundirios,
tais burocratas foram apoio fundamental na luta entre as classes no
6
A expresso sociedade tradicional campeira usada para denir os que, j no sculo XIX,
dedicavam-se pecuria extensiva, como criadores e invernadores do gado do sul. (Abreu, 1981:
1). A mesma expresso aparece em Westphalen et. al., 1968.
7
Os dois primeiros termos foram utilizados pelo Jornal Gazeta do Povo, de janeiro de 1947,
para referir-se aos empresrios do setor industrial madeireiro, como Moyss Lupion, das dcadas
de 1930-1940 (Salles, 2004). O terceiro termo foi utilizado por Westphalen et. al. 1968: 20-
27 para referir-se s grandes imobilirias que promoveram a ocupao efetiva do territrio
paranaense.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
252
proprietrias e os novos agentes sociais que hegemonizavam o sistema de
dominao
8
representados, por exemplo, por empreendimentos capitalistas
que associavam grandes plantas industriais rurais, latifndios monocultores,
diversicao de investimentos, isto , elementos da modernizao capitalista
do sculo XX. A partir de estudos regionais de sociologia poltica e histria
agrria, troncos familiares como Camargo, Marques, Cleve, Rocha Loures,
descendentes da antiga elite tropeira, ocuparam altos postos da burocracia
estatal nos trs poderes isto , associavam o poder de representao de
seus ancestrais com o poder que o Estado detm. Caracterstica exclusiva que
assegurava a esses indivduos detalhado conhecimento sobre diversos aspectos
da economia e poltica regional (Oliveira, 2001). Como veremos ao analisarmos
a composio de grandes empresas do setor industrial madeireiro, percebemos
que integrantes dessas elites tambm estavam nos quadros administrativos
e associativos a partir de duas formas (ao menos segundo a documentao e
bibliograa consultada): por meio de casamentos entre lhos(as) da primeira
gerao de imigrantes que aqui chegaram com algum capital e lhos(as) de
grandes proprietrios dos Campos Gerais. Houve, portanto, uma dupla ligao:
de um lado os descendentes ocuparam cargos pblicos importantes e, por outro,
via estratgias matrimoniais, associaram-se ao setor industrial madeireiro.
Como exemplo da permanncia da elite campeira na regio de Guarapuava
e seu grau de importncia para os processos polticos e econmicos que se
seguiram no sculo XX, citamos um exemplo que envolveu diretamente a
madeireira Zattar. Segundo levantamento por ns produzido a partir do acervo
do Centro de Documentao da Universidade Estadual do Centro-Oeste do
Paran (UNICENTRO), entre 1953 e 1984 houve cerca de oitenta processos
judiciais nos quais a Zattar era autora ou paciente de ao na Comarca de
Guarapuava (Pinho emancipou-se em 1964, sendo que uma comarca e frum
foram instalados no municpio quase trs dcadas depois, fazendo que todos
os processos fossem levados a Guarapuava). Do montante citado de processos
(que s vezes duravam vrios anos, at mais de uma dcada), trinta e trs
estiveram sob a responsabilidade de dois juzes: Jos Amoriti Trinco Ribeiro
e
Jeorling J. Cordeiro Cleve
9
. O primeiro com treze processos e o segundo com 20
processos
10
, isto , ambos julgaram mais de um tero dos processos. Em relao
aos envolvidos nos processos, em nosso levantamento preliminar, encontramos
8
Estes burocratas descendentes de antigas famlias latifundirias hegemnicas ofereceram um
apoio fundamental no aparelho burocrtico-administrativo. Contra as classes no proprietrias,
aliam-se frao dominante que os havia substitudo no sistema de dominao. (Wanderley,
1979: 67-69).
9
Sobre Trinco Ribeiro consultar Hartung, 2004. Jeorling era descendente de Daniel Cleve, que
foi Juiz Comissrio das Medies nomeado em 1884 (ABREU, 1981: 74).
10
Levantamento por mim feito no acervo do Centro de Documentao da UNICENTRO para ns
de minha dissertao de mestrado. Este material se encontra em fase preliminar de anlise.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
253
como objetos das disputas madeira, terra e questes administrativas da
empresa. Os adversrios da Zattar foram pessoas jurdicas (outras madeireiras)
e pessoas fsicas (indivduos que disputavam com a Zattar a legitimidade no
que se refere propriedade de determinada rea de terra).
Como os juzes e escrives, de um lado, e advogados, dirigentes e
proprietrios da Zattar, de outro, estavam em constante relao no campo
jurdico, produziu-se um saber prtico segundo o qual representantes de
antigos proprietrios de terra (mdios e pequenos), proprietrios de pequenas
serrarias, posseiros, pees-operrios no podiam usufruir no mesmo grau de
poder nas disputas jurdicas. Anal foram dcadas (se somarmos os processos
por tipo) em disputas judiciais por terra, recursos naturais (extrativismo
madeireiro e de mate), questes trabalhistas e empresariais.
Salientamos que a primeira coisa que se evidenciou do levantamento foi o
fato de que a presena da Joo Jos Zattar S.A. na regio nunca foi pacca,
como demonstram os processos individuais, de pequenos grupos de pessoas
fsicas, de pessoas jurdicas e de representantes do poder estatal de diferentes
rgos contra a empresa, bem como da empresa contra estes personagens.
A Zattar e a formao do setor industrial madeireiro: modernizao e
poder
A empresa madeireira Joo Jos Zattar S.A. foi fundada em 1943, iniciando
sua atuao com uma serraria no atual municpio de Teixeira Soares (ento
pertencente a Irati), de onde se deslocou para Pinho na dcada seguinte,
seguindo a marcha das serrarias (Monteiro, 2008). Partiu das proximidades
de Ponta Grossa rumo ao oeste ou sudoeste paranaense, de forma semelhante
F. Slaviero & Filhos S/A, com oito serrarias em Guarapuava, abrindo liais
nas localidades de Bananas em 1942, Guar em 1951, Guairac em 1951,
Palmeirinha em 1958 e 1962 respectivamente, duas em Goioxim em 1963 e
Candi em 1969 municpios prximos ou limtrofes a Pinho (cf. Luz, C. F.,
1980). A partir da dcada de sessenta, com a extino progressiva da mata
nativa, os empresrios do setor buscaram opes para assegurar fornecimento
de matria-prima por meio de aquisio de terras, inicialmente na regio das
orestas de araucria, que margeavam os Campos Gerais (os quais, por seu
lado, abrangiam os municpios supracitados de Ponta Grossa, Guarapuava). O
sucesso dessa estratgia empresarial esteve fortemente articulado garantia
de subsdios, incentivos e isenes scais para empreendimentos orestais,
como foi o caso da lei 5.106 de 1966, segundo a qual:
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
254
As importncias empregadas em orestamentos e reorestamentos
podero ser abatidas ou descontadas nas declaraes de rendimento
das pessoas fsicas e jurdicas, residentes ou domiciliadas no Brasil.
As pessoas jurdicas podero descontar (...) at 50% do imposto, as
importncias (...) do valor do imposto, as importncias (...) aplicadas
em () reorestamento (Souza, 2005: 60).
A estes subsdios, outras subvenes foram somadas aps a dcada de
1960, cedidas por municpios, estado e Unio: direcionamento de tcnicos da
empresa pblica estadual de assistncia tcnica rural, EMATER, para assessoria
de plantio de pinus; diferimento de impostos (por exemplo, de ICMS); doao
de terrenos em parques industriais, concesso de servio de terraplanagem;
instalao e garantia de luz eltrica e gua por preos baixos ou com perodos
de gratuidade (Souza, 2005). Estas facilidades explicitam efeitos pertinentes da
ao da frao de classe do setor industrial madeireiro, que desde a dcada de
trinta conseguiu grande nmero de subvenes estatais atravs, por exemplo,
da criao do rgo estatal Instituto Nacional do Pinho (Salles, 2004). O
sucesso econmico do setor liga-se, portanto, a sua ao como frao de
classe. Embora estejamos cientes que os representantes do setor no tenham
imposto de forma automtica e total seus interesses, evidente que muitas
medidas tomadas pelo Estado sofreram impactos de sua presena nos rgos
de deciso, demonstrando que:
Para compreendermos quem ou o qu formula poltica, preciso
compreendermos as caractersticas dos participantes, os papis
que desempenham, a autoridade e os outros poderes que detm,
como lidam uns com outros e se controlam mutuamente. Das muitas
diferentes modalidades de participantes, cada um exerce uma funo
especial: os cidados comuns, os lderes de grupos de interesse, os
legisladores, os lderes legislativos, os ativistas polticos de partidos,
magistrados, servidores pblicos, tcnicos e homens de negcio
(Lindeblon: 11).
Como demonstrei em estudo anterior (Salles, 2004), neste perodo houve
o aumento da poltica de subsdios promovida pelo estado e municpios, que
no pode ser dissociada da aliana que fundou o setor madeireiro nas primeiras
dcadas do sculo XX, unindo lhos de imigrantes europeus de primeira gerao
que chegaram ao sul brasileiro com algum capital no nal do sculo XIX e
descendentes da elite fazendeira dos Campos Gerais.
Paralelamente transformao do setor industrial madeireiro, que deixa sua
condio de apenas comprador e extrator de matria-prima, tambm ocorreu
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
255
outra transformao importante: sua integrao e diversicao, com alguns
empresrios do setor adquirindo/associando-se a empresas de outros ramos,
como empresas de transporte, emissoras de rdio, jornais de mbito estadual e
regional, etc. Os exemplos signicativos desta diversicao e poderio poltico-
econmico foram o Grupo Lupion (que, na dcada de 1950, unia emissoras
de rdio, jornais impressos, empresa de navegao, distribuidoras ociais
de caminhes e peas para estes, etc.), os irmos Martinez (em particular
Oscar Martinez, proprietrio de companhias colonizadoras, e tambm scio de
empresa de mdia de rdio e jornal impresso). Nas dcadas seguintes, outras
formas da aliana intraclasse entre o setor madeireiro e aquele vinculado
colonizao (intimamente articulado e dependente do setor madeireiro para
derrubar as matas para estabelecimento da agricultura) tm como exemplo
signicativo a rede de casamentos que uniu os Lunnardelli (ligados ao setor
de colonizadoras) e Pimentel na dcada de 1970 (cf. Tomazi, 2000, Oliveira,
R., 2001).
Tendo em vista a contextualizao acima, pretendemos relacionar formas
de agir entre a generalidade do campo (exposta no que tange formao
do bloco de poder) e a ao empresarial dos proprietrios da Zattar, de modo
a estabelecer homologias entre o modo de agir desta empresa e de outros
grupos seus contemporneos. Tomando como referncia Bourdieu (2002),
acreditamos que, ao relacionar as aes referentes ao comportamento dos
proprietrios (isto , a famlia Zattar e outros scios) como frao de classe,
estabeleceremos propriedades gerais ou invariantes que caracterizam a
racionalidade da ao empresarial, isto , efetuaremos o uso racional das
homologias que sustentaram um olhar mais sensvel, que informa o insight
do pesquisador.
A partir do quadro acima, em particular no que se refere relao entre
representao poltica e formao empresarial do setor industrial madeireiro,
trazemos agora alguns elementos que inserem a Joo Jos Zattar S.A. nos
quadros do poder poltico-econmico dominante no Estado:
Nagib Chede: irmo de Joo Chede (um dos articuladores da candidatura
de Moyss Lupion para governador, tornando-se, por indicao deste,
deputado estadual pelo PSD
11
e presidente da Assembleia Legislativa
11
Um dos fundadores da Rede Paranaense de Televiso (em sociedade com Raul Vaz e o Grupo
Lupion). Tanto Vaz quanto Joo eram scios do Grupo Lupion. Presidente do PSD quando Moyss
Lupion foi candidato a governador, deputado estadual pelo PSD e presidente da Assembleia
Legislativa do Paran entre 1947-48 (incio do primeiro governo Lupion). Disponvel em www.
canaldaimprensa.com.br/canalant/opiniao/doito/opini%C3%A3o2.htm, acesso em 17.08.09,
disponvel em www.alep.pr.gov.br/arquivos/galeria32.php , acesso em 17.08.2009. Fonte: www.
prpr.mpf.gov.br/arquivos/externas/000150.php;.www.jusbrasil.com.br/diarios/791817/dou-
secao-1-21-10-2003-pg-118 , sobre condenao por corrupo); Kretzen, 1951.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
256
do Paran e tambm Presidente da Assembleia Constituinte Estadual de
1947). Nagib, por sua vez, foi um dos fundadores da Rede Paranaense de
Televiso, da qual eram scios Raul Vaz, Joo Chede e o Grupo Lupion.
Vaz foi indicado por Lupion como juiz para o Tribunal de Contas do
Estado, presidindo-o por diversos mandatos. Nagib tambm foi nomeado
como auditor desse tribunal por Lupion
12
.
Luiz Antnio de Camargo Fayet: foi scio do grupo empresarial Zattar,
ocupando cargos em conselhos de administrao. Tambm integrou
o Conselho do Banestado
13
, banco estatal responsvel por diversas
polticas e fundos de fomento a indstria e setor agrcola no Estado
(caso das polticas de nanciamento ao plantio extensivo de orestas
homogneas).
Odone Fortes Martins: scio da empresa, foi proprietrio do jornal
Indstria & Comrcio jornal que concedeu ao empresrio Joo Jos
Zattar premiaes como empresrio de destaque. Outros integrantes
da famlia Fortes eram proprietrios de grandes serrarias no oeste
paranaense na dcada de setenta
14
.
Joo e Antenor Mansur: Acionistas majoritrios da Produtora de
Madeiras Irati S.A., tendo como scios os irmos Joo e Miguel Zattar
nos anos 1970. Joo Mansur teve uma biograa de destaque: ingressou
na poltica em 1951, com dois mandatos consecutivos como vereador,
aps os quais foi eleito prefeito de Irati. Em 1958, com o m do
mandato de prefeito, foi eleito por cinco mandatos como deputado
estadual. Foi um dos responsveis pelo desmembramento de Pinho
do municpio de Guarapuava e sua transformao em municpio,
colaborando tambm na eleio de seu primeiro prefeito, um diretor
da Zattar. Na Assembleia Legislativa, ocupou o cargo de presidncia
por diversas vezes (1967, 1973/74 e 1981/82), ocupando por duas
vezes a funo de governador decorrente deste posto. Na Assembleia
Legislativa atuou tambm como lder do governo e participou das
comisses de Constituio e Justia; Finanas; Terras, Colonizao e
Imigrao; Redao e Turismo
15
.
12
www.canaldaimprensa.com.br/canalant/opiniao/doito/opini%C3%A3o2.htm, acesso em
17.08.09; www.alep.pr.gov.br/arquivos/galeria32.php, acesso em 17.08.2009.
13
Monteiro, 2008. Fayet foi integrante do Conselho do Banestado, banco estatal paranaense que
atuava como agncia de fomento.
14
Souza, 2005.
15
Assembleia Legislativa do Paran, disponvel em www.alep.pr.gov.br/deputados/deputado/98/
junco-manso/, acesso em 05/10/12.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
257
Darci Slavieiro: Scio, no incio dos anos 1970, com Joo Antnio
e Miguel Zattar, da Produtora de Madeiras Irati S/A, empresa esta
cujos maiores acionistas eram os irmos Joo e Antenor Mansur. Em
1971, atuava como conselheiro, e Miguel como diretor da empresa
(conforme contratos fornecidos pela Junta Comercial do Paran).
Salientamos ainda que o Grupo Slavieiro era um dos maiores do Estado
nas dcadas de 1960-1970.
Luiz Reinado Zanon: um dos dirigentes da Indstria Brasileira de Lpis
S/A (LABRA) em 1986, empresa da qual a Joo Jos Zattar S/A era
acionista majoritria. Este era membro da famlia de Maximino Zanon,
um dos fundadores do PTB no Paran, responsvel (em articulao com
o PSD) pela indicao de Moyss Lupion a disputa eleitoral para governo
em 1947. Luiz Reinaldo foi destacado empresrio no Estado, recebendo
premiaes de entidades representativas do empresariado e, no que se
refere s relaes com a Joo Jos Zattar S/A, dirigiu a PARAMOL Fbrica
de Tintas, empresa de que a LABRA obteve, em meados da dcada de
1980, o controle acionrio
16
;
Alm destas ligaes, a Zattar estava associada, como a maioria das
grandes madeireiras (grupos Lupion, Slavieiro, Sgurio, Martinez) do estado,
MADEBRAS, dedicada exportao de madeira (Kretzen, 1951). Joo Jos
Zattar (o proprietrio) exerceu tambm cargos importante da representao
dos interesses corporativos do setor, como a CACEX Carteira de Comrcio
Exterior do Banco do Brasil.
Salientamos que as fontes e bibliograas consultadas demonstram que
grandes conglomerados do setor industrial madeireiro (Zattar, Companhia de
Terras Norte do Paran-CTNP, Grupo Lupion, Grupo Martinez, etc.) possuam
signicativas articulaes econmicas e administrativas entre si e tambm
com polticos em nvel municipal, estadual e federal. Este contexto levou a que
ocupasse parte do capitalismo no Paran um agente particular: o empresrio
do setor industrial madeireiro que, dentro de seu campo, possua o controle da
propriedade da terra, da madeira e das plantas industriais, fato que propiciou
a tais empresrios grande concentrao de poder e a capacidade de dirigir
o processo produtivo, em todas as suas fases, desde a produo da matria-
prima at a entrega do produto comercializao (Wanderley, 1979: 23)
17
.
Concentrao que um dos fatores de sustentao do poder dos membros
desse grupo.
16
Conforme contratos fornecidos pela Junta Comercial do Paran.
17
Situao anloga do setor industrial madeireiro foi encontrada tambm na formao das
usinas de cana no nordeste.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
258
Trabalho e dominao nas vilas operrias e serrarias
A partir de 1953, segundo a biograa ocial de Miguel Zattar, j
funcionava no interior de Pinho uma serraria de grande porte que deu origem
Zattarlndia, uma planta industrial localizada no meio de vastas orestas
de araucria, imbuia e outras madeiras nobres. Esta planta industrial, como
outras suas contemporneas, possua uma estrutura que assegurava diversos
aspectos da vida dos trabalhadores (casas para parte dos empregados xos, loja
comercial, igreja ou capela, casa dos administradores ou proprietrios, espao
para festas pblicas, farmcia, segurana prpria). Esteve ativa at a dcada
de noventa (quando, em 1991, possua seiscentos e noventa moradores),
desarticulando-se aps o incio de 2000, em que os moradores se reduziram a
duzentos e oitenta
18
.
Segundo pudemos compreender pela leitura dos (poucos) trabalhos
acadmicos que encontramos sobre o tema, esta infraestrutura era essencial
para o funcionamento das grandes serrarias localizadas no seio de grandes
reservas orestais, distantes de centros urbanos que pudessem fornecer
produtos para manuteno da serraria e seus funcionrios. Este era o caso
da Zattarlndia, que serrava madeira de suas cercanias e outras localidades
vizinhas. Alguns aspectos do cotidiano destes trabalhadores so essenciais para
nossa compreenso de como empresas como esta conseguiram se estabelecer e
apropriar-se de terras e recursos naturais (madeira e erva-mate nativas).
Vilas operrias como a Zattarlndia tm sua origem em empreendimentos
em larga escala de extrativismo depredatrio de erva-mate e madeira no
Oeste e Extremo-Oeste paranaense, denominadas obrages. Instaladas no incio
do sculo XX, seu auge ocorreu entre as dcadas de 1910-1920, sendo que
algumas funcionaram at a dcada de 1950, quando foram substitudas pelas
colonizadoras. Estas, por sua vez, estiveram diretamente articuladas com o
setor industrial madeireiro
19
citamos, por exemplo, a CTNP, CITLA, Pinho e
Terras, MARIPA, que associavam extrativismo madeireiro e colonizao em larga
escala (cf. Salles e Lopes, 2012). Embora o grupo Zattar tenha comercializado
terras em forma de pequenos imveis na regio de Pinho no nal da dcada
de setenta e incio de oitenta, a empresa no pode ser caracterizada como
18
Segundo dados dos Censos Demogrcos do IBGE.
19
Obrages: empresas que atuavam no extrativismo em grande escala (de erva-mate e madeira)
em terras pblicas, no Oeste e Extremo-Oeste do Paran, por meio de contratos de concesso
algumas controlando centenas de milhares hectares (Wachowicz, 1982: 58-78). Setor industrial
madeireiro: caracterizado por atividades de industrializao da madeira nativa, isto , produo
de vigas e tbuas para construo civil, caixas para comercializao de produtos, cabos de
vassouras, mveis, papel, etc. Quanto mais industrializada era a empresa do setor, mais distante
estava do simples extrativismo de madeira praticado, por exemplo, pelas grandes serrarias das
colonizadoras citadas ou empresas como a Zattar (pelo menos at a dcada de oitenta).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
259
colonizadora, sua atividade principal no perodo estudado (1953-1984 e 1991-
1994) foi extrativismo madeireiro e sua transformao em tbuas, pranches,
vigas, que, no segundo perodo, somavam-se produo de material escolar e
para escritrio
20
.
Das relaes entre obrages, colonizadoras e setor industrial madeireiro surgiu
a estrutura e propriedade fundiria no Paran contemporneo, com a marca da
privatizao da terra pblica que resultou em grandes empresas capitalistas
e uma estrutura latifundista originada em benefcios e subvenes estatais,
que marcaram tanto o setor industrial madeireiro quanto as colonizadoras (cf.
Salles, 2004: 48-89).
Aspectos da diviso do trabalho nas serrarias: o mato, o ptio e o
barraco
O vigia [da serraria] encarregado da noite, ele tinha que
passar em todas as suas voltas por aquele local e quando
fechava uma hora de ronda teria que bater com outro ferro
neste pedao de trilho de acordo com as horas, se fosse sete
horas, tinha que ir l e dar sete pancadas naquele pedao de
ferro, para avisar e dizer que ele tava acordado, as sete e
meia era uma pancada, s oito horas, oito pancadas e assim
sucessivamente. [...] O vigia permanente era obrigado a
bater o ferro. Pois o seu Edgard [proprietrio] morava perto
da fbrica e tinha o costume de escutar os sinais. O gerente
geral Oscar Ribas, tambm morava perto e sempre tava de
olho nas batidas do vigia (Entrevista de Lioncio de Paula
Pires in Braga, 2011: 90).
Em nossa pesquisa encontramos pouca produo acadmica sobre as relaes
de trabalho nas serrarias localizadas no meio rural e/ou nas pequenas cidades.
Das pesquisas encontradas sobre trabalhadores de serrarias, abordaremos
primeiro a diviso do trabalho e, posteriormente, as relaes de dominao
existentes nas vilas operrias de propriedade das empresas madeireiras. Este
o aspecto mais relevante do presente item, pois pretendemos estabelecer um
nexo entre relaes de dominao e a consolidao da estrutura e propriedade
fundiria no perodo.
20
O Grupo Zattar foi proprietrio de uma empresa deste setor chamada LABRA S. A. (Monteiro,
2008).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
260
Iniciando pelas relaes de trabalho, a partir da bibliograa consultada
constata-se que as atividades nas serrarias, no perodo, eram divididas em trs
espaos distintos:
O mato um local especco de onde eram cortadas as rvores () o
ptio da serraria, eram roladas uma a uma at a entrada no barraco
e ali dentro transformadas em tbuas (...). O barraco era o principal
setor, abrigando a maioria do maquinrio e dos trabalhadores
especializados, pranchas, vigotes, etc., que eram classicadas e
medidas. (Ziliotto, 2008: 10-11 negritos meus).
Em relao ao trabalho no mato, o depoimento seguinte traz mais detalhes
acerca de sua execuo, retratado pelo operrio-peo
21
Joo Bonm da regio
de Irati, que atuou nos trs ambientes da serraria:
Trabalhei no locomvel, abria a presso para tocar... trabalhei de
caldeirista, aador, serrador, estalerador e tambm fazia ripa pra
cobrir casa; tenho at o ferro de tirar ripa pra cobrir casa e ripa pra
cerca... cortava o pinheiro, traava, da partia certinho com essa
ferramenta, saia bem certinho as ripinhas de cobrir casa, agora
custoso uma casa coberta de tabuinha. Meu pai me ensinou fazer
aquilo (...) O acampamento, chegava e se tivesse um ranchinho,
falava com o dono e ali cava, e se no tivesse, fazia uma coberta
com lona e a cama era quatro estacas, enchia de varinha e taquara
e colocava o colcho de palha por cima, mas o fogo tinha que
amanhecer aceso pra espantar os bichos, at ona tinha l, urrava
pertinho do acampamento na Areia Branca, e tendo fogo ela no
chegava. Urrava perto por isso no podia apagar o fogo, e cobra
tinha muito, tinha que tomar cuidado. No mato voc se vira, aprende
a lida com as plantas. Remdio bom era o leo de sassafrs (...) L
no acampamento, cozinhava na vara; ncava duas estacas, colocava
uma vara e colocava as panelas ali, feijo, carne, arroz, charque,
tudo panela pendurada na vara, tinha que ser vara verde e grossa pra
21
Este termo aqui utilizado no sentido de diferenciar trabalhadores que so pees de
fazendas e operrios que trabalham em servios urbano-industriais. No caso dos trabalhadores
das serrarias agregam-se caractersticas de ambos, visto que, como o operrio de fbrica urbana,
o trabalhador da serraria estava totalmente despossudo de outros meios de subsistncia que
no a fora de trabalho; porm, de forma semelhante ao peo de fazenda, o trabalhador da
serraria encontrava-se enredado em relaes pessoais de dependncia (clientelistas) com seu
patro (proprietrio ou dirigente das plantas industriais rurais), visto que dentro delas ocorriam
tambm diversas relaes de socializao (de lazer, religiosidade, familiares, etc.), pois grandes
serrarias como a Zattar possuam no seu entorno as vilas operrias.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
261
no queimar e ia pro mato cortar e voltava pro almoo; s vezes fazia
panelada de couro de toucinho, fazia aquelas paneladas, parolo! No
panela, era panela de ferro, grande com quatro tetinhas embaixo,
chamava parolo; meio-dia tava tudo pronto. Estaleirava pinheiro e
imbuia com cavalo e boi. Era sofrido demais; com geada no era fcil
(Entrevista concedida por Joo Bonm in Jorge e Martins, 2010:
117-118).
Do depoimento compreendemos que um operrio-peo poderia ascender de
condies difceis de trabalho no mato, sendo transferido para atividades no
ptio onde o trabalho de produzir ripas ou telhas de madeira (tabuinhas) de
forma manual e chegar ao barraco, ncleo mecnico da serraria, trabalhando
na mquina responsvel por serrar as grandes rvores (locomvel). Como o
extrativismo madeireiro tinha carter predatrio (no se preocupando com
a manuteno de reservas) havia um esgotamento constante dos recursos
orestais (da a marcha das serrarias).
Os diferentes espaos de trabalho das serrarias implicavam tambm na
diferenciao interna dos trabalhadores. Segundo Carlos Rebesco, proprietrio
de serraria em Irati, os trabalhadores contratados para exercer suas atividades
no mato geralmente eram contratados por empreita, isto , por tarefa (cf.
Ziliotto, 2008: 42) e chamados de toreros, que derrubavam e deixavam toras
(rvores j desgalhadas) devidamente empilhadas prontas para transporte
estaleirar requeria preservar a madeira derrubada de ataques de insetos,
queima e umidade. O estaleiramento da forma que ocorria no incio da dcada
de cinquenta foi descrito por um antigo funcionrio da Zattar que trabalhou na
construo das serrarias da Zattarlndia:
Nis fazia as tora e rolava. Limpemo a muque o pinhalo. Punha
uma vara de um metro, um metro e pouco da cabea da tora e
punha aquela madeira e rolava por cima. No existia serraria,
nis estava fazendo a limpeza pra fazer a fundao da serraria,
que foi feita a muque diz Eurides. Os homens, Eurides, seu irmo
Anbal, Xandoca, entre outros, derrubavam a madeira e carregavam
em carroes, olhados por Genauro Machado de Oliveira, o gerente
geral. O barraco nasceu pelas mos desses homens, que trabalhavam
descalos (Monteiro, 2008: 48-49 destaques meus).
A partir das duas entrevistas, destacamos as seguintes caractersticas: incio
do trabalho infanto-juvenil; a passagem do operrio por diversas ocupaes
dentro da serraria vista como ascenso meritocrtica (de operrio-peo do
mato para operrio-peo do ptio e do barraco); a positivao dos diferentes
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
262
trabalhos. No obstante, as lembranas de trabalho dos pees-operrios do mato
eram de um trabalho sofrido demais, devido a: necessidade de grande esforo
fsico; precariedade de alojamentos (em especial para o preparo de alimentos,
visto que nem fogo existia) invadidos constantemente por grande quantidade
de mosquitos; o fato de que eventuais doenas e ferimentos deveriam ser
tratados pelos prprios trabalhadores (com ervas medicinais); a possibilidade
de ataques de animais selvagens (onas, cobras, etc.). Todos estes obstculos
se somavam a outro que, certamente, os tornava mais rduos: a questo das
intempries (trabalhar com geadas, chuvas, etc.), em uma situao na qual o
alojamento era uma barraca e alguns trabalhavam descalos.
Retomemos agora outros aspectos do cotidiano na Zattarlndia a partir
do relato de uma moradora de Pinho cujos pais e tios ali se empregavam na
forma empreita ou como trabalhadoras domsticas (neste caso diretamente
com a famlia Zattar). Deste depoimento destacamos dois aspectos. O primeiro
refere-se diviso entre pees-operrios locatrios e no locatrios quanto
origem e ao acesso a terra e as funes que desempenhavam. A entrevistada
informa que a maioria dos nativos de Pinho que trabalhavam para a empresa
(os atuais posseiros ou faxinalenses) no eram operrios-locatrios, sendo que
na vila:
Tinha gente de toda parte. Tinha de Incio Martins [municpio
limtrofe a Pinho], porque vinha, vinha gente at de Santa Catarina
vinha gente trabalhar na, l (...) E de fora de, em Curitiba que tem,
em Guarapuava eles tinham indstria. Onde quer eles tinha indstria.
E tudo as indstria era desmatamento, no tinha outra coisa () E as
casa grande, dependendo da prosso, era de acordo com a casa que
morava. Se fosse marcador, ali, que tivesse uma, os motorista, eles
tinham a casa maior. Pra morar com luz, tudo, gua. Agora quando
era descascador de tora, era turno que trabalhava, eles trabalhavam
no mato n. Da ia tudo pro, pros rancho. Os rancho era trs peas,
dois quartos e a cozinha, s que era tudo grande n, bem pintado.
Mas luz e gua no tinha, gua era da mina e a luz era vela. ()
Tinha, tem as casa deles l [da famlia Zattar], que eles vinham
e cavam meses l. A mulherada com crianada. Tudo cavam l
e da, a minha me queria trabalhar pra minha tia, que foi uma
das primeiras fundadoras, que ela comeou a trabalhar l, de, de
domstica deles, cozinheira (Rosana, entrevista in Ayoub, 2011: 47).
Algumas dissociaes so percebidas na rememorao acima. De incio
o fato de que, devido ao grande porte da empresa e suas liais, atraam
trabalhadores de outros locais (Incio Martins, Irati, Guarapuava, Curitiba,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
263
So Paulo, Santa Catarina
22
), o que limitava relaes de reciprocidade entre
estas pessoas em detrimento do poder de coero social da empresa. Este
quadro certamente no teria existido sem orientao dos patres-locatrios.
Dialeticamente, porm, Sra. Rosana traz uma representao dos originrios
de Pinho que possuam, mesmo que de forma precria
23
, acesso a terra em
relao a empregarem-se como pees-operrios. Segundo a entrevistada, seu
pai optava por empregar-se apenas parcialmente (por empreita, sazonalmente)
na Zattarlndia, pois preferia manter outras formas de sobrevivncia que seriam
impossveis caso se tornasse peo-operrio em perodo integral como aqueles
que eram locatrios:
Ento nunca mudamos, mas no foi que, que o meu pai nunca
quis, nunca, nunca. , ele sempre dizia eu no vou, eu s fao
servio de empreitada, eu no vou, morar em casa do Zattar l,
fazenda do Zattar, eu no vou. Disse porque eu toda a vida tive a
minha luta, eu gosto de lidar com as minhas criao. A gente tinha
praticamente uma chacrinha l. Que da ele fazia, ns tudo fazia
servio de empreito assim, mas morar l ele nunca quis ir. Na sede do
Zattar (...) Eu tinha [vontade de morar na Zattarlndia]. Ih, Deus o
livre! Iluso de criana n, porque da l as casas eram melhor, tudo
(Rosana, entrevista in Ayoub, 2011: 47-51 destaques meus).
Todos do ncleo familiar trabalhavam de empreita, porm o pai (e em
alguma medida a lha) tinham orgulho de armar que praticamente possuam
uma chacrinha, isto , ou era insuciente em tamanho (para ser uma chcara)
ou os direitos sobre uso da terra no estavam totalmente assegurados. Seja
uma das duas alternativas ou uma mistura de ambas, o que se expressa uma
posio onde se conseguia manter alguns animais e alguma luta, isto ,
algum tipo de trabalho na terra.
Outra dissociao percebida na entrevista se refere diferenciao na
qualidade das moradias decorrente da importncia atribuda pela empresa a
diferentes ofcios uns moravam em casas e outros nos ranchos, no mato
(o qual a entrevistada no esclarece quem constri, se empresa ou operrio-
peo). Esta distino era produzida a partir de critrios estabelecidos de
forma unilateral pela empresa conforme seus interesses particulares. Estas
diversas relaes de trabalho repetiam-se no quadro j descrito de pees-
operrios locatrios ou no de outras plantas industriais no meio rural em
um novo contexto, onde a frente pioneira encontrava-se em fase nal (ela
22
Segundo Monteiro (2008), Eurides veio de Irati junto com irmos, ainda adolescente.
23
Por insuciente em tamanho ou em garantias de acesso.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
264
expandiu-se a partir de 1920 e exauriu-se na dcada de 1960), isto , em um
contexto onde o ser operrio-peo tinha um signicativo material e simblico
especco tema que discutiremos a seguir no item propriedade social.
O segundo aspecto refere-se ao controle social exercido sobre seus pees-
operrios. Retomando os depoimentos de Rosana e Eurides, relacionando-os
a outros estudos sobre a vida dos trabalhadores nas plantas industriais rurais
das serrarias nas dcadas de 1940-1960 podemos construir hipteses slidas
sobre a vida destas mulheres e homens na regio de Irati / Incio Martins /
Pinho. As empresas que dispunham de vilas operrias rurais tinham diversas
possibilidades de exercer grande controle social sobre os pees-operrios e, em
particular, aqueles que eram locatrios, visto que havia grandes semelhanas
entre a vida na Zattarlndia e em outras vilas operrias de plantas rurais de
serrarias congneres do perodo e regio. No obstante estas semelhanas,
salientamos que alguns aspectos das relaes de trabalho existentes nas
serrarias tinham suas origens no sistema de obrages: era o amplo controle que a
empresa buscava manter da vida dos seus funcionrios. Iniciando por algo caro
ao capitalismo liberal: o controle sobre o consumo. As possibilidades de livre
consumo pelos empregados podiam ser amplamente controladas pela empresa
(bem como atividades de lazer e religiosa), pois as instalaes comerciais
permanentes e eventuais (caixeiros-viajantes) dependiam de autorizao dos
gerentes, o mesmo ocorrendo com uma estrada que cortava a regio (a qual
teria sido construda pela empresa). Estas duas formas de controle sustentavam
outra que igualmente incidia sobre todos pees-operrios, locatrios ou no,
que trabalhavam integralmente ou de empreita, o:
Bor, o dinheiro que circulava nas vendas, armazm farmcia etc. de
Zattarlndia. O bor, uma ideia de Joo Jos Zattar, considerada
avanada para a poca, tinha o mesmo valor de compra, de um por
um, da moeda ento vigente, o cruzeiro. Os comerciantes, depois,
trocavam na empresa os bors com cores e valores diferentes, por
dinheiro. Em vez de pag-los com dinheiro, dvamos o bor. Eles iam
no armazm, compravam e o bor voltava para o escritrio. Era melhor
assim: um tanto em bor e outro, em dinheiro, diz Zuzo. (Monteiro,
2008: 48 destaques meus).
O bigrafo de Miguel Zattar em sua apologia revela algo interessante
em relao mentalidade de seu biografado: o que considera estratgias
administrativas avanadas no perodo (segundo depoimentos de empregados
da Zattarlndia, o bor teria sido utilizado entre 1949 e a dcada de 1970 cf.
Ayoub, 2011: 46). No obstante, tal prtica remonta s primeiras dcadas do
sculo XX, tendo surgido nas obrages onde o peo no via dinheiro, sendo
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
265
pago por uma espcie de vale por escrito chamado boleto. Cada empresa
possua o seu, exclusivo para circular em sua propriedade
24
. Por meio do
boleto ou bor a direo da empresa poderia ter conhecimento do que era
consumido e de quem o empregado comprava, podendo, por exemplo, exercer
coero moral sobre gastos considerados exagerados e/ou inadequados (pelos
patres), causar diculdades para determinado comerciante ou empregado
trocar bor por dinheiro ou, como salientou Ayoub, dicultar a poupana
para os pees-operrios
25
. Tendo em vista estas estratgias, no apenas pees-
operrios, mas tambm comerciantes que desejavam adentrar nas vilas operrias
deveriam manter boas relaes com os patres-senhorios. Salientamos que
estas estratgias possibilitavam, alm de dominao, a maior explorao dos
empregados das vilas operrias localizadas no meio rural, como percebemos do
depoimento abaixo de um peo-operrio no norte paranaense:
Uma coisa que os patres de fazendas praticavam [entre as dcadas
de 1940-1950] frequentemente, neste norte do Paran, era trazer,
no caminho, seus trabalhadores para comprarem na cidade, mas o
veculo parava somente nos armazns dos amigos e parentes, quando
no no seu prprio (...) Nesta poca, a usina comeou a usar aquele
mtodo do bor, um vale de cor verde, que tinha valor de um, dois,
cinco e dez: era do tamanho de uma nota de cinco reais de hoje (...)
A empresa atrasava o pagamento e fornecia metade em dinheiro e
metade em bor. Depois, passou a fazer 30% em dinheiro, 70% em
vale. E o resto, cava enrolando. Com os vales, os trabalhadores
estavam obrigados a comprar nos armazns da empresa (...) Coisas
de terceira ou de quarta categoria, que eram vendidas como se fossem
de primeira. Aquilo era um tipo de escravido (Jos Rodrigues dos
Santos, entrevista in Villalobos e Silva, 2000: 51 e 66).
O depoimento acima se refere ao uso do bor em vrias fazendas no
norte paranaense. Uma delas chama ateno: em 1954, na fazenda de Joo
Esguari [ou Sgurio], que era o maior dono de serrarias do Paran e estava
formando fazendas com um milho de ps de caf. Este homem tinha tudo:
24
Wachowicz (1982) arma que, alm do boleto, o peo tinha a alternativa de retirar o que
necessitava no barracn da empresa, sendo seus gastos anotados sem uma caderneta, o que
implicava o endividamento contnuo do mensu. Destacamos o fato de que, para Wachowicz, o
sistema de obrages, indiscutivelmente, caracterizou o Extremo-Oeste paranaense pelo menos
at a dcada de 1950, sendo as obrages substitudas pelas colonizadoras e o mensu pelo
colono (Wachowicz, 1982: 160-167).
25
Conceito formulado Jos Srgio Leite Lopes na obra O vapor do diabo para referir-se a
trabalhadores submetidos ao regime fabril em grandes fbricas localizadas no meio rural,
agregando formas de dominao industriais e rurais.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
266
cinema, mercados, bar, farmcias no Eldorado. Segundo o entrevistado, devido
ao uso reiterado da prtica por ele descrita ele viu uma mulher valente
que voou por cima do balco e se atracou com o administrador da fazenda
quando foi informada que novamente seriam pagos apenas com bor. Este
ataque foi prontamente seguido por outras mulheres, causando pnico
no administrador e no contador que estavam juntos. Havia muitas outras
trabalhadoras e trabalhadores, mas ningum se moveu para separar a briga,
pois todo mundo sentia o problema do bor. Como no poderia deixar de ser,
no dia seguinte a polcia veio e cou rondando (cf. Dias, Tonella e Villalobos,
2000: 44). Esta narrativa traz diversos elementos relevantes; salientamos dois:
o primeiro refere-se ao nome de Joo Esguari que acredito ser Joo Sgurio,
sendo a escrita diferente por uma questo de pronncia de Jos Rodrigues ou
descuido editorial. Joo Sgurio foi um dos maiores proprietrios de serrarias
do Estado, estando associado ao grupo Lupion por dcadas (cf. Salles, 2004),
e era amigo de Joo Jos Zattar. Estes ltimos seriam os reis da madeira,
patronos das duas maiores fortunas do estado. Sgurio era chamado de rei
do pinho [...] tinha uma coleo de serrarias
26
. O segundo elemento refere-
se ligao entre bor e lojas de comrcio de propriedade de Esguari (ou
Sgurio), demonstrando um adendo na explorao do trabalho, sendo que
reao desesperada das mulheres aparece a pronta vigilncia da polcia. Tal
desenrolar de acontecimentos nos leva a perguntar como um fato anlogo teria
ocorrido na Zattarlndia, de que forma reagiriam os seguranas da empresa
(como os vigias das cancelas das estradas que, como veremos, envolveram-se
em conitos com adversrios da Zattar).
Retomando o depoimento acima da Sra. Rosana, lembremos da diversidade
de locais de origem dos pees-operrios locatrios, fato que pode ser
caracterizado como elemento fragilizador, visto que estas pessoas no tinham
a mesma rede de pertencimentos comunitrios que grupos estabelecidos a
longo prazo em um mesmo lugar ou que migravam em grupos (como descrito
por Elias e Scotson, 2000), o que era comum no Paran do perodo de rpida
expanso da frente pioneira.
O fato do patro-senhorio tambm ser proprietrio de grande parte da
estrada que ligava Zattarlndia a Pinho era tambm elemento signicativo
para exercer seu mando. Conforme percebemos da leitura do levantamento
documental da UNICENTRO, a empresa mantinha cancelas com vigias (que
se somavam aos vigias da Zattarlndia), controlando o trnsito de pessoas
e veculos em um territrio bem mais amplo do que a vila operria por
exemplo, em relao s visitas de familiares dos empregados, comerciantes
26
Monteiro, 2008: 114-115. Como demonstraremos abaixo, as ligaes entre os maiores grupos
do setor industrial madeireiro no Estado espalhavam-se para alm das amizades e do plgio de
velhas novidades (o bor copiado por ambos, Sgurio e Zattar).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
267
rivais daqueles apoiados/aprovados; em perodos eleitorais, candidatos rivais
aos apoiados ou que contassem com a simpatia dos proprietrios, etc. Dado
o controle que os proprietrios das vilas operrias tinham sobre estas, seria
possvel a eles impor alguma ingerncia sobre as relaes comerciais entre os
pees-operrios (locatrios ou no) e mascates e lojistas, pois, obviamente,
os diversos tipos de pequenos comerciantes dependiam de boas relaes
com proprietrios e dirigentes de vilas das serrarias para nelas transitarem/
instalarem-se.
O uso da prerrogativa de impedir ou dicultar o trnsito de pessoas foi
constante pela empresa, fato que causou diversos conitos, alguns explicitados
em processos judiciais criminais de 1971 e 1972 (envolvendo pequenas
madeireiras e posseiros). Conitos que se repetiam duas dcadas depois,
segundo relatos contundentes de servidores do IAP. O cerceamento do trfego
implicava, por exemplo, em obstculos srios ao comrcio, visita de familiares,
campanhas polticas, disputas entre a empresa e quaisquer adversrios (por
exemplo, scalizao de rgos ambientais, organizao dos movimentos
sociais na regio). A vigilncia poderia ser utilizada tambm contra outros
personagens (alm dos posseiros e pees-operrios), como sugerem alguns
processos judiciais criminais, pois a empresa ao denunciar outras madeireiras
ou seus servidores por furto de madeira certamente poderia contar com o
apoio dos vigias das cancelas como testemunhas e/ou para obstacularizar tais
prticas.
O recebimento de vrios benefcios citados por Rosana moradia,
assistncia mdica, roupas usadas , sejam reais ou ilusrios, fornecem
importantes bases para a compreenso de outro aspecto das relaes de
dominao existentes em situaes semelhantes: as relaes de dependncia
e reciprocidade marcadas por uma grande assimetria. Aqui (re)encontramos
anidades entre a organizao da produo feita por usinas de cana estudadas
por Srgio Leite Lopes e as serrarias. Segundo o autor, o fato que distinguia
a indstria de cana era ser ela agrcola (situao, como dissemos, parecida
com as serrarias) e concentrar (distante de grandes centros urbanos) diferentes
tipos de trabalhadores:
Operrios de fabricao, operrios de ocinas de manuteno,
operrios ligados a transportes, operrios xos e operrios sazonais.
Por outro lado, dentre os operrios xos, grande parte deles mora
em casas da prpria usina, prximas planta fabril (...) Essa ligao
direta entre o domnio do trabalho e o domnio de sua moradia,
que geralmente no existe para os operrios industriais urbanos, que
podem trabalhar em diversas fbricas e continuar morando na mesma
casa, faz com que tanto o tempo livre do operrio do acar,
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
268
quanto as condies de sua moradia sejam fortemente determinados
por sua insero especca no processo de produo da usina (Lopes,
1978: 11-12).
importante lembrarmos que abordamos vilas operrias da zona rural,
ou pequenas aglomeraes de residncias o que diferente de serrarias
localizadas em ncleos urbanos com signicativa concentrao industrial
como Curitiba e Ponta Grossa, nas quais havia, desde o incio do sculo XX, um
pequeno setor industrial diversicado formado por fbricas de caixas, cabos
de vassouras, banha, olarias, bebidas, etc. Retomando as memrias dos pees-
operrios, citamos trecho de entrevista do Sr. Lioncio, empregado por mais de
uma dcada na mesma serraria no municpio de Irati:
No tempo que eu trabalhava como motorista na fbrica do Gomes
me lembro de uma histria interessante que aconteceu com o meu
lho mais velho. Nos ns de semana sempre levava o caminho e
o trator para lavar na minha casa. E num desses dias o meu lho
Wilson veio guiando o trator para dentro da fbrica, nisso o seu
Edgard [proprietrio e diretor da empresa] estava no porto, que
no gostando de ver a cena mandou o menino descer, pois no
admitia seus veculos na mo de outras pessoas a no ser na de seus
motoristas. Agora imagina na mo de uma criana. Passou um tempo
e a mesma cena se repetiu, s que desta vez, seu Edgard vendo que
o menino guiava muito bem o trator, fez sinalizao para ele no
descer e continuar tocando o trator para seu estacionamento. Devido
a estas ousadias de meu lho, aos poucos foi tornando meu aprendiz
at mesmo sem eu saber. Meu lho realmente me surpreendia na
direo do trator, fazendo com que o prprio seu Edgard se admirasse
(Entrevista, Lioncio de Paula Pires in Braga, 2011: 86).
Neste depoimento destacamos dois pontos: primeiro, o empregado
trabalhar aos nais de semana lavando veculos da empresa; o segundo
aspecto refere-se formao para o trabalho no mbito do interior da serraria.
Em relao ao cuidado com as mquinas da empresa, acredito que, ao levar
os veculos para sua casa, Lioncio estava se responsabilizado pessoalmente
por implementos essenciais serraria. Saliento que o ato de lavar estes
veculos era, certamente, uma parte essencial de sua manuteno, pois ambos
os veculos, utilizados em estradas de terra, acumulavam pedaos de matria
orgnica (terra, galhos, etc.), o que aumentava a depreciao de peas e lataria.
No que se refere ao segundo ponto que salientamos, a imagem bastante
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
269
signicativa: o pai estava ensinando ao lho (ainda criana) como realizar
algumas aes de manuteno e dirigir os veculos, aes estas que eram feitas
como prtica, isto , exigiam colaborao do menino no trabalho, levando
o trator da casa para o barraco aps ser lavado, por exemplo. Certamente
era estratgico para o pai ensinar ao lho, e era evidente que o seu Edgard
saberia das aes do menino que somente poderiam ser executadas com
o conhecimento do pai. Estes dois pontos so essenciais para analisarmos
a perspectiva do senhor Lioncio: era importante conquistar a admirao do
homem que era, simultaneamente, proprietrio-diretor empresa para qual
trabalhava e senhorio da casa na qual residia com a famlia. Este discurso
est cheio de construes ticas e morais, no sentido da formao que dava
para o lho (como trabalhador especializado que aprendia dentro do ptio
e do barraco, portanto, observado pelos patres-locatrios), onde seu pai
demonstrava responsabilidade no cuidado dos veculos. Isto ca evidente
atravs da interpretao feita por Lioncio: para ele, o patro mandou desligar
o trator porque dirigi-lo era funo exclusiva do motorista ocial, no havendo
meno ao fato que um menino estava ao volante
27
. Certamente a formao
e insero dos lhos no trabalho tinham signicados diferentes para operrios
e patres. Para os primeiros signicava assegurar emprego, mais que trabalho,
para os lhos. Para patres signicava, alm da formao de um trabalhador
dentro de seu quadro de empregados (o que em si trazia dvidas ticas e morais
tanto do pai-operrio quanto do lho futuro operrio), a realizao, por algum
tempo, de trabalho gratuito ou menos pago que o de um adulto. Em relao
aos cuidados pessoais do senhor Lioncio com os veculos, acredito que ele foi
homlogo ao senso (auto-atribudo) de responsabilidade dos trabalhadores
das caldeiras das usinas de cana que, no obstante a intencionalidade dos
patres, funcionava de forma dialtica:
Maneira possvel que a administrao tem de inculcar nos operrios
o zelo pelo capital do usineiro, a responsabilidade , inversamente,
a maneira pelo qual tem o operrio de prossionista [termo que
designa operrios que trabalham nas tarefas com maior grau de
exigncia tecnolgica, ex.: trabalho com caldeira], atravs de uma
reinterpretao criativa, de valorizar seu trabalho e de colocar
a administrao em uma situao de dvida imaginria com o
operrio: o ganho no corresponde responsabilidade (Lopes, 1978:
27 negrito meu).
27
Como os pais, os lhos de pees-operrios comeavam a trabalhar na infncia (Ziliotto, 2008:
10-11).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
270
Acredito que o senhor Lioncio (e provavelmente outros trabalhadores)
construram este iderio, o que ajuda a compreender aes aparentemente
contraditrias ao ideal de dominao. Por exemplo, quando ele, no escritrio
(administrao) da serraria, esbravejou contra atitude de desleixo e omisso
ao problema grave de sade de uma lha por parte de funcionrios da gerncia
da serraria, sendo posteriormente atendido em sua demanda pelo patro, que
autorizou o uso de seu veculo particular (Braga, 2011: 94). Isto , quando
contrariado em uma situao muito sensvel, senhor Lioncio respondeu de
forma mais contundente, pois se explicitou a possibilidade de romper-se
a dependncia. A reao do patro manteve a reciprocidade. Esta reexo,
embora propiciada por um depoimento de um operrio-peo locatrio de uma
vila operria de Irati, importante para entendermos algumas armaes dos
memorialistas Passos e Monteiro sobre a Zattarlndia, que tambm aparecem
na entrevista com a Sra. Rosana:
Era muito bonito l. Tinha farmcia, tinha aougue, tinha o armazm,
tinha mdico trs vezes por semana, era o Dr. Jos Cassoli, que era o
mdico de, aqui do hospital velho que ia l no, no Zattar. E o remdio
tinha tudo, tudo, tudo, tudo na farmcia. E tinha um farmacutico l
muito bom, que aquele se dissesse leve pro Pinho que no vai ter
jeito aqui, leve, podia saber que trazia, fosse gente grande, fosse
criana, cava semanas internado aqui, ele tinha um bom acerto de,
de remdio. Ento a, o pessoal de l s vinha pra c , tipo fosse
mandado, vir. Da, s que da tambm quando o farmacutico falava
i, no tem, mas primeiro tinha que ir na farmcia l n, no
tem jeito, voc vai ter que levar, da tambm dali a gente tava a
farmcia que nem ali, que nem aqui j tava o escritrio. S passava
ali no escritrio, dizia to precisando de um carro, que preciso sair ir
pro Pinho, j diziam ento v pra casa que daqui a pouco j vai.
E ia mesmo (Sra. Rosana, entrevista in Ayoub, 2011: 51).
Como se v dos depoimentos selecionados, a memria dos operrios do
ptio e do barraco era bem diferente daquela dos do mato. A positivao da
vida nas vilas operrias est relacionada estabilidade por ela propiciada.
Porm, a crer nos processos trabalhistas encontrados e na disciplina de
trabalho imposta pelos patres-senhorios, os pees-operrios locatrios
estavam sujeitos a diversas e constantes obrigaes, contrapartidas, do que
resultaria um pequeno nmero de conitos trabalhistas lembrando-se do
contexto geral no qual o acesso ao judicirio era precrio, o desequilbrio de
poder era abissal, as distncias a serem percorridas por pees-operrios at o
judicirio (por estradas da Zattar) signicativas. A este quadro devemos somar
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
271
uma questo conjuntural: caso o operrio-peo locatrio residisse na vila da
empresa e entrasse com uma ao judicial, seria imediatamente despedido e
despejado; o trabalhador do mato tinha uma situao igualmente complexa,
visto que tinha contratos por tarefa (empreita), algo que o aproximaria dos
terceirizados de hoje, o que tornava uma disputa judicial difcil. Por m,
lembremos ainda o ocorrido com as trabalhadoras da fazenda de Esguari/
Sgurio, que caram sob observao da polcia.
Outra analogia entre a vida do Sr. Lioncio e Sra. Rosana est na ideia de
aprendizado com os pais e, em alguma medida, uma dvida para com os patres,
de quem ganhavam favores e presentes (atendimento mdico, medicamentos,
roupas usadas apenas uma vez, etc.)
28
. Os presentes ofertados como ddivas
pelos patres-senhorios identicados nas falas do Sr. Lioncio e Sra. Rosana
tambm foram identicados nas grandes usinas de cana do nordeste na dcada
de sessenta. A interpretao do que ocorreu nas vilas das serrarias pode ser
feita a partir de estudo sociolgico de uma realidade similar registrada entre
as dcadas de 1940-1960 no Nordeste canavieiro havia tambm grandes vilas
operrias que margeavam plantas industriais localizadas na zona rural, tendo
casas, mquinas e terras concentradas sob o mesmo proprietrio. O estudo em
questo constatou que havia uma:
Interpenetrao e dominao da esfera do trabalho sobre a esfera
domstica dos operrios tem nessa caracterstica da usina seu
maior sustentculo. O poder de redistribuio do usineiro, que se
manifesta em concesses no monetrias suplementares ao salrio
[moradia, possvel emprego dos lhos do morador, etc.], tem como
consequncia o controle que a usina exerce sobre o prprio mercado
de trabalho dos operrios do acar, o qual se abastarda enquanto
um mercado que sofre de maneira parcial os efeitos contraditrios
do princpio da redistribuio (Lopes, 1978: 206).
As concluses de Lopes so importantes para nossa anlise. Anlise que
tambm dialoga com Robert Castel, que ao analisar a histria da produo
do assalariamento, descreve a trajetria de uma classe trabalhadora exposta
a novas formas de explorao, em decorrncia de inovaes das relaes de
produo impostas pelo capitalismo. Retomando este ltimo autor, o mais
importante no explicitar a excluso, a produo de supranumerrios
(os excludos, os miserveis), mas compreender que mecanismos geram tal
processo e as formas de reao a ele.
28
Aqui talvez se expresse o sentido de dominao pessoal e tambm de reciprocidade desigual,
assimtrica. Lembrar bibliograa sobre fbricas que construram vilas para seus operrios na
Europa e por isso exerciam sobre esses controle maior.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
272
Nas obras de Passos e Monteiro, o patro-senhorio aparece como algum
que construiu e buscou dinamizar seu empreendimento no interesse de seus
empregados. Esta ideologia tambm tinha, como transparece nas memrias
de Sra. Rosana e Sr. Lioncio, alguma aderncia entre os pees-operrios.
Porm, a crer na perspectiva de entrevistas como a do Sr. Lioncio, havia uma
leitura a contrapelo (dialtica), pois os trabalhadores passaram a enxergar
aquilo que para os patres era favor como direito (por exemplo, atender,
mesmo que pontualmente, demandas de sade, moradia e empregos para
lhos de pees-operrios).
A nova questo social nas vilas operrias: contribuio para uma
sociologia da propriedade
fundamental no esquecermos o que estava em jogo, retomando os
depoimentos de pees-operrios toreros (Sr. Eurides, Joo Bomm ou mesmo
Lioncio em relao ao drama que passou com a lha) que se referem s
condies duras de trabalho e as relaes de dependncia e dominao
existentes nas vilas operrias semelhantes Zattarlndia. A trajetria de
Joo Bomm e a imagem construda por Rosana durante sua infncia sobre a
beleza da Zattarlndia seriam uma forma destas pessoas encontrarem algum
tipo de segurana em uma situao crtica que marcava a dcada de sessenta,
isto , um contexto no qual era essencial afastar-se de potenciais conitos
(pela terra ou situaes dramticas de trabalho, como a mulher valente da
fazenda Esguari/Sgurio) e, simultaneamente, fortalecer ou construir laos de
solidariedade e proteo social e moral nos termos sugeridos por Castel (2009),
fortalecendo seus pertencimentos comunitrios e suportes relacionais que
esto presentes em maior grau nas comunidades estabilizadas isto , sem
grandes alteraes demogrcas, crises ou guerras. Seguindo esta linha de
raciocnio, legtimo supor que para pees-operrios do mato e do barraco
ou ptio, em gradaes diferentes, a possibilidade de cair no limbo social
era algo palpvel, pois isto ocorreria caso se tornassem, momentaneamente
ou indenidamente, incapazes para o trabalho (considerando a inexistncia
de auxlio social que no o familiar ou da comunidade). Devemos ter em
mente que estes personagens no tinham muitas opes, sendo coagidos
busca incessante do trabalho sofrido, realidade que espelhava a situao
dramtica do trabalhador europeu no perodo inicial da revoluo industrial,
na qual este era:
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
273
Um pobre diabo que no aprendeu no quadro de ofcios, sem
qualicao que trabalha de vez em quando, mas frequentemente,
estava em busca de um pequeno servio aleatrio, dessocializando-
se progressivamente ao longo de suas peregrinaes, e apanhado
pelo brao secular num momento desfavorvel de sua trajetria
errante (Castel, 2009: 131).
Analisando as memrias destes trabalhadores, possvel armar que
contingentes signicativos da populao rural paranaense foram empurrados
para as margens (marginalizados) da sociedade, em uma situao onde
poderiam tornar-se miserveis, por no poderem trabalhar. A impossibilidade
de acesso ao trabalho poderia ser decorrente no apenas da falta de trabalho,
mas, como possvel entender dos depoimentos acima, pela degradao de
algumas condies de seu exerccio, pelo impedimento de acesso a recursos
naturais e ao territrio (coleta de erva-mate, madeira, criao de animais para
consumo pessoal, assegurados antes da extino da frente pioneira a partir
do nal da dcada de cinquenta , privatizao e aumento da concentrao
fundiria aprofundadas na dcada de setenta). A concentrao da terra
foi demanda de um novo tipo de agricultura, caracterizada pelo modo de
produo capitalista e a mxima valorizao da terra, sendo generalizado o
fenmeno da aglutinao de propriedades ou seja, a absoro das pequenas
pelas mdias e grandes propriedades (Abreu, 1981: 192). A concentrao
fundiria no ocorria apenas no municpio de Guarapuava e regio, estava
espalhada pelo Paran inteiro, com o rpido aumento de minifndios (menos
de 10 ha, algo que, pelas suas dimenses, poderia caracterizar quase uma
chacrinha) e latifndios (mais de 1000 ha) como demonstram os dados:
Em 1960 existiam cerca de 34 mil estabelecimentos de posseiros [de
pequenas parcelas de terra] no Paran, ocupando uma rea de cerca
de 1 milho de hectares; em 1970, 50 mil para uma rea de 750
mil hectares; e em 1975, 47 mil para uma rea de 622 mil hectares
(Silva, 1996: 102-103).
Estes dados demonstram o aprofundamento das diculdades de reproduo
social do campesinato, pois havia cada vez mais a concentrao da propriedade
e, por outro lado, a ampliao de minifndios em nmeros absolutos (com
queda em sua rea). Ambos dados que devem ser considerados dentro do
contexto mais geral de adensamento populacional e da expanso das relaes
capitalistas no campo. Referindo-se ao trabalhador rural sem acesso aos meios
de produo, Castel arma que os operrios agrcolas eram os mais pobres
dentre os trabalhadores rurais, sendo que pelo menos no campo, o recurso
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
274
condio de assalariado revela sempre um estado muito precrio e, quanto
mais assalariado, mais carente (Castel, 2009: 192). Como percebemos das
entrevistas, os toreros eram os que tinham maior grau de assalariamento, pois
no recebiam outras contrapartidas no monetrias pelo seu trabalho (por
exemplo, moradia), situao que ocorria com os trabalhadores do ptio e do
barraco. O depoimento abaixo de um trabalhador do mato que atuou por anos
na atividade na regio de Irati-Incio Martins (cidade vizinha a Pinho) retrata
o argumento de Castel de forma contundente, explicitando as relaes entre
trabalho e as disputas por terra e produtos extrativistas causadas pela marcha
das serrarias, a partir do relato de trs situaes em que correu risco de morte
em trabalhos de empreitada:
Ele [dono da terra] no queria deixar cortar [as rvores], a eles [meus
patres] foram e trouxeram um pistoleiro, no sei de onde. E ns
tambm tnhamos um barraco armado l, mas eu vinha pra casa todo
dia porque morava pertinho, dava uns 8 ou 10 km, eu vinha embora a
p, uns outros paravam l. Da puseram aquele barraco pra mim car
com o pistoleiro, fazer bia pro home, e ele andava com dois revlver,
um de cada lado; e eu pensei comigo sabe, eu arrumei a cama no cho,
ento numa parte assim pro lado do mato que no tinha estaca n,
era s rolar por baixo do encerado e agarra o mato e agarra o rumo
de casa, porque eu pensava assim comigo: o JP no era home muito
bom; ele podia vir de noite matar o pistoleiro enquanto dormia (...)
Depois ns fomos l um dia corta pinheiro de novo, da o Bastio
Z. que era o novo dono daquele terreno enguiado, foi l e disse:
- Vocs peguem e vo embora seno vou buscar a polcia e prendo
vocs (...) Depois, ali no Rio Azul Velho, eu fui corta uns pinheiros
l, ele (o dono) um home idoso, j tinha morrido a primeira mulher e
ele tinha vendido o pinhal para tratar dela. Fazia uns 20 anos que a
serraria tinha comprado os pinheiros, mais o contrato no tinha m
n, cortava quando quisesse. A serraria comprava os pinheiros em p
e fazia um contrato pra corta quando precisava de madeira, e esse
contrato podia valer at vinte anos. Da eu fui corta; cortei um dia
inteiro quando chegou um genro dele l; eu quei meio desconado
que tinha rolo, pois o patro falou que era pra chegar numa casa l no
Marmeleiro que vai um home junto com voc l no mato. U, porque
ser? Ser que um segurana (pistoleiro). Da peguei o home l e
fomos corta os pinheiros. Passado umas horas chegou o genro do home
e disse: - Voc no ponha a mo no pinheiro que eu te mato. E voc
Altamir no trema que eu te mato se voc quiser derrubar um pinheiro.
Assim na dura sorte home, eu fui trabalha, fui ganha meu po de cada
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
275
dia,... da eu disse pra ele: - T bom, ta bom, eu paro de corta. Mas
ele no tinha nada com os pinheiros. Da peguei reuni minha gente
que eu tinha levado... a o home que foi comigo (o pistoleiro) disse
que se eu cortasse um pinheiro, ele tinha que atirar no genro do home
antes (Entrevista concedida por Altamir Borges dos Santos in Jorge e
Martins, 2010: 100-101).
O Sr. Altamir, no primeiro caso, foi ameaado por JP, em um local cerca
de 10 km de sua moradia (em Irati, sem especicar se zona rural ou urbana).
Este terreno foi vendido para Bastio Z., que manteve as ameaas pessoais,
adicionando a de priso. No terceiro caso, foi agressivamente ameaado por
um herdeiro da pessoa que se dizia proprietria da terra. O que transparece na
memria do Sr. Altamir o alto grau de subordinao ao chefe. Juntamente
com companheiros, foi designado para tarefas em lugares desconhecidos e/ou
submetido a situaes nas quais no possua nenhum controle ou conhecimento
do que estava em questo (tendo que desconar), sofrendo por isso ameaas
fsicas, correndo o risco de ser preso ou assassinado. Da mesma forma que
no lhe foram esclarecidas as condies da madeira onde trabalharia (era
uma terra enguiada) tambm no lhe foi possvel escolher a atividade, tendo
que cozinhar para um pistoleiro, salientando que outro trabalhador do mato
como ele (estaleirador) j tinha sofrido represlias. Em relao aos potenciais
atos violentos saliento que o temor era bastante real para o perodo, pois
entre as dcadas de 1930 e 1960 ocorreram constantes conitos armados
envolvendo grileiros auxiliados por jagunos contra posseiros, caboclos e
colonos, violncia que teve auge na dcada de 1950, perodo no qual a fora
policial estadual esteve mobilizada exclusivamente a servio das grandes
questes de terra (Westphalen et al., 1968: 39 negrito meu) que ocorreram
principalmente na frente de expanso colonizadora, isto , nas principais
zonas de atuao das serrarias.
Esta conjuntura nos levou hiptese de que entre as ocupaes possveis
para o perodo, ser empregado nas atividades do barraco e no ptio era
algo almejado para a populao sem acesso terra e a seus recursos. Ter
um trabalho xo no ptio ou barraco e residir na sua vila operria era
uma ambio dos pees-operrios, fato alicerado em inferncias concretas:
inexistncia de direitos trabalhistas ou organizaes sindicais, e recorrente
violncia no campo quando se refere a disputa por terra (isto , autonomia).
Nossa tese de que trabalhadores como o Sr. Lioncio, ou o pai da Sra.
Rosana estavam em uma situao prxima a dos Srs. Joo Bonm, Eurides
ou Sr. Altamir, que a queda de uma para outra posio era um risco grande,
podendo se chegar a ela devido a circunstncias fora de seu controle
como perda de emprego, inovaes tecnolgicas, excesso de mo de obra,
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
276
problemas de sade, etc., pois no h barreiras entre a sociedade e suas
margens (Castel, 2009: 133).
Os trabalhadores que viviam exclusivamente do assalariamento estavam
em uma situao difcil que somente se aprofundava devido aos fatores
supracitados (fechamento da frente pioneira, privatizao da terra e recursos
naturais) bem como ao uso crescente de implementos e mquinas na agricultura
e extrativismo: a possibilidade de car sem trabalho, algo desconhecido at
ento, congurando o que Castel (2009) chamou de novo pauperismo,
gerado,
segundo o autor, por uma nova forma capitalista de organizar a produo. O
acesso aos bens materiais e no materiais ofertados queles que residiam nas
vilas funcionava tambm como uma barreira a processos de excluso social.
Dentre estes bens imateriais, alm da proximidade com infraestruturas sociais
como capelas, comrcio, j citados, um de grande relevncia se refere ideia
de que apenas os melhores pees-operrios eram convidados para as vilas.
Este convite, acreditamos, funcionava como uma credencial que distinguia
positivamente o trabalhador caso tivesse (por iniciativa prpria ou no) que
buscar empregos em outros lugares, hiptese que se torna mais provvel se
lembrarmos que as maiores empresas do setor industrial madeireiro estavam
articuladas via seus administradores e scios. Ser egresso de uma vila operria
distinguia o assalariado em busca de trabalho.
No caso da marcha das serrarias (da colonizao), defendo a hiptese de
que constantemente se produziam trabalhadores da serraria (pees-operrios),
sendo que para tanto era fundamental impossibilitar o acesso direto do
trabalhador a seus meios de produo, o que era garantido pela privatizao da
terra e seus recursos (efetuada pelas colonizadoras e setor industrial madeireiro
por intermdio de suas articulaes com o Estado). Este processo produziu
pees-operrios, sendo que os operrios-locatrios ocuparam a posio de
aristocracia da pobreza (ou aristocracia da misria nos termos de Castel).
Subsdios para uma sociologia da propriedade
Retomando os depoimentos de trabalhadores das serrarias acima
desenvolvidos, utilizamos as contribuies de Robert Castel para analisar a
busca dos trabalhadores por situaes mais seguras. Pretendo demonstrar quais
as estratgias utilizadas pelos pees-operrios ou camponeses pobres para
assegurar um espao onde podiam contar com laos de solidariedade, proteo
social e moral, evitando o que ocorreu com os trabalhadores das obrages
ou situaes limites, como as narradas pelos Srs. Altamir e Jos Rodrigues
que, afastados de suas regies de origem, com o passar do tempo e aumento
das distncias, tinham seus pertencimentos comunitrios fragilizados e,
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
277
posteriormente, rompidos, ocorrendo o mesmo com seus suportes relacionais.
Seguindo esta linha de raciocnio, legtimo supor que para os mensus e
toreros, em gradaes diferentes, a possibilidade de cair no limbo era algo
palpvel, pois era o que ocorreria caso se tornassem, momentaneamente ou
indenidamente, incapazes para o trabalho (considerando que podiam estar
longe de suas comunidades).
Analisando as memrias destes trabalhadores, possvel perceber
processos de marginalizao de contingentes relevantes da populao rural
do estado, com o risco iminente da misria ou do trabalho em condies
degradantes. Neste sentido, ao referir-se ao trabalhador rural sem acesso aos
meios de produo, Castel arma que os operrios agrcolas so os mais
pobres dentre os trabalhadores rurais, sendo que pelo menos no campo, o
recurso condio de assalariado revela sempre um estado muito precrio e,
quanto mais assalariado, mais carente (2009: 192). Como percebemos das
entrevistas, os toreros eram os que tinham maior grau de assalariamento, pois
no recebiam outras contrapartidas no monetrias pelo seu trabalho (por
exemplo, moradia com a qual os proprietrios de serrarias obsequiavam os
empregados que trabalhavam nas suas plantas industriais, ou seja, no ptio
ou barraco nos termos denidos acima). Esta realidade tambm retratada
nos dois depoimentos abaixo. O primeiro, fornecido pelo senhor Eugnio, que
trabalhou nas serrarias por quase duas dcadas:
Na primeira serraria que trabalhei, l na serraria do Gato Preto, s
trabalhava ns, gente ali do lugar, brasileiro; trabalhava de dia e
noite fazia ampliao da serraria o aumento dos barraces (...)
Onde eu morava [antes de ingressar na serraria], pra l das Porteiras,
onde hoje Apiaba, trabalhava na roa, era pouca terra; da a
turma comearam a corta pinheiro l no incio da dcada de 1960;
trabalhei duas semanas l, a o chefe falou que ia fazer uma casa
na serraria pra mim e que no era pra ir embora sem tomar uma
pinga no bar do seu Laroca. Comeamos no sbado cedo e domingo
tava feito o rancho. Era pequeno, tinha quatro peas. S faltava o
fogo a lenha. No outro dia j mudei pro rancho do lado da serraria. O
meu ranchinho velho vendi pro meu compadre; vendi por cem mil ris
e meio saco de feijo; naquele tempo era dinheiro. Fiz o assoalho de
costaneira farquejada, mas costaneira de polegada. O forro tambm,
costaneira de polegada, os p direito de pinheiro. O fogo a lenha
z de uma chapa de ferro (...) Na poca no pagava aluguel,
mais depois de algum tempo, passou-se a cobrar um aluguel bem
baratinho; veio mais tarde a luz, e lenha tinha a vontade, trazia
os restos que no servia para a serraria; s tinha fogo a lenha.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
278
Era bom mora l, bom de fato. Morei vinte e dois anos l; nosso
horrio era sbado at o meio dia, mais s vezes era preciso
trabalha fora do horrio, mais era bom porque sempre ganhava
gorjeta. Quando no trabalhava na serraria no nal de semana,
trabalhava pros outros, sempre tinha servio, voc sabe, construir
casa. A minha casa era a 18, e tinha mais, acho que tinha 24 e mais
umas l pro lado de cima da serraria. L tinha (e ainda tem), uma
igreja catlica, e tinha festa todo ano com procisso, celebrao
durante toda a quaresma. Eu fazia qualquer servio conforme me
mandavam (Entrevista com Sr. Eugnio Sawczuk in Jorge e Martins,
2010: 108-109 negritos meus).
Da conjugao das memrias de Sra. Rosana e dos Srs. Joo Bonm,
Eugnio Sawczuk salientamos os seguintes aspectos: 1) o trabalho nas
serrarias deveu-se impossibilidade de manter a famlia exclusivamente
com os recursos da explorao da terra (pequena propriedade ou pequena
posse), caso da famlia de Sra. Rosana e Sr. Eugnio W.; 2) os pees-
operrios locatrios tinham que colaborar na construo/manuteno de
suas casas e, por vezes, pagar aluguel; 3) aspectos da sociabilidade ldica,
religiosa ocorriam dentro dos limites da vila operria (nas capelas, jogos
de bola, bailes, etc., propiciadas quer pela empresa ou pela concentrao
populacional ali existente); 4) a busca por instalar-se nas vilas das serrarias
(memoradas como um bom lugar para se morar que Sra. Rosana armou,
porm, ser iluso de criana) deve ser comparada memria dos outros dois
trabalhadores acima, que se referiram situao daqueles que trabalhavam
nas atividades desenvolvidas no mato, salientando-se, no obstante, que os
trabalhadores do ptio e do barraco regularmente buscavam complemento
de renda fora da serraria (atividade que deveria car em segundo plano caso
recebesse um chamado da serraria). A comparao entre a vida e relaes
de trabalho entre os do ptio ou barraco e os do mato eram claramente
vantajosas para os primeiros: os primeiros, por pees-locatrios, cozinhavam
em cozinha sobre uma chapa (uma folha de ferro, isto , um fogo rstico)
dentro de uma casa de madeira, ou diretamente sobre varas verdes em uma
barraca; os primeiros podiam trabalhar por dcadas em um mesmo local,
os toreros mudavam constantemente, sujeitando-se a situaes perigosas,
decorrentes da natureza (animais peonhentos, feras) ou de disputas das
madeireiras entre si ou com outros pretensos proprietrios em torno de quem
era o legtimo proprietrio da terra (como veremos abaixo), que poderiam
resultar em enfrentamentos diretos e potencialmente agressivos com pees-
operrios, como se explicita dos processos crime envolvendo atentados e
ameaas contra vigias das cancelas das estradas da Zattar que impediam o
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
279
livre trnsito de desafetos ou adversrios da empresa
29
.
Ao priorizarmos argumentos referentes situao inspita dos trabalhadores
do mato em relao aos moradores das vilas operrias, no se pretende negar
o fascnio que a Zattarlndia (e outras vilas homlogas) exerciam sobre
aspirantes a operrios-locatrios em geral; o que armamos que, para alguns,
o desejo de ali morar era mais urgente. Como vimos, estas vilas concentravam
infraestruturas sociais inexistentes no meio rural: atendimento mdico (mesmo
particular), farmcia, comrcio, acesso facilitado a transporte, etc. Tudo isto
se vinculava ideia de desenvolvimento, modernidade, melhores condies
de vida, etc. Tal infraestrutura (indissociada de suas signicaes) foi um
importante elemento de atrao para potenciais pees-locatrios:
E da tinha o pessoal do quadro do Zattar l, s fazia compra na
quinzena. Era dia de quinzena, era s a populao deles ali, pro
armazm. E faziam aquela comprarada que. E bastante gente, no
era pouca gente. Da no sbado era s o pessoal do interior, dizia
a turma do mato. Era da turma do mato. E aqueles caixeiros ali,
se viam amarelo pra atender tudo aquele pessoal ali. Porque da
eles no compravam s, s mercadoria, s comida vamos supor.
Eles compravam roupa, compravam calado, compravam forro de
cama. Era muito, muito divertido l, muito bonito que era (...) eles
[familiares do proprietrio] traziam de l, pois era de l de Curitiba,
traziam a roupa que eles traziam e s usavam quando eles tavam ali
n. Passava dali eles no usavam mais. Da eles pegavam e deixavam
tudo l. Pra minha tia, roupa de cama, forro, tudo. Da ela pegava e,
da minha me ia trabalhar pra ela, ela pegava e dava pra ns ()
Outra vez [quando voltavam de Curitiba] traziam tudo novo de novo.
Da ali que a gente foi conhecer fogo a gs, instalao sanitria, tv
nem l no tinha, o meio de comunicao do Zattar com o pessoal de
Curitiba era com rdio amador. Era bem, era sofrido mas era divertido
(Rosana, entrevista in Ayoub, 2011: 47-51).
Desta memria percebemos o surgimento de novos padres de consumo
tidos como bonitos, novos, engendrando sonhos em uma menina (ou
nos desejos de outras famlias de posseiros que no eram pees-operrios,
inuenciados, dentre outros motivos, pela concentrao populacional na
Zattarlndia). Parte da populao rural dirigia-se em peso vila para realizar
29
A partir de levantamento por mim realizado no acervo do Centro de Documentao da
UNICENTRO encontramos dois processos envolvendo vigias das estradas da empresa. Os
relatrios produzidos pelos tcnicos do ITCG em projeto de regularizao fundiria no ano de
1994 referem-se tambm a conitos deste tipo.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
280
compras de produtos diversos, inclusive comida, o que explicita o alto grau de
dependncia de muitas famlias em relao empresa. Inclusive em relao
garantia de oferta de lojas de comrcio novas possibilidades de consumo;
acesso, mesmo que condicionado s relaes com a empresa, a farmcia,
mdico. Novidades que inseriam a comunidade na modernidade pela seduo
de produtos e hbitos. Lembramos que novos hbitos de consumo levam,
necessariamente, a novas relaes com o mercado e de trabalho, visto que
recursos nanceiros se fazem mais necessrios. A entrevistada tambm relata
a impresso causada pela famlia ser presenteada por roupas e forros de
cama utilizados apenas uma vez pela famlia do dirigente-proprietrio o que
explicita, simultaneamente, a ideia de presente (favor), fartura e desperdcio.
Todas estas caractersticas contriburam, segundo acredito, para a vinculao
entre o trabalho memorado como sofrido, mas bom. O fascnio por novos
hbitos de consumo, a atrao pelo moderno, a possibilidade de manter-se
nas proximidades de comunidades de origem, nas quais estavam seus suportes
relacionais
30
eram elementos slidos para optar-se pelo emprego nas serrarias
como peo-operrio, em particular como operrio-locatrio. Esta reexo
importante para compreendermos as estratgias de reproduo social, de
busca por manuteno de condies de vida destes e outros trabalhadores que
optaram por se empregar em vilas operrias em situaes similares no Paran.
Para analisarmos de forma mais aprofundada o que esteve em jogo por estes
indivduos ao optarem pelo emprego (ou no) nessas empresas e residncia
nessas vilas, retomaremos algumas reexes sobre a relao das escolhas com
o signicado de propriedade fundiria.
A propriedade social de Robert Castel como subsdio para a
construo social da propriedade fundiria
Acredito que, no caso aqui estudado, o Sr. Lioncio e o pai da Sra. Rosana
em um ponto, e os Srs. Eugenio e Altamir em outro, todos situados dentro da
aristocracia da misria, estiveram prestes a tornarem-se supranumerrios
situao que no aceitavam sem reagir: recusando ser exclusivamente operrio-
peo ou ameaando romper a relao de dependncia. Este era o campo de
disputa das lutas simblicas entre pees-operrios e patres-senhorios, verso
paranaense daquilo que foi constatado por Srgio Lopes, onde o empreendedor
moderno era o empresrio-da-casa-grande, sendo que aqui era o herdeiro, no
plano poltico, econmico e simblico da elite campeira
31
.
30
Conceito supracitado desenvolvido por Castel (2009).
31
Termo utilizado por historiadores paranaenses para referir-se elite formada por grandes
proprietrios de terra que dominavam as relaes polticas e econmicas nas regies dos Campos
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
281
Como esperamos ter deixado claro, os camponeses paranaenses (que,
para a regio de Pinho, esto retratados acima) paulatinamente tornaram-
se proletrios no sentido exato do termo. Como vimos, o acesso a recursos
naturais foi sendo obstaculizado, a frente pioneira extinguiu-se. A alternativa
que restava, que se aprofundou com o passar dos anos, foi empregar-se como
assalariado para algum que detivesse capital.
Em sua obra As metamorfoses da questo social, Robert Castel historicizou
o surgimento do assalariamento, isto , da separao total entre o trabalhador
e seus meios de subsistncia, demonstrando a criao de uma nova ordem
social, caracterizada por uma nova organizao da produo, na qual a:
nica forma social que pode assumir o direito de viver, para os
trabalhadores o direito ao trabalho. o homlogo do direito de
propriedade para os abastados. (...) Atrs do direito ao trabalho, h
o poder sobre o capital, atrs do poder sobre o capital, h a apropriao
dos meios de produo, sua subordinao classe trabalhadora
organizada, isto , a supresso da condio de assalariado, do capital
e de suas relaes recprocas (em itlico Karl Marx, apud Castel,
2009: 350 destaques meus).
Esta reexo faz parte do estudo sociolgico de Castel sobre as lutas e
intensos debates (particularmente a partir da ltima dcada do sculo XIX) em
torno das ideias de assistncia e de um seguro pago pelos trabalhadores
para sobreviver em tempos difceis, em que no pudessem trabalhar por
um perodo (em situao de desemprego temporrio, doenas, etc.) ou
denitivamente (pela idade, acidentes que impossibilitassem o exerccio do
trabalho, etc.). A tese vitoriosa foi a do seguro que, sob inuncia das lutas
sociais, com o passar dos anos sofreu diversas transformaes. Inicialmente,
o que existiu foram fundos integrando patres e empregados (geridos pelos
primeiros), substitudos por outros geridos exclusivamente pelas organizaes
de trabalhadores. Passadas algumas dcadas, esses fundos obtiveram uma cota
de recursos estatais. Este ltimo passo conferiu diversas novas tecnologias,
pois houve um avano considervel da proposta inicial, deixou-se de atender
apenas os desvalidos, para transformar-se em diversas polticas de apoio aos
que viviam exclusivamente do trabalho: aposentadoria, previdncia, direitos
trabalhistas que, enm, signicavam a diviso de parte da riqueza gerada
pelo capital entre os empresrios e os trabalhadores, o que passou tambm
a no depender do arbtrio do assalariado ou do patro, visto que se tornou
obrigatrio. Segundo Castel, este processo, alm de promover uma proteo
de Guarapuava e Castro entre o nal do XIX e primeiras dcadas do sculo XX.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
282
at ento indita aos trabalhadores, fez surgir uma nova funo do Estado, de
uma nova forma de direito e de uma nova concepo de propriedade (Castel,
2009: 372-374): a propriedade social, que, por assegurar maior equilbrio
entre as classes, tambm uma sustentao suplementar da propriedade
privada.
A hiptese que construmos que o contexto por ns estudado tem
na tese desenvolvida por Castel um importante instrumento de anlise. A
criao da infraestrutura ofertada pelas plantas industriais rurais, que exigiam
a criao das vilas operrias, acabava tambm vinculada necessidade de
oferta de outras estruturas sociais (farmcia, comrcio, atendimento mdico,
transporte, estradas todas, salientamos, presentes na Zattarlndia)
32
. Tais
benefcios seriam a face paranaense (ou mesmo brasileira, se consideramos o
estudo de Sergio Leite Lopes) do perodo no qual a assistncia ofertada como
contrapartida para os trabalhadores que viviam de salrio na Europa estudada
por Castel era feito com a participao dos patres. Embora os casos no
correspondam exatamente, existem homologias
33
, o que torna possvel uma
interpretao mais aprofundada do contexto por ns estudado.
Da propriedade social a uma sociologia da propriedade
Para compreendermos a formao da propriedade fundiria, retomamos
o artigo Para uma teoria sociolgica da Propriedade Fundiria, de Pedro
Hespanha, pesquisador da Universidade de Coimbra. O autor inicia o artigo
criticando a falta de pesquisas sociolgicas acerca da institucionalizao da
propriedade fundiria privada, em particular em economias semiperifricas
como Portugal. Hespanha salienta a exiguidade de estudos abordando a
institucionalizao da propriedade privada em sistemas sociais nos quais
ela uma instituio relativamente estranha
34
, o que ocorreu em sociedades
caracterizadas por uma economia semiperifrica, como Portugal (em relao
a economias centrais, como Inglaterra, Alemanha e Frana). Esta constatao
tem papel central no desenvolvimento do artigo, visando salientar possveis
32
Embora estas estruturas pudessem ser de outros indivduos que no os proprietrios das
serrarias, o inverso poderia ocorrer (como o caso Esguari/Sgurio supracitado), sendo que,
mesmos nos casos de proprietrios externos das serrarias, deveriam manter com estas boas
relaes, pois dependiam de autorizaes e outras facilidades para se instarem e funcionarem
adequadamente.
33
Um exemplo desta situao pode ser encontrado no tipo de indstria retratado por Vitor Hugo
em Os Miserveis, no qual trabalhadores de minas de carvo do sculo XIX residiam em grandes
vilas operrias de propriedade dos patres, sendo que nessas vilas tambm existiam mdicos a
soldo dos patres que atendiam os empregados.
34
Esta estranheza est presente, como demonstramos acima, na passagem da frente pioneira
a frente de expanso, e na consolidao desta (1920-1960).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
283
singularidades de economias como a de Portugal constatao que serve
tambm para nosso estudo.
O trabalho de Hespanha fruto de um projeto mais amplo, que envolveu
pesquisadores de vrias reas da academia em torno do campesinato
portugus da regio do Baixo Mondego. A partir desta pesquisa, o autor
constatou que estes camponeses possuam diferentes perspectivas em
relao propriedade fundiria. A pesquisa abordou as concepes de
propriedade entre os camponeses a partir da instaurao do que chamou
de Estado Providncia. Ao analisar a institucionalizao do Estado
Providncia, Hespanha considera que este, ao menos em parte, substituiu
o mercado em funes como distribuies de recursos, polticas de
consumo, investimento social, etc. Estas polticas criaram sistemas
sociais que se mostraram mais ecazes que a propriedade para assegurar o
rendimento a quem no pode trabalhar. Paralelamente interveno nestas
reas (que englobam polticas de consumo e garantias de servios pblicos
e previdncia, por exemplo), foi aprovada uma legislao trabalhista que
garantia uma maior segurana no emprego e uma maior estabilidade
de rendimentos para quem no pode trabalhar
35
. Esse conjunto de
polticas atraiu parte dos pequenos proprietrios a relaes empregatcias
(assalariamento), em detrimento de estratgias pautadas na posse de
bens materiais. A opo por tornarem-se empregados deveu-se ao fato
de que os benefcios garantidos pela pequena propriedade mostraram-se
irrisrios mediante a instituio das regulamentaes que propiciavam
melhor insero e segurana socioeconmica para os que viviam do trabalho.
Estas polticas equivaliam construo de uma nova propriedade
36
nos
termos do autor. Porm, com a crise econmica desencadeada na dcada
de setenta, ocorreu o aumento da insegurana social marcada pelo
desmonte das garantias dadas pelo Estado Providncia, equivale dizer, do
desmonte da nova propriedade. O desdobramento direto do desmonte
destas funes estatais foi o ressurgimento da ideia da propriedade
individual como um instrumento de liberdade que, no obstante suas
contradies, levou pequenos proprietrios a perceberem na manuteno
de sua propriedade a possibilidade de reproduo social da famlia ou
35
No caso da formao da estrutura e propriedade fundiria no Centro-Sul do Paran
demonstraremos que houve algo similar: o acesso livre a terra e/ou a seus frutos foi sendo
cerceado pela frente pioneira que instalou um novo regime de uso pelos colonos ou pelo
latifndio institudo pela modernizao conservadora. O que h de similar (mas no de idntico)
com a situao descrita por Hespanha a instituio de uma nova forma de propriedade e a
possibilidade de inserir-se socialmente em relaes de trabalho como proletrio, fato que no
se dissocia da busca de melhores condies de vida nesta nova situao.
36
Embora Hespanha utilize-se do mesmo termo que Castel, no h nos textos de ambos
referncias recprocas.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
284
das instituies locais, do iderio de uma vida mais solidria, prxima
natureza (cf. Hespanha, 1992: 121-122). Esta viso de mundo foi
articulada em um perodo de incertezas quanto s garantias de previdncia
estatal (para sua velhice) e/ou empregos disponveis aos lhos. O autor
salienta que as novas estratgias de manuteno e reproduo social foram
produzidas dentro de um habitus fundirio composto por crenas e
valores que orientam as decises destes camponeses. No h, de forma
explcita, diferenciao entre as bases materiais da busca/manuteno
da propriedade e suas signicaes e dimenses simblicas
37
que
somente podem ser compreendidas a luz da heterogeneidade dos diversos
espaos de regulao social, como o Estado, mercado e comunidade
38
. A
discusso sobre a signicao de propriedade por Hespanha e seu conceito
de nova propriedade, em seu movimento pendular na busca de melhores
condies de vida, dialoga com o conceito de propriedade social de
Castel. Ao propormos este dilogo, procuramos entender quais eram as
expectativas de pees-operrios em suas diversas condies, seja como
aristocracia da pobreza (o Sr. Eurides Starchechem na Zattar e Srs. Lioncio
e Bomm, por terem se tornado, em algum momento, operrios-locatrios)
e/ou aqueles que estavam no limiar se tornarem-se supranumerrios
(como o Srs. Altamir e Eugenio como trabalhadores do mato).
Os conceitos de propriedade social e nova propriedade so
extremamente teis para analisarmos a realidade acima descrita. Famlias
camponesas como da Sra. Rosana, que praticamente tinham uma chacrinha
podiam ser seduzidas a tornarem-se operrios-pees locatrios. O trnsito de
uma situao para outra estaria ligado aos mesmos clculos identicados por
Hespanha onde o habitus fundirio teria um grande peso, visto que as famlias
continuariam residindo na zona rural. Devemos lembrar que a alternativa da
migrao para regies de terras livres (frente de expanso ou frente pioneira)
no era mais possvel na dcada de sessenta. Este fato, somando ao grande
nmero de conitos fundirios no Estado nesta dcada, fazia que o trabalho
em plantas industriais como a Zattarlndia fossem sedutores. A segurana
ofertada pelo assalariamento e moradia se compararia situao investigada
37
Esta separao discursivamente explcita muitas vezes no estava presente na conscincia
dos pesquisados sendo produzida pelo pesquisador (Hespanha, 1992: 123). A discusso sobre
normas de direito de uso comum e direito judicirio tem ganhado progressivamente notoriedade
no Brasil na ltima dcada, fornecendo uma nova forma de interpretar e intervir em conitos
de terra envolvendo povos e comunidades tradicionais que, salientamos, esto presentes
na regio estudada (povos indgenas Guarani e Kaingang e quilombolas, em Guarapuava, e
faxinalenses por toda a regio, em particular em Pinho). Fonte: Mapa ITCG Cartograa Social e
Educao.
38
Hespanha apud Santos, 1988: 25. Contextualizao ainda mais necessria para uma regio
como a estudada, onde existem povos indgenas, comunidades quilombolas e faxinalenses,
assentamentos e acampamentos da reforma agrria.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
285
por Castel, onde os empregadores dividiram com empregados estruturas
de assistncia para assegurar tanto a garantia de acesso ao trabalho (por
parte dos trabalhadores) como a xao da mo de obra (por parte dos
empregadores). Entendemos que a oferta de moradias, estruturas pblicas
como igreja, farmcia, etc., forneciam maior segurana e bem-estar aos
trabalhadores. No obstante, como deixamos claro, tais estruturas foram
construdas com a participao do trabalhador que deveria, em alguns casos,
contribuir com sua mo de obra para construo das casas e, em outros, pagar
aluguel decorrido algum tempo de moradia. Havia, portanto, uma diviso
entre patro e empregados das estruturas de segurana social, salientando-
se que casas, igrejas, farmcias, etc., eram de propriedade dos patres,
assim como os terrenos onde se localizavam. Este fato digno de nota, pois
explicita uma concentrao de poder enorme nas mos do patro-locatrio,
que podia apropriar-se a qualquer momento de moradias construdas com
a mo de obra dos empregados e/ou pagamento de aluguis, caso o peo-
operrio locatrio fosse demitido.
De forma anloga a Hespanha, demonstra-se que estruturas de Estado,
mercado e comunidade tambm determinavam as escolhas dos camponeses
de Pinho. Os camponeses faziam suas escolhas dentro de uma conjuntura
de rpidas mudanas, buscando manterem-se prximos a seus laos de
pertencimento e segurana, algo que pode ser analisado como tentativa de
reproduzir seu habitus.
Retomando nossa reviso bibliogrca, podemos constatar que
a dominao poltica expressava-se na presena de proprietrios e
administradores de empresas madeireiras em diversos cargos estatais. A
opo de colonizar o territrio estadual mediante concesso de terras
para grandes empresas expressa, tambm, restries ocupao pela
posse, privilegiando a acumulao capitalista. Como demonstramos acima,
as colonizadoras estavam associadas ao setor industrial madeireiro. O
extrativismo madeireiro era um dos maiores negcios do estado, sendo que
tambm era essencial a derrubada da mata para instalao de colonos e
suas lavouras. O estabelecimento das concesses de terras pblicas para
grandes mobilirias estabeleceu que a terra somente poderia ser adquirida
via compra, limitando as possibilidades de reproduo social do campesinato
ao mercado (compra de terra). Eis aqui o Estado e o mercado como fatores
determinantes para compreenso da reproduo social do campesinato.
Referindo-se ainda ao mercado, em particular as relaes de consumo dos
pees-operrios, retomamos as reexes acima sobre o uso do bor como
forma de dominao.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
286
Disputas pela propriedade fundiria e propriedade social
Como apontamos acima, as disputas sobre a propriedade fundiria no
envolveram apenas camponeses com e sem terra de um lado e grandes
proprietrios de outro, fato que revela que a conquista jurdica da terra no
foi tranquila para a Zattar. Fato este que deve ser ressaltado, mas que no
constituiu uma particularidade de Pinho no perodo, como demonstram
diversos estudos acadmicos sobre a marcha das colonizadoras entre 1930
e 1960. Pelo contrrio, tais estudos retratam vrios conitos opondo
colonizadoras entre si por exemplo, do grupo empresarial que tinha como
scio o ento governador Affonso Camargo x grandes empresrios paulistas na
dcada de 1920; da Colonizadora Norte do Paran (CNP, do Grupo Martinez)
x as colonizadoras CITLA e Comercial (do Grupo Lupion) no Sudoeste e Oeste
paranaense na dcada de 1940-1950. Salientamos que nos casos citados,
segundo a bibliograa, tambm foram recorrentes violentos conitos das
empresas com camponeses, sendo relatada a presena de milcias armadas,
agresses fsicas, etc.
39
.
Dcada de 1990: Novos personagens entram em cena
Os conitos fundirios em Pinho envolvendo a Zattar adquiriram aspectos
dramticos no incio dos anos noventa. Para sua anlise nos utilizamos do
relatrio nal da Comisso de Investigao da Assembleia Legislativa do
Paran, criada para Investigar os Conitos de Terra de Pinho em 1991
40
.
Nestas fontes encontramos relatos sobre: ameaas e agresses fsicas;
tentativas de assassinato; queima de casas e colheitas; roubo de colheitas e
produtos extrativos (erva-mate e madeira), impedimento de plantio. Embora
a documentao consultada no aprofunde a questo, a mesma reconhece
que os conitos so bem anteriores aos anos noventa. A mesma constatao
foi feita por Ayoub (2011), que arma a recorrncia do uso de jagunos nas
disputas por terra em Pinho, na dcada de 1970, envolvendo a empresa Joo
Jos Zattar S.A.
No que se refere dcada de noventa, o quadro era novo em vrios
aspectos, sendo o principal a formao de movimentos sociais organizados em
39
Em relao a Affonso Camargo, consultar Wachowicz; para a CNP, consultar Gomes, 1987;
Crestani, 2011; Westphalen et. al., 1968.
40
Outras fontes produzidas por diferentes agentes estatais foram: o Relatrio do Ministrio
Pblico Estadual sobre os Conitos de Pinho; Relatrio do Programa Especial de Regularizao
Fundiria de Pinho do Instituto Ambiental do Paran (ELEPIO-IAP). Estas fontes sero
analisadas em nossa dissertao.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
287
torno da luta pela terra, gestados na dcada anterior no Paran. O surgimento
de tais movimentos estava intimamente ligado a dois fatores. O primeiro, de
cunho econmico, somou as consequncias da modernizao conservadora
com a grave crise econmica brasileira surgida na segunda dcada de setenta e
que se agravou na dcada seguinte. A modernizao conservadora aprofundou
ainda mais as relaes capitalistas no campo, a partir do uso progressivamente
intenso de implementos e insumos agrcolas (mquinas, adubos, fertilizantes,
agrotxicos, etc.), diminuindo consideravelmente os postos de trabalho.
Paralelamente, o mesmo processo estava articulado ao aumento da
nanceirizao da produo e exigncia de altos nveis de produtividade.
Colheitas fracas, endividamento e altos juros levaram milhares de pequenas
propriedades a serem incorporadas por grandes proprietrios. O segundo
fator esteve relacionado a aspectos polticos: o perodo da redemocratizao
oportunizava, mesmo que com receios de represso, a mobilizao popular
em movimentos sociais (ambientais, de luta pela terra, moradia), sindicatos,
etc
41
. Os conitos ocorridos em Pinho no incio da dcada de noventa so
fruto deste contexto, pois ali houve inuncia da CPT (Comisso Pastoral da
Terra) e MST, conforme constatou Ayoub (2011).
Em relao Comisso Especial criada na Assembleia Legislativa para
investigar os conitos de Pinho, merece destaque uma importante reexo
inicial: sua mera convocao e existncia expressa o alto grau de legitimidade
social e poltica construda pelo movimento de posseiros. Salientamos este
fato porque, como nos referimos acima, os conitos j existiam h dcadas,
porm, o dilogo com o governo com este nvel de reconhecimento ainda era
indito. O ofcio foi encaminhado ao Secretrio de Segurana pelo Prefeito de
Pinho e outros cidados representativos. Assinaram o documento entidades
do municpio (Comisso dos Acampados de Faxinal dos Silvrios; presidente da
AFATRUP; Presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais) e regio (chefe do
Escritrio Regional do ITCF); dois padres que dirigiam a Parquia de Pinho;
coordenadores regional e estadual da CPT e o Bispo de Guarapuava
42
. Merece
destaque o fato de articularem-se entidades poderosas, em particular, no que
se refere assinatura do Bispo, do prefeito e do ITCF isto , dois nveis do
poder executivo (regional e estadual), e importantes representaes da Igreja
Catlica (a CPT e um Bispo).
41
No que se refere ao Paran, destacam-se a formao de diversos movimentos sociais de luta
pela terra (MASTER, MASTEL, MASTRO) que, por sua vez, fundaram o MST em 1985, em Cascavel e
nas regies sul, sudoeste e oeste paranaense isto , nas vizinhanas do Centro-Sul do Paran,
regio onde se localiza Pinho (Ferreira, 1987).
42
ITCF, Instituto de Terras, Cartograa e Florestas, era a denominao do Instituto de Terras,
Cartograa e Geocincias, ITCG, rgo estatal de terras. Uma das cpias originais (devido ao fato
de vrias instituies estarem envolvidas, cada uma recebia uma cpia do ofcio a ser enviado)
encontra-se no acervo documental do ITCG.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
288
O relatrio nal da CEI apresentado pela deputada Emlia Belinatti, foi
produzido a partir de diversas fontes (depoimentos concedidos em visita a
Pinho pela Comisso; depoimentos prestados na Assembleia Legislativa em
Curitiba; relatrios produzidos pelo Ministrio Pblico Estadual). Dentre as
pessoas ouvidas estiveram posseiros, o delegado de polcia de Pinho, dirigentes
e proprietrios da Zattar, tcnicos do ITCF, pessoas que compraram madeira dos
posseiros e/ou sem terras. Dentre os relatos colhidos e citados no relatrio
nal da CEI, trazemos os que se referem explicitamente a disputas por terra e
madeira. Em relao a conitos em torno de madeira, a CEI identica diversos
casos, sendo que, por vezes, at compradores que no estavam envolvidos nas
disputas acabaram sendo feridos a bala e/ou ameaados por homens armados,
como ocorreu em Faxinal dos Ribeiros em 07.10.1991. Ou como aponta o
depoimento de um proprietrio que narra o ocorrido em 27.10.1991, quando
diversas cargas de palanques que havia comprado de outras pessoas
foram retiradas por uns 20 jagunos do Zattar. Ainda segundo o relatado por
Emlia Belinatti o proprietrio citado armou que, no dia do ocorrido, um
dos donos da rma disse Autoridade aqui somos ns. No tem prefeito, no
tem promotor, no tem juiz, no tem delegado. Aqui quem manda somos ns.
Este mesmo proprietrio, apesar do prejuzo material e agresso psicolgica
que sofreu (pela entrada de homens armados em sua propriedade) armou que
no havia feito denncia na Polcia sobre o acontecido.
Tendo como referncia outros documentos ociais e reportagens de jornais
de circulao estadual e nacional
43
, acreditamos que ambos os casos explicitam
um lodaal de irregularidades e/ou ilegalidades em relao a aquisio de
madeira nas reas em disputa. Por um lado, o proprietrio arma que foi
roubado (pois alm do furto havia pessoas armadas), mas tambm arma que
no fez denncia polcia, como esperado em uma situao destas. A empresa,
por sua vez, no se utilizou da fora policial para fazer valer seus direitos,
pelo contrrio, usou milcia particular dias depois que outra pessoa envolvida
em compra de madeira foi baleada por seus guardas em localidade prxima.
O que estamos ressaltando que diversos agentes envolvidos disputavam a
legitimidade no que se refere apropriao dos bens materiais. O desequilbrio
no estava propriamente na posse do bem, mas na possibilidade de assegurar
seu uso, de exercer o mando sobre ele. Neste aspecto o poder econmico da
empresa, expresso tanto pelos seus advogados quanto por seu brao armado,
forneciam vantagens ante a seus adversrios, fossem posseiros, sem terras ou
compradores de madeira. Nossa hiptese esta alicerada em depoimento do Sr.
D., delegado de Pinho citado no relatrio da CEI, onde arma que:
43
Reportagens Folha de So Paulo e Gazeta do Povo.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
289
pessoa leiga e declarou que em sede da Comarca esta funo deveria
ser desempenhada por delegado de carreira. Que no tem condies
de zelar pela ordem em razo de dispor apenas de quatro elementos.
Que j prendeu uns 05 ou 06 desses guardas da rma Zattar, por
homicdio. (CEI, 1992)
Segundo o relatrio. as pessoas presas logo eram soltas. O depoimento
do delegado fornece mais um elemento para compreendermos a atitude do
proprietrio que perdeu os palanques. Em uma situao dessas, a balana
do poder est claramente (e em muito) desequilibrada. Alm destes conitos,
trazemos outros dois que so expressivos das relaes de violncia no incio
da dcada de noventa. Segundo a relatora Emlia Belinatti, em 29.10.1991:
Um grupo de pistoleiros (que tm registro funcional de guardas
orestais [na empresa Zattar]) fortemente armado atacou de surpresa
a Escola Rural Municipal Nossa Senhora de Lourdes [localizada na
ocupao Faxinal dos Silvrios], disparando grande quantidade
de tiros. Neste atentado violento, a menor I.F., de 10 anos, que
frequentava a escola, foi atingida com um tiro no p direito, tendo
sido hospitalizada. Que, no mesmo dia, a 600 m de distncia da
escola, o Sr. J., 45 anos, trabalhava em seu roado quando foi
cercado por um grupo de pistoleiros que, com armas muito estranhas,
o colocaram sob a mira de trs delas, (no ouvido, nas costas e no
corao) e o ameaaram de morte, advertindo-o a desocupar a rea
juntamente com outras famlias. (CEI, 1992 - negritos meus).
Ainda segundo o relatrio da CEI, no dia dez do mesmo ms e ano, uma
pessoa havia sido ferida a bala em sua residncia localizada onde o posseiro
tem demanda judicial com a Madeireira Zattar sobre posse da terra, em processo
de usucapio.
No ms seguinte, em 27.11.1991, novos atos de violncia ocorreram
em Faxinal dos Taquaras (localidade prxima s supracitadas). Segundo
depoimento citado no relatrio nal da CEI, nesta data ocorreram ataques a
bala nas residncias de quatro famlias, sendo que trs casas e dois paiis foram
queimados e vrias pessoas foram feridas. Os depoentes destas famlias se
identicaram, o primeiro a ser atacado como posseiro, sendo que o segundo
era seu arrendatrio. As outras duas residncias atacadas foram as do pai e
a do vizinho do arrendatrio. Estes dois ltimos no foram retratados quanto
a sua insero no campo (arrendatrio, posseiro ou proprietrio, acampado,
etc., aparecendo, no obstante, o nome completo). Segundo os depoentes, as
casas e paiis foram atacadas a tiros, uma casa aps a outra, e os pistoleiros
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
290
botaram fogo. Este ataque sequencial obedeceu ao mesmo padro do ataque
escola citado, o que sugere que a estratgia era empurrar os indesejados
para fora do territrio em disputa. No era apenas uma punio ou ameaa
(que poderiam ser feitas em outros lugares, na cidade por exemplo). Como os
depoentes deixaram claro, todos tiveram que fugir para o mato, pois alm
dos tiros, viram os atacantes queimando tudo o que tinham.
A violncia praticada pela guarda orestal da empresa tinha, porm, sua
face dialtica, pois expressava um fato: no era mais possvel manter os laos
de dominao do perodo ureo da Zattarlndia. O poder econmico da empresa
entrara em crise desde a dcada de oitenta, devido a sucessivos fracassos
econmicos expressos em centenas de processos trabalhistas, penhora de bens
da empresa por dvidas no pagas com bancos pblicos e privados, etc. (cf.
Monteiro: 2008). Como vimos, nesta mesma dcada (1980) os movimentos
sociais no campo brasileiro, em particular os de luta pela terra no Paran,
estavam em ascenso. Os posseiros de Pinho, embora com particularidades
sociais e culturais ante aos integrantes do MST (justamente por serem
posseiros antigos, faxinalenses, etc., e no sem terras) conseguiram construir
alianas e estratgias para legitimar ideolgica e politicamente suas aes.
Esta conjuno de fatores pode ser compreendida a partir da tese segundo a
qual tenses e conitos abertos entre os grupos no esto o mais das vezes
onde a desigualdade dos meios de poder de grupos interdependentes muito
grande e incontornvel, mas precisamente onde a situao comea a mudar em
favor dos grupos com menor poder (Elias, 2006: 202). A questo, portanto,
reside no fato de que foi necessrio, alm de atacar um adversrio poderoso,
estabelecer e manter um papel de legitimidade ante as arbitrariedades (isto ,
as aes ilegais e irregulares da Zattar no sentido de expropriar posseiros de
terras e recursos).
A situao de Pinho pode ser vista como uma prvia de um quadro mais
amplo de violncia generalizada contra os movimentos sociais no campo no
Paran na dcada de 1990. Nesta dcada ocorreram conitos envolvendo uma
gama diversicada de unidades de mobilizao como Movimento de Posseiros
de Pinho, MST, CONTAG, MTST, faxinalenses, quilombolas do Paiol de Telha,
entre outros. O aumento da violncia contra os movimentos sociais no campo
motivou a instalao do Tribunal Internacional dos Crimes do Latifndio,
convocado por diversas entidades nacionais e internacionais de defesa dos
direitos humanos como a CPT, CNBB, Rede de Advogados Populares, Amricas
Watch, Mes da Praa de Maio, entre outras. Segundo relatrio do evento, no
Paran, no perodo citado, foram 16 trabalhadores [rurais] assassinados, 31
vtimas de atentados, 47 ameaados de morte, 7 vtimas de tortura, 324 feridos,
488 presos, em 134 aes de despejo. Este quadro de violncia sistemtica
e organizada colocou o Paran, entre os anos de 1996 e 1999, entre os mais
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
291
violentos do Brasil no que se refere a agresses contra camponeses (ocupando
a primeira posio em 1998 Salles e Schwendler, 2006). Embora estes fatos
sejam posteriores ao recorte do presente captulo, consideramos iniciar por eles
estratgico, principalmente levando em conta que nossas fontes documentais
foram produzidas por agentes estatais especialmente indicados para investigar
conitos no campo. Em relao a tal aspecto, destacamos a Comisso Especial
de Investigao da Assembleia Legislativa do Estado: desde seu incio estava
participando e atuou como relatora uma deputada proeminente, que ocupou o
cargo de vice-governadora no mandato seguinte ao que foi deputada. Ou seja,
no mais alto escalo do estado encontravam-se conhecedores dos conitos
fundirios regionais, suas causas e agentes.
Consideraes nais
No presente trabalho, pretendemos construir subsdios para a compreenso
da formao da estrutura fundiria na regio Centro-Sul do Paran, a partir do
embate entre o capital industrial que penetrou no campo ao longo da segunda
metade do sculo XX e a diversidade de atores sociais que compunham a
populao rural na regio. Procuramos tambm compreender como os
signicados da propriedade fundiria variaram no apenas no tempo, mas
tambm no espao, considerando a situao socioeconmica do campons,
seu habitus fundirio.
A compreenso das singularidades do campesinato, porm, no nos tirou
do foco central: a institucionalizao da propriedade fundiria capitalista e
os conitos gerados neste processo. Este ltimo ponto levou-nos a manter
um olhar tambm sobre as estruturas de poder poltico nas quais empresas
como a Zattar sustentavam-se. Nossa inteno era compreender as estratgias
encontradas pelo capital industrial em seu avano, apropriando-se enquanto
frao de classe, de reas signicativas do territrio estadual, em oposio,
particularmente, aos camponeses em sua diversidade. Como esperamos
ter demonstrado, em diferentes momentos da formao social da regio os
representantes desta forma especca de capital utilizaram-se de distintas
estratgias para apropriar-se de terra e trabalho da construo de plantas
industriais modernas (como a Zattarlndia), do bor e do uso da violncia na
apropriao da terra e seus recursos. Seguindo esta linha de desconstruo e
reconstruo do processo social, de um olhar, mesmo que pontual, sobre os
agentes sociais, acreditamos ter contribudo para a compreenso da aliana
entre o arcaico e o moderno na regio, que tem sua imagem na descrio dos
violentos conitos envolvendo a Zattar e seus oponentes no incio da dcada
de 1990.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
292
Referncias bibliogrcas
ABREU, Alcioly Therezinha Gruber de. A posse e o uso da terra: modernizao
agropecuria de Guarapuava. Mestrado, Histria, UFPR, 1981.
AYOUB, D. S. Madeira Sem Lei: jagunos, posseiros e madeireiros em um conito
fundirio no interior do Paran. Mestrado Antropologia Social, UFPR, Curitiba,
2011.
ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO PARAN. Comisso Especial de Investigao da
Assembleia Legislativa do Paran Organizada para Vericar os Conitos
Fundirios no Municpio de Pinho. Relatrio nal apresentado pela Deputada
Emlia Belinatti. Curitiba, 1992.
BRAGA, Julio Cesar. A vila operria da Madeireira Gomes: trabalho, moradia e
dominao Irati (PR) 1950-1985. Revista Tempo, Espao e Linguagem, 2011,
vol.: 2, p.: 68-105.
CASTEL, Robert. As metamorfoses da questo social: uma crnica do trabalho.
Petrpolis, RJ: Vozes, 8 edio, 2009.
CHANG, Man Yu. Sistema Faxinal: uma forma de organizao camponesa em
desagregao no centro sul do Paran. Boletim Tcnico do IAPAR, n. 22, Londrina,
1988.
DEAN, Warren. A Ferro e Fogo: A histria da devastao da Mata Atlntica Brasileira.
Rio de Janeiro: Cia. das Letras, 1996.
DIAS, Reginaldo Benedito; TONELLA, Celene e VILLALOBOS, Jorge Ulisses Guerra. As
memrias do sindicalista Jos Rodrigues dos Santos. Eduem, Maring, 1998.
ELIAS, Norbert. Escritos e ensaios: Estado, processo, opinio pblica. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar, 2006.
ELIAS, Norbert, SCOTSON, Jonh. Os estabelecidos e os outsiders, Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000.
GOMES, Iria Zanoni. 1957: A Revolta dos Posseiros. Criar Edies, Curitiba, 1987.
FERREIRA, ngela Damasceno. Movimentos Sociais no Paran: 1978-1987. In: BONIN,
Anamaria et al. Movimentos Sociais no Campo. Criar e EDUFPR, Curitiba,1987.
HARTUNG, Miriam F. O Sangue e o esprito dos antepassados: escravido, herana
e expropriao no grupo negro Paiol de Telha. NUER/UFSC, Florianpolis: 2004
HESPANHA, Pedro. Para uma teoria sociolgica da propriedade fundiria. Revista
Crtica de Cincias Sociais da Universidade de Coimbra, n. 34, fevereiro de 1992.
JORGE, William Roberto & MARTINS, Valter. Operrios na oresta: trabalho e
cotidiano nas serrarias de Irati/PR na primeira metade do sculo XX. Revista
Tempo, Espao e Linguagem (TEL), v.1, n.3, set./dez. 2010, p.95-115.
JORGE, William Roberto & MARTINS, Valter. Homens e Mquinas nas orestas com
Araucria 1900-1930. In: CAMPIGOTO, J. A. e SOCHODOLAK, H. Estudos de
Histria Cultural. Guarapuava: UNICENTRO, 2000.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
293
LOPES, Jos Srgio Leite. O vapor do diabo: o trabalho dos operrios do acar. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
LUZ, Cirlei Francisca A madeira na economia de Guarapuava e Ponta Grossa 1915-
1974. Mestrado Histria, UFPR, Curitiba, 1980.
MARS, Carlos Frederico. A Funo Social da Terra. Srgio Antnio Fabris Editor, Porto
Alegre, 2003.
MONTEIRO, N. Madeira de Lei: uma crnica da vida e obra de Miguel Zattar. Ed. do
Autor, Curitiba 2008.
OLIVEIRA, Ricardo Costa de. O Silencio dos Vencedores: Genealogia, Classe Dominante
e Estado no Paran. Ed. Moinho do Verbo, 2001.
SALLES, Jefferson de O. A relao entre o poder estatal e as estratgias de formao
de um grupo empresarial paranaense nas dcadas de 1940-1950: o caso do
grupo Lupion. In: A construo do Paran Moderno: polticos e poltica no governo
do Paran de 1930 a 1980. Curitiba: SETI / Imprensa Ocial, 2004.
SALLES, Jefferson de Oliveira. Contribuio para a histria do setor industrial
madeireiro no PR: 1930-60. In: SONDA Cludia e TRAUCZYNSKI, Slvia Cristina
(orgs.). Reforma agrria e meio ambiente: teoria e prtica no estado do Paran.
Curitiba: ITCG, 2010.
SILVA, Jos Graziano da. A estrutura agrria do Estado do Paran. In: Revista
Paranaense de Desenvolvimento. Ed. Instituto Paranaense. Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Econmico e Social, n. 87, jan. - abril 1996, p. 175-195.
Curitiba, PR.
SOUZA, N. A. Arranjos produtivos locais: o caso de chapas e laminados de Ponta
Grossa.Mestrado Economia, UFPR, Curitiba, 2005.
TOMAZI, Nelson Dcio. Norte do Paran: Histrias e fantasmagorias. Curitiba: Aos
Quatro Ventos, 2000.
TRECCANI, Girolamo Domenico. Violncia e Grilagem: instrumentos de aquisio da
propriedade da terra no Par. Belm: UFPA, ITERPA, 2001.
WACHOWICZ, Ruy C. Paran, Sudoeste: Ocupao e Colonizao. Editora Ltero-
Tcnica, Curitiba, 1985.
WACHOWICZ, Ruy C. Obrageros, Mensus e Colonos: Histria do Oeste Paranaense.
Editora Grca Vicentina, Curitiba, 1982.
WANDERLEY, Maria Nazareth Baudel. Capital e propriedade fundiria: suas articulaes
na economia aucareira de Pernambuco. Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1979.
WESTPHALEN, C.; MACHADO, B. P.; BALHANA, A. P. Nota prvia ao estudo da ocupao
do Paran Moderno. In: Boletim da UFPR, n. 07, Curitiba, 1968.
ZILIOTTO, Bruno. Operrios de Serraria: Um estudo sobre as relaes de trabalho em
serrarias da regio dos Campos de Lages (1940-1970). Monograa, Histria UFSC,
2008.
294
295
Captulo 10
Desenvolvimento, capitalismo e comunidades
tradicionais: reexes em torno da Zattar
e dos faxinalenses.
Paulo Renato Arajo Dias
1
H
uma tendncia recorrente a se pensar o contexto brasileiro e
latino-americano atravs de um discurso que construdo a partir da
perspectiva colonialista dominadora. Neste, aspectos valorizados por tal
perspectiva so tomados como a base de avaliao da situao contempornea
de grupos e regies que se destacam exatamente por se distinguirem do modelo
dominante de produo, organizao social e viso de mundo como o caso
de comunidades rurais tradicionais. O objetivo deste captulo incluir nesta
discusso uma tentativa de desideologizar o desenvolvimento, analisar as
consequncias do industrialismo e a viso de progresso embutida em tal
lgica. E como construdo o discurso de que a madeireira Joo Jos Zattar
S/A, no municpio de Pinho, pensada como a chegada do progresso e as
comunidades tradicionais, os faxinalenses, os posseiros e os sem terra, como
o smbolo da carncia e da pobreza. Talvez esteja nisso a preocupao
de modernizar e implantar, a todo custo, processos civilizatrios de maneira
encoberta e sutil.
Alm disso, pretendemos analisar o impacto, o choque violento desse
modelo desenvolvimentista capitalista como tentativa de dissolver e submeter
as formas de autonomia, independncia e reetir sobre os processos de resposta
desses grupos ao contexto de dominao e as estratgias de resistncia por eles
adotadas resistncias estas que so muitas vezes feitas individualmente, bem
1
Mestre pelo Programa de Ps-Graduao em Tecnologia (PPGTE) da UTFPR. (link da dissertao:
http://files.dirppg.ct.utfpr.edu.br/ppgte/dissertacoes/2009/ppgte_dissertacao_301_2009.
pdf) Atualmente professor de losoa e histria na rede estadual de educao SEED, nos
estabelecimentos de ensino: Col. Est. Professora Ottlia Homero da Silva e Esc. Est. Dep. Arnaldo
Faivro Busato Pinhais/PR. E-mail: otanerdias764@gmail.com.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
296
como resistncias coletivas construdas por meio de sindicatos e associaes,
como o caso da CooperAFATRUP.
* * *
Foi ainda nessa dcada [1940] que as Indstrias Madeireiras
chegaram a Pinho. Na poca isso podia ser visto como
progresso e hoje no mais. As madeireiras foram responsveis
pelo desmatamento incontrolado, a extino da araucria
que at ento era abundante e tambm a desapropriao
ilcita dos verdadeiros donos da terra, o que faz com que at
hoje Pinho seja noticia nacional e at internacional com
os conitos de terras. (Jos Silvrio de Camargo Por que
nosso municpio chama-se Pinho?).
Renato Ferreira Passos (s.d.) na primeira parte de seu livro O Pinho
que eu conheci apresenta uma abordagem da histria de Pinho atravs da
narrativa de eventos presenciados por ele, j em um segundo momento relatos
de acontecimentos narrados por testemunhas, e, por m, se ocupar de uma
divulgao da histria ocial do municpio, um tanto desconhecida. Para
construo de nossa anlise nos ocuparemos da primeira parte.
Importante analisar como, nesta, Passos vai descrever um tempo de escassez,
mas em que, simultaneamente as pessoas se conheciam e no tinham inimizade
entre si. Era em um contexto de Segunda Guerra Mundial e a populao temia a
iminncia de invaso, segundo os jornais, a partir do territrio argentino, porque o
Brasil possua matrias primas necessrias ao andamento da guerra. Nesse perodo,
automvel era raridade por aqui, de vez em quando surgia um Ford p de bode
l na estrada que vinha de Guarapuava, fazendo a festa da piazada. Traz tambm
a descrio de vrios elementos que caracterizam a Vila: uma povoao formada
por dezessete casas, todas elas construdas de madeira e a maioria, coberta com
taboinhas lascadas de toras de pinheiro; onde viviam oitenta pessoas. noite,
o silncio era comparvel ao de um cemitrio, os sapos faziam uma sinfonia
infernal; ruas no tinham, apenas duas estradas. A que vinha da Reserva e se
juntava com outra que vinha de Guarapuava. Dos lados das duas estradas estavam
as casas; o nico meio de comunicao era o correio que vinha de 15 em 15
dias. A Vila estava localizada numa campina, mas estava rodeada de pinheiros.
Como no havia caadores, os bichos, principalmente pssaros existiam aos
bandos. Em determinado tempo apareciam bandos de papagaios fazendo algazarra
que at incomodava. Faziam vos rasantes por cima das casas e pousavam nos
saps dos pinheiros para comer os pinhes. O comrcio eram apenas duas casas
de negcio, e a escola funcionava na Igreja (cf. Passos, s.d.: 7-10).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
297
O que chama ateno como, para o autor, algumas condies existentes
so vistas como de uma carncia, de uma rusticidade, de um atraso e uma
escassez. J a presena de automveis vindos de fora vem denunciar a
falta do progresso, do desenvolvimento e da tecnologia na Vila. Ao mesmo
tempo, h uma exaltao explcita ao ambiente natural da regio, expressa
atravs do destaque atribudo frondosidade dos pinheiros. Isso ca mais
evidente quando o autor faz referncia, na dcada de 1940, a um pedido feito
pela Prefeitura de Guarapuava para construir novo loteamento no imvel onde
estava localizada a Vila. Assim descreve o local:
Quantos pinheiros havia. Para qualquer lado que se olhasse, viam-
se as copas unidas lado a lado, parecendo um oceano verde. Havia
pinheiro de todo porte. Os novinhos e tenros, que na vspera do
Natal, meu pai ia cortar um desses para mame enfeitar com bolinhas
coloridas e com um prespio embaixo dos galhos. Havia os frondosos,
com galhos at o cho, permitindo que se apanhassem as pinhas
com as mos. Havia os gigantes, com os galhos voltados para cima,
em forma de taa, imitando mos em louvor ao Criador. Quando
adentrava-se a oresta, viam-se os troncos aos milhares, robustos e
eretos, lado a lado, numa distncia que parecia no ter mais m.
noite quando sopravam ventos fortes, aoitando os enormes galhos
com aquelas bolas grandes de saps nas extremidades, faziam um
barulho caracterstico, muito parecido com o marulhar das ondas do
mar. Quando era tempo de pinho maduro, noite ouvia-se o barulho
da chuva de pinhes caindo ao cho. De manh cedinho, corramos
a juntar numa peneira, feita com bambus, bem vermelhinhos e
maduros. Da era fazer fogo no fogo a lenha, ass-los na chapa
e depois de macetar com um martelo para rachar a casca, comer
tomando caf (s.d.: 18 grifo nosso).
descrito pelo autor como de muita tristeza o contexto da derrubada da
mata, pela ao de homens contratados pela prefeitura para cortar todos os
pinheiros que estavam no quadro do loteamento:
Empunhando seus machados chegaram os homens, de dois em dois,
ao lado de cada pinheiro. Primeiro limpavam ao redor com uma foice,
cortando as touceiras de guamirim e samambaias; a, olhavam para
cima vericando a altura e medindo o comprimento da queda. Ento,
comeavam a desferir violentas machadadas, bem sincronizadas
pelos dois machadeiros, de modo que quando um levantava seu
machado, o outro baixava: t-t-t, os cavacos saltavam longe.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
298
Primeiro iam cortando a grossa casca avermelhada que j ia deixando
aparecer a parte branca do tronco liso e visguento, forte e resistente,
exigindo mais esforo dos trabalhadores. Ns, os meninos da Vila,
sentados sobre uma cerca feita com lascas de pinheiro, a olhar com
a curiosidade natural da infncia. Os homens paravam por alguns
minutos para descansar. Cuspiam na palma da mo para rmar o cabo
do machado e reiniciavam o ataque. L em cima, os galhos agitavam-
se, movendo-se de um lado para o outro. Parecia que queriam nos
dar um ltimo adeus. J podamos ver uma enorme ferida branca no
tronco do infeliz pinheiro. Ento, passavam para o lado oposto e
iniciavam um novo corte na mesma altura, fazendo-os se encontrar.
Duas horas depois, iniciava-se a queda, com um ranger no lugar do
corte o pinheiro ia vergando lentamente. Os homens corriam para
o lado oposto. A queda acelerava e o gigante caa ao solo com um
estrondo que fazia a terra tremer. Estilhaos voavam para longe,
cando no cho aquela massa verde dos escombros. Ali perto era
outro que tombava, j pelas mos de outros trabalhadores. Dia aps
dia, esse massacre impiedoso se sucedia. Foram abatidos todos os
que estavam dentro do permetro do loteamento. (...) Depois daquele
massacre dos pinheiros da Vila, houve uma trgua de alguns anos em
que os pinheiros no foram molestados (s.d.: 18-19).
Aps esta narrativa, o autor fala de uma trgua aos pinheiros, que fez com
que no fossem molestados por algum tempo. Logo em seguida, Passos arma
que ento apareceram por aqui os compradores de pinheiros, compravam aos
milhares. No incio, s queriam os grandes, que medissem vinte e cinco polegadas
de espessura e com mais de duas toras de comprimento (s.d.: 19). O autor relata
que o preo era irrisrio: pagavam dois cruzeiros por unidade. Mesmo assim,
muita gente vendeu suas rvores, pois achavam que s serviam para sujar o
terreno onde o gado pastava. E nalmente, o preo subiu para vinte e cinco
cruzeiros, quando, segundo ele, praticamente todos venderam seus pinheiros.
Essa longa descrio bastante signicativa, pois ajuda-nos a nos situar
na histria e a entender as distintas interpretaes que Passos apresenta em
relao derrubada das matas nativas. Assim, a ordem de mandar limpar um
lote coberto de pinheiros, muitos deles centenrios, para a construo da Vila
Pinho, vista com tristeza; j a derrubada sistemtica pelas madeireiras de
centenas de milhares de rvores, em dcadas posteriores, no interpretada como
o desencadear de um efeito de bola de neve com consequncias devastadoras:
representa, isso sim, um impulsionamento do progresso e da modernidade.
A metfora da bola de neve foi usada por Jos Lutzemberger (1978), em
palestra proferida durante o 1 Simpsio Nacional de ecologia, para analisar o
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
299
comportamento do pensamento econmico em relao aos sistemas naturais.
Passaremos a utiliz-la. Segundo o autor, a bola de neve tem o que se chama,
em ciberntica, retraes positivas. A ao promove uma reao que acelera
ainda mais esta ao. A bola de neve, medida que corre, engrossa; medida
que engrossa, tem que correr mais; medida que corre mais, ela engrossa mais
ligeiro e assim por diante (1978: 92).
Como podemos perceber no relato de Passos, a bola de neve
desenvolvimentista ganha velocidade nessa direo: o povo muito contente,
pois como dizia, o progresso estava chegando ao Pinho (1978: 20 grifo
nosso). Conta-nos que as serrarias instalaram-se e trabalhavam noite e dia,
serrando as toras que iam sendo transformados em tbuas, vigas, vigotes e
todo tipo de madeira.
Nesse sentido, termos tais como progresso, desenvolvimento e
modernizao so as chaves para compreender a transformao da tristeza
inicial pelo corte de pinheiros em uma posio em que tal corte passa a no
ser mais questionado. A subordinao e aniquilao de qualquer forma de
vida lgica capitalista se justicam em si mesmas, passando a no mais
constituir problema. Esse modelo parte de determinados valores que nos
levam a determinadas atitudes. Portanto, temos que examinar esses valores,
e ver se e como tais valores justicam-se. Atualmente essas premissas quase
nunca so examinadas, e muito menos seu impacto subordinador.
O desenvolvimento foi denido, portanto, como o processo de mudana
social que tende a superar estruturas ditas atrasadas. Talvez dessa forma
torne-se mais fcil evocar um processo histrico feito de desagregaes, de
declnios, de desaparecimento e criao de novas relaes sociais, como foi o
processo de desenvolvimento capitalista nas diversas regies do globo. A ideia
de que um povo mais ou menos desenvolvido, somente pode ter sentido, de
acordo com Gonzlez (1985), a partir da universalizao do capitalismo, que
cria um mercado mundial unicado progressivamente. Como arma o autor:
E os critrios que permitiriam julgar a condio de desenvolvimento
ou subdesenvolvimento de um povo ou de uma sociedade, emergem
de uma s ordem de ideias, hoje geralmente aceitas por todos os
estudiosos do tema: a ascenso e crescimento do capitalismo gera
tanto a situao que pode ser qualicada de desenvolvimento com
aquela outra que poderia ser qualicada de subdesenvolvimento.
Entretanto, a ntima unidade destas duas situaes deve ser
explicada historicamente, para se perceber a forma particular que
teve a presena do capitalismo em cada povo, produzindo diferentes
formas de subdesenvolvimento (1985: 15).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
300
Gonzlez destaca, ainda, que a humanidade marchava para um
fantstico grande nale, um s mundo produzindo e consumindo de forma
capitalista como condio para gerar avanos, crescimento, riqueza
ou desenvolvimento. O autor ressalta que, j no primeiro prefcio de O
Capital, de 1867, Marx denunciava que o pas desenvolvido no faz mais
que representar o espelho do futuro do menos desenvolvido. E, ainda, que
ao elaborar tal reexo, Marx traz para o texto uma expresso latina de
te fabla narratur a histria j est escrita sobre vocs. Assim, segundo
Gonzlez, caberia ao capitalismo clssico inspirar os pases que, erradamente,
pudessem supor que a eles no iria tocar o mesmo itinerrio histrico que j
estava sendo trilhado pelos pases do capitalismo central. Nisto a ideia de
desenvolvimento fundamental: um caminho nico, que no apenas cria a
iluso de que o devir est dado, mas tambm de que h uma positividade em
tal devir, que deve ser buscado por todos. Em outras palavras, nada impedir
aos ditos pases subdesenvolvidos que saibam qual ser sua sorte, bastando
apenas que se animem a olhar no espelho dos pases capitalistas de hoje,
que so a imagem de um futuro inevitvel e desejado (cf. Gonzlez, 1985).
A m de que seja possvel compreender de que maneira o trajeto histrico
especco de um grupo os pases do capitalismo central passa a ser o
modelo de itinerrio para todos os demais, uma rpida anlise de como se
constri e consolida a noo de desenvolvimento central. Passamos, assim,
a esboar a forma pela qual a ideia de desenvolvimento dominou as discusses
e as polticas econmicas relativas aos pases pobres durante mais de meio
sculo, para depois analisarmos seu impacto em Pinho.
Tendo em vista que os pases industrializados da Amrica do Norte e da Europa
passaram a ser vistos como os modelos adequados, aps a Segunda Guerra,
os programas econmicos nacionais dos pases semiperifricos e perifricos
e dos programas de ajuda internacional empreendidos por pases centrais e
agncias nanceiras internacionais tm apresentado como objetivo, desde
ento, a acelerao do crescimento econmico dos pases subdesenvolvidos,
como meio para eliminar o fosso entre estes e os pases desenvolvidos.
Nesse sentido, Arturo Escobar (2007) realizou um extenso e profundo exame do
desenvolvimento como regime de discurso e de representao social, em seu
livro La invencin del Terceiro Mundo: Construccin y deconstruccin del
desarrollo, onde mostra como as polticas de desenvolvimento tornaram-se
mecanismos de controle penetrantes e ecazes. Para tanto, o autor apresenta
o discurso do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, no dia 20 de
janeiro de 1949, anunciando ao mundo seu conceito de tratamento justo.
Que seria sua chamada America e ao mundo para resolver os problemas das
zonas subdesenvolvidas do globo:
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
301
Ms de la mitad de la poblacin del mundo vive en condiciones
cercanas a la miseria. Su alimentacin es inadecuada, es vctima
de la enfermedad. Su vida econmica es primitiva y est estancada.
Su pobreza constituye un obstculo y una amenaza tanto para ellos
como para las reas ms prsperas. Por primera vez en la historia,
la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el
sufrimiento de estas gentes (...) Creo que deberamos poner a dis-
posicin de los amantes de la paz los benecios de nuestro acervo de
conocimiento tcnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una
vida mejor (...) Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo
basado en los conceptos del trato justo y democrtico (...) Producir
ms es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir
ms es una aplicacin mayor y ms vigorosa del conocimiento tcnico
y cientco moderno (Truman apud Escobar, 2007: 19-20).
No trecho citado, alguns aspectos j indicados anteriormente se destacam.
Primeiro, o modelo de desenvolvimento dos pases capitalistas centrais
tomado como o ideal a ser almejado por todos ele que garante a prosperidade
e a paz, e que permite aos outros sair da situao de sofrimento e carncia
em que se encontram. Assim, a diversidade pensada a partir da chave da
misria: vida econmica primitiva, alimentao inadequada, presena de
doenas, etc. E cabe aos pases do capitalismo central livrar a humanidade
de tal sofrimento. Para tanto, a eleio de um tipo de conhecimento especco
como sendo a expresso do conhecimento: a tcnica e a cincia modernas.
Destituem-se, simultaneamente, os saberes de povos que no se encaixam no
modelo de desenvolvimento e as possibilidades polticas de questionamento
dos caminhos adotados pelos pases capitalistas centrais.
Segundo Escobar, a doutrina Truman tinha por m tanto um movimento no
sentido de inibir a expanso do comunismo e prejudicar a posio da Unio
Sovitica junto a outros pases e sua reconstruo no ps-guerra, quanto
dicultar a luta dos trabalhadores dentro e fora dos EUA. A estratgia para
conseguir tais ns era bastante ambiciosa: criar as condies para jogar em
todo o mundo os traos caractersticos das sociedades avanadas da poca: os
altos nveis de industrializao e urbanizao, modernizao da agricultura, o
crescimento rpido da produo material e nveis de vida e adoo generalizada
de educao e valores culturais modernos. No conceito de Truman, o capital,
a cincia e a tecnologia seriam os principais instrumentos que possibilitariam
uma revoluo em escala mundial. Assim como o sonho americano de paz e
abundncia poderia ser estendido a todos os povos do planeta.
Este sonho no foi criao exclusiva dos EUA, mas o resultado nal de
conjuntura histrica especca da Segunda Guerra Mundial. A partir da, foi
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
302
criado um dos documentos mais inuentes do perodo, elaborado por um grupo
de especialistas reunidos pela Organizao das Naes Unidas, que tinha como
meta denir polticas e medidas para o desenvolvimento econmico dos
pases em desenvolvimento. Ao abordar o tema, o faz da seguinte forma:
Hay un sentido en el que el progreso econmico acelerado es
imposible sin ajustes dolorosos. Las losofas ancestrales deben
ser erradicadas; las viejas instituciones sociales tienen que
desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse; y
grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso
debern ver frustradas sus expectativas de una vida cmoda. Muy
pocas comunidades estn dispuestas a pagar el precio del progreso
econmico (United Nations, 1951: I apud Escobar, 2007: 20 grifo
nosso).
Fica evidente que a proposta tinha como objetivo a completa reestruturao,
erradicao e desintegrao das sociedades tradicionais, indgenas,
quilombolas, etc., em uma tentativa de deslegitimao da diversidade e
subalternizao desses povos parafraseando Spivak
2
. Sem tais ajustes, de
consequncias funestas para os povos que no se encaixam no modelo, estaria
comprometido o progresso econmico.
Embora o discurso ocial, de lgica evolucionista e unilinear, leve a supor
que o desenvolvimento e o progresso seriam igualmente acessveis a todos,
na prtica, os pases subdesenvolvidos no poderiam ter os mesmo nveis
de acumulao de riqueza que os pases capitalistas centrais. Isso porque as
atividades econmicas nos pases subdesenvolvidos e/ou feitos subalternos
so apoiadas, como um de seus principais eixos, na exportao de matria-
prima para abastecer o mercado mundial. Estavam criadas as condies para
a reproduo capitalista. Bem como, segundo Escobar, para a descoberta da
pobreza nos pases do Terceiro Mundo (frica, sia, Amrica Latina), bem
como para o investimento blico dos EUA na conquista de novos territrios
atravs do discurso de erradicao da pobreza.
Segundo Enrique Dussel, (1986) o pobre, o que est na relao de
dominao, o dominado, o instrumentalizado, o alienado; por nao pobre
o autor entende:
2
A ideia de subalternidade desenvolvida por Spivak, em Pode o subalterno falar? (2010),
coloca em xeque a viso do Terceiro Mundo construda pelo discurso dos pases capitalistas
ocidentais, e destaca a importncia no somente de romper com essa viso estereotipada, mas
tambm de lutar pelo espao em que os sujeitos negados por tal viso possam se articular e ser
ouvidos.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
303
aquela que sofre dominao (poltico-militar), hegemonia ideolgica
(cultural), explorao econmica (transferncia de mais-valor); (...)
o pobre (pauper), como anterioridade, como exterioridade o
que procede de uma comunidade dissolvida. Como um zapoteco
de Oaxaca, no Mxico. O prprio sistema dominante destruiu seu
modo de vida anterior; expulsou-o do lugar onde estava seguro,
com sua riqueza honesta, com sua famlia, parentes, nao, histria,
cultura, religio. Pauper ante festum (o miservel antes da festa
idolatra o que vai digeri-lo antropofagicamente) (1986: 33-34; 141
grifo nosso).
A formulao desses conceitos nos ajudar a compreender as condies
crnicas em que caram aqueles grupos depois da passagem da bola de neve
desenvolvimentista, fora de controle e que na medida em que engrossa vai
dissolvendo comunidades e tentando destru-las.
A proposta de desenvolvimento, elaborada por um grupo de especialistas
reunidos pela Organizao das Naes Unidas, para os pases subdesenvolvidos
sugeria ajustes dolorosos e que as losoas tradicionais deveriam ser erradicadas
e as velhas instituies sociais teriam que se desintegrar. Como diz Dussel, a
categoria pobre converte-se, agora, em conceito organizador e em objeto
de nova problematizao. Os mesmos atores que provocaram a avalanche, que
deram incio formao da bola de neve, so os que retornam pelo caminho
destrudo, oferecendo s vtimas ajuda nanceira.
Escobar relata que, em novembro de 1949, uma misso econmica, organizada
pelo Banco Internacional, para a Reconstruo e Desenvolvimento, visitou a
Colmbia, a m de formular um programa abrangente de desenvolvimento para
o pas. Foi a primeira misso deste tipo enviada pelo Banco para um pas em
desenvolvimento. A misso tinha 14 assessores internacionais nas seguintes
reas: comrcio, transporte, indstria, energia e hidrocarbonetos, estradas,
rios, servios comunitrios, agricultura, sade, bancos, nanas, economia,
contabilidade, ferrovias nacionais e renarias de petrleo. Foi assim que a
misso viu a sua tarefa:
Hemos interpretado nuestros trminos de referencia como la
necesidad de un programa integral e interior consistente (...) Las
relaciones entre los diversos sectores de la economa colombiana son
muy complejas, y ha sido necesario un anlisis exhaustivo de las
mismas para desarrollar un marco consistente. Esta, entonces, es
la razn y justicacin para un programa global de desarrollo. Los
esfuerzos pequeos y espordicos solo pueden causar un pequeo
efecto en el marco general. Solo mediante un ataque generalizado a
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
304
travs de toda la economa sobre la educacin, la salud, la vivienda,
la alimentacin y la productividad puede romperse decisivamente
el crculo vicioso de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la
baja productividad. Pero una vez que se haga el rompimiento, el
proceso del desarrollo econmico puede volverse autosostenido ()
Colombia cuenta con una oportunidad nica en su larga historia.
Sus abundantes recursos naturales pueden ser tremendamente
productivos mediante la aplicacin de tcnicas modernas y
prcticas ecientes. Su posicin internacional favorable en cuanto
a endeudamiento y comercio la capacita para obtener equipo y
tcnicas modernas del exterior. Se han establecido organizaciones
internacionales y nacionales para ayudar tcnica y nancieramente a
las reas subdesarrolladas. Todo lo que se necesita para iniciar un
perodo de crecimiento rpido y difundido es un esfuerzo decidido de
parte de los mismos colombianos. Al hacer un esfuerzo tal, Colombia
no solo lograra su propia salvacin sino que al mismo tiempo dara
un ejemplo inspirador a todas las dems reas subdesarrolladas del
mundo (International Bank, 1950: XV: I apud Escobar, 2007: 53-54).
Esta misso salvacionista se estenderia America Latina, para submeter
os abundantes recursos naturais s ecientes tcnicas modernas. E sobre toda
economia que fosse considerada complexa, isto , autnoma e independente, o
programa institucionalizaria o modelo desenvolvimentista nico. O que tornaria
a Colmbia um exemplo inspirador para o resto do mundo subdesenvolvido.
Na Amrica Latina, a fora mais importante que se ops aos Estados
Unidos foi o crescente nacionalismo. Desde a Grande Depresso, alguns pases
latino-americanos comearam a tentar construir suas economias com maior
autonomia, promovendo a industrializao proposta que embora tente romper
com o lugar atribudo ao Terceiro Mundo de produo de matria-prima, no
coloca em questo o modelo capitalista como um todo.
Em 1948, um proeminente funcionrio das Naes Unidas expressou a
perspectiva de uma relao entre cincia, explorao de recursos naturais
e desenvolvimento como algo inquestionvel, dizendo: Eu ainda acredito
que o progresso humano depende do desenvolvimento e implementao no
nvel mais alto possvel de pesquisa cientca (...). O desenvolvimento de
um pas depende principalmente de um fator material: em primeiro lugar, o
conhecimento, e, em seguida, a explorao de todos os recursos naturais
(Laugier apud Escobar, 2007: 72).
Quando falamos em pases desenvolvidos e pases subdesenvolvidos, no
compartilhamos o discurso de competncia de uns, aliado incompetncia de
outros, como deixa a entender o funcionrio das Naes Unidas. Acreditamos
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
305
em uma tentativa de encobrir com um vu de unidade os pases perifricos,
frequentemente pensados como um todo, como um grupo, como povo
sem cincia ou tecnologia, vasta rea subdesenvolvida, etc. Esta estrita e
tradicional viso ideolgica imposta America Latina
3
, ao longo de mais de
quinhentos anos de colonizao, tende a nos fazer crer e aceitar a idia de
que este espao se constitui como uma regio obscura e que somos somente
reexos (desajustados) do outro.
No se pretende preencher este trabalho com um rol exaustivo de dados
histricos e datas acerca de como se deu o desenvolvimento capitalista aps
a Segunda Guerra Mundial. Essa breve retomada traz alguns aspectos dos
interesses, por parte das grandes naes, pela economia latino-americana,
e como essas vises econmicas vo ser incorporadas pelas naes em suas
polticas pblicas e projetos de desenvolvimento.
* * *
Trabalhando pra empresa. E l ento nunca mudemo, mas no
foi que o meu pai nunca quis, nunca, nunca. , ele sempre
dizia eu no vou, eu s fao servio de empreitada, eu no
vou, morar em casa do Zattar l, fazenda do Zattar, eu no
vou. Disse porque eu toda a vida tive a minha luta, eu gosto
de lidar com as minhas criao. A gente tinha praticamente
uma chacrinha l. Que da ele fazia, ns tudo fazia servio de
empreito assim, mas morar l ele nunca quis ir. Na sede do
Zattar. (entrevista realizada em 12/02/2010)
4
.
De acordo com o breve revisitar da histria, buscamos entender o
impacto desse modelo de desenvolvimento econmico, e procuraremos por
em evidncia de que forma as elites locais do Paran submeteram o Estado
condio de dependncia frente aos plos hegemnicos do sistema capitalista,
colocando em condies de vulnerabilidade as comunidades tradicionais ditas
atrasadas. Para isso, traremos elementos do texto de Renato Passos (s.d.)
para ajudar em nossa anlise. Inicialmente Passos, como j descrito no comeo
deste captulo, faz uma demorada descrio de como era o passado e o incio
da Vila. Pretendemos abordar, nesse segundo subitem, como o autor, ao longo
de seu livro, vai construindo vises dicotmicas em relao natureza que,
3
Bem como aos demais pases do Terceiro Mundo frica, sia, Oceania com a invisibilizao
de toda a diversidade na unidade construda a partir da noo de pobreza.
4
Entrevista realizada por Liliana Porto e Dibe Ayoub, no contexto do projeto Memrias dos
Povos do Campo no Paran. Agradeo a ambas o acesso ao contedo desta entrevista e, a m de
manter o anonimato da entrevistada, opto por no citar seu nome.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
306
em determinados momentos, vista como intocada e idealmente intocvel, em
outras passagens considerada como um valor econmico potencial, e como
tal, deve ser explorada.
Em um primeiro momento, quando os homens empunharam seus machados
para derrubar os pinheiros, que estavam no espao onde seria erguida a Vila
Pinho, Passos analisa tal ao com muita tristeza. E v com motivo de
ufanismo o ato de alguns proprietrios de resistirem ao forte apelo do dinheiro
em no vender suas rvores, no passado o habitat dos papagaios. Acrescenta:
vivamos num paraso perdido onde todos eram felizes e no sabiam (s.d.:
41). J no segundo momento, quando aparecem os primeiros compradores
e logo em seguida instalam-se as serrarias que trabalharam dia e noite para
transformar os pinheiros em tbuas e vigotes, a atividade das empresas
saudada pelo autor como a chegada do progresso, nas palavras da populao
local. Para enfatizar tal perspectiva, assim descreve:
Os caminhes carregados com madeiras dominavam as estradas,
rumo aos grandes centros e para exportao. Nas matas, as serras
no paravam e os pinheiros iam caindo s centenas todos os dias.
No demorou muito e apareceram os depsitos de lascas de pinheiro
e as fbricas de pasta mecnica, que passaram a comprar at os
tenros pinheiros, para a fbrica de papel e celulose. Quando os
pinheiros foram escasseando, iniciaram os abates das imbuias,
e quando estas comearam a desaparecer, partiram, para o corte
de madeiras brancas. Qualquer rvore servia, desde que tivesse
espessura que permitisse o corte nas serras (s.d.: 20 grifo nosso).
de suma importncia observar essa descrio, porque ca evidente a
disparidade daquele primeiro sentido de natureza que deveria permanecer
intocada, mas que, com a chegada das madeireiras e as derrubadas sistemticas
dos pinheiros, passa a ser destruda sem que isto seja considerado profanao,
e sim o impulsionar do progresso e do desenvolvimento. Nesse sentido
Monteiro (2008) reforar essa viso:
Os carroes atravessaram o mato, sacolejando, e amassaram barro.
Na dcada de 20, eles talhavam o principal veio de escoamento de
madeira no estado, o trecho entre Guarapuava e Ponta Grossa. Os
carroceiros carregavam mais de cento e cinquenta arrobas, atrelando
at oito animais. Antes mesmo da inaugurao da estrada de ferro
ligando Curitiba a Paranagu, em 1885, as caravanas carregadas
desciam a serra, atravancando a Estrada da Graciosa (...) Os carroes
marcaram no s o cho, mas um perodo de riqueza econmica
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
307
produzido pela madeira que eles carregavam, rangendo, direto das
matas para os portos de Paranagu e Antonina e, logo adiante, para
So Francisco do Sul (SC). Esta histria, porm, remonta aos tempos
em que o Paran tinha um chumao verde, originalmente coberto de
matas, com 176.737 quilmetros quadrados. Desses, 100.457 km eram
um mar de pinho, araucria e imbuia. De 1931 a 1950, desapareceram
quase cinquenta mil km de mata no Paran (2008: 80).
Sem pretender discutir em pormenor a questo, intentamos somente
sugerir que tanto Passos como Monteiro no divergem ao se referirem a um
passado do estado tomado por matas. Passos aludiu ao matagal de pinheiros
como oceano verde, j Monteiro como chumao verde. No entanto, tal
contexto ambiental passa a ser relevante na medida em que serve de base
para o desenvolvimento, que se transforma em valor econmico. Parece
contraditrio, no caso de Monteiro, que se prope a realizar a biograa de
um grande heri (assim denominado por Domingos Pellegrini ao prefaciar o
livro), que o eixo de sua obra biogrca Madeira de Lei seja um homem que
tem como caracterstica marcante exatamente a pilhagem das madeiras de lei
contribuindo para o desaparecimento indicado pelo autor de centenas de
milhares de quilmetros de matas no estado.
Para reforar a anlise de que a natureza percebida como valor
econmico, Celso Furtado (1972) desencanta o mito do desenvolvimento,
ao discutir como a implementao das polticas de desenvolvimento nos
pases atrasados, tendo como o condutor a ideia de progresso (algo tanto
positivo quanto inevitvel), torna lugar-comum duas noes: desenvolvimento
e crescimento econmico. por isso que, sob novas roupagens, se constri
o mito do desenvolvimento que se repete indenidamente. Como observa
Marilena Chau (2000):
A identidade nacional pressupe a relao com o diferente. No caso
brasileiro, o diferente ou o outro, com relao ao qual a identidade
denida, so os pases capitalistas desenvolvidos, tomados como
se fossem uma unidade e uma totalidade completamente realizadas.
pela imagem do desenvolvimento completo do outro que a nossa
identidade, denida como subdesenvolvida, sugere lacunar e feita de
faltas e privaes. A primeira opera com o pleno ou completo, enquanto
a segunda opera com a falta, a privao, o desvio (2000: 27).
Passos, ao descrever um episdio ocorrido no ano de 1948, quando da visita
em Pinho do governador de So Paulo, Ademar de Barros, explicita mais uma
vez a ambiguidade com relao perspectiva das relaes ideais entre homem
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
308
e natureza. No capitulo denominado Guerra aos pssaros, o autor novamente
relembra a cidade em formao, onde as orestas eram abundantes e virgens,
os campos oridos, sem nenhuma agresso de mquinas e arados, os arroios
lmpidos, na primavera milhares de borboletas com cores diversas, presena
de animais silvestre pastando embaixo dos pinheiros, pssaros de todas as
espcies, isso porque, entre outros, a populao no possua o costume de
caar. Segundo Passos, a motivao da visita do governador no teria sido
conhecer o local e seus moradores, mas usufruir atravs da caa das perdizes e
codornas. Essas, quando abatidas, eram conservadas em vidros, para servir de
iguarias nos banquetes da na or da sociedade paulista (s.d.: 42). Conta que
a comitiva permaneceu aproximadamente quinze dias, tendo abatido seis mil
pssaros, e que o feito mereceu destaque nos jornais da poca. Alm do mais,
a estrada desde Guarapuava at o acampamento dos caadores foi ampliada.
Lembrando que Pinho, nesta poca, aparecia como distrito do municpio de
Guarapuava e somente emancipa-se em 18 de fevereiro de 1964. Como relata
o autor, quando os transeuntes passavam pela estrada ouviam o pipocar de
tiros de espingardas por todos os lados e as perdizes e codornas iam sendo
dizimadas pela ilustre comitiva. Posteriormente, as armas estariam sendo
empunhadas, no mais em direo s j extintas perdizes e codornas, mas a
todos aqueles que impedissem a rpida industrializao e modernizao
do municpio.
Nesse episdio conhecido como Guerra aos pssaros o autor aciona
novamente o primeiro sentido de natureza, e a descreve como se nela houvesse
um vazio que para Laura Antunes Maciel (1997), signica a ausncia de
brancos colonizadores. Os ndios faziam parte da paisagem local, assim como
os animais e as rvores. Segundo Maciel, esse vazio pode ser denido como:
(...) a ausncia de uma populao disciplinada, habituada ao trabalho
ordenado e regular, com moradia xa, capaz de tomar em suas mos
a defesa do territrio contra os interesses dos pases vizinhos. A
prpria estabilidade das fronteiras nacionais seria mais facilmente
conseguida caso naquelas regies predominassem a agricultura e a
criao de gado (1997: 127).
A prpria idia de vazio foi mudando e se reconstruindo ao longo do
tempo. Uns acreditavam que este vazio era realmente a inexistncia de qualquer
tipo de povoamento; outros consideravam no relevante que essas terras j
fossem ocupadas por ndios, faxinalenses, bairros negros, posseiros etc.
Dentro dessa viso dualista, que hora nos ocupamos, o autor vem oscilando
entre uma natureza intocada, com espaos exuberantes, orestas virgens,
ausncia da agresso humana que acarretar na extino da fauna e da ora, e
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
309
uma viso de natureza como tendo um valor econmico, adotando uma lgica
utilitarista que legitima sua destruio. Ao sintetizar a segunda perspectiva,
Milton Santos (2001) arma que: considera que tudo na Natureza recurso,
embora ela aparea como natural apenas de forma isolada, todavia faz sobressair
o carter social da Natureza. Esta perspectiva, por sua vez, viabiliza a prtica
de atividade econmica depredatria: o esgotamento do ecossistema no
visto como destruio e dilapidao; ao contrrio, os impactos da destruio
so encobertos atravs do discurso de gerao de empregos e renda, remetendo
a seu carter social. Nesse sentido, Passos justica a presena das madeireiras
alegando:
que essas trazem oferta de empregos diretos e indiretos e ainda
melhorias nas estradas, porque a prpria empresa adquiriu maquinrio
pesado, motoniveladoras e tratores para a abertura de novas estradas
e a conservao das j existentes, das quais necessitava para
o transporte de toras e madeira serrada (...). Com o advento das
indstrias o desenvolvimento econmico chegou ao Pinho e em
conseqncia o m do desemprego e aumento da arrecadao de
impostos (s.d.: 60).
No captulo intitulado A Industrializao, o autor abandona a ideia
de uma natureza intocvel ao exaltar a chegada da madeireira Zattar, que
transformar o oceano verde, o chumao verde em valor econmico. Ao
abordar o perodo do ps-guerra no povoado, aquele que antecede a atividade
das madeireiras, arma:
O comrcio sofreu profunda retrao, de maneira que os produtos
primrios daqui, restritos apenas aquilo que era produzido nas
roas de queimadas, no tinham compradores e a escassez de
dinheiros era uma constante. Os fazendeiros s conseguiam algum
dinheiro quando vendiam uma vaca velha para o aougue do Antenor
Gomes, o qual de vez em quando abatia uma rs, sempre vaca velha
de descarte, que no mais procriava. Com a falta de poder aquisitivo
do povo, pouca carne era vendida, ento era comum se ver no varal,
as mantas de charque secando ao sol por dias seguidos. A nica
vantagem de tudo isso eram os preos baixos dos gneros alimentcios
produzidos aqui mesmo (s.d.: 59 grifo nosso).
Para Passos, foi nesse perodo que se iniciaram as compras de pinheiros em
p e surgiu a esperana da instalao das prometidas serrarias, que trariam
o to sonhado progresso nanceiro para Pinho (s.d.: 59). O que levaria
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
310
a crer que as serrarias tirariam a cidade dessa penria. Com as vendas dos
pinheiros, houve uma injeo de dinheiro no comrcio e aquecimento nas
atividades comerciais. Ao criar e recriar, incessantemente, como sada, a
capacidade de consumo, esta se impe como um dado importante para superar
situaes consideradas indesejadas. Com isso, nos parece que o ataque voraz
das madeireiras em direo aos intocveis pinheiros seria o remdio sugerido
avaliado por Passos como muito ecaz.
Isso porque, segundo Cancin (1974), o objetivo das empresas madeireiras,
alm da produo, comercializao e preos da madeira era a ocupao das
terras:
No que diz respeito aos aspectos gerais da produo, a economia
madeireira no Norte do Paran esteve ligada ao fenmeno da
ocupao das terras. medida que a madeira foi sendo esgotada
em uma localidade, iniciou-se a explorao em outra. A explorao
madeireira s foi signicativa enquanto se completava esta
ocupao, o que, alis, se fez de forma muito rpida. A instalao
de serrarias observou facilidades de transportes, localizando-se em
grande nmero nos centros maiores ou prximos destes. A presena
das serrarias pode de modo aproximado, dar a medida da intensidade
da explorao madeireira em uma localidade ou regio, que se fez
em estgios de durao limitada, deslocando-se ao se iniciar o
esgotamento das matas, em busca de novas fontes. Pode dizer-
se que a serraria pioneira na abertura de regies, aproveitando-
se das madeiras liberadas pela ocupao agrcola das terras.
Nota-se movimento de deslocamento das serrarias medida que a
colonizao ou as novas frentes pioneiras penetram mais para o
interior (1974: 05 grifo nosso).
Portanto, a devastao das matas do territrio paranaense ocorreu devido
ao avano da frente pioneira, cujo objetivo era a ocupao das terras, pela
migrao de riograndenses e catarinenses nas regies Sul e Centro-Oeste,
ou pelo avano dos cafeicultores paulistas no Norte. Em ambas as regies,
j ocupadas por povos indgenas e caboclos, estes grupos, embora tambm
exercessem impactos sobre o meio ambiente, no o faziam da forma devastadora
dos atores da frente pioneira. Por isso, ao lermos tanto o livro O Pinho que
eu conheci quanto Madeira de Lei, possvel perceber como os autores, ao
descreverem a derrubada das matas, analisam tais aes como a mudana das
feies do estado, em sua marcha rumo ao progresso. Tais aes no so
vistas como destruio.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
311
A madeireira Joo Jos Zattar S/A, segundo Passos, adquiriu mais de 43 mil
alqueires de terras no territrio pinhoense. Montou, tambm, uma estrutura
com construo de centenas de casas para a moradia de seus empregados,
com praa de esportes, escolas, igrejas, armazns, onde os funcionrios
podiam adquirir de tudo e a preos reduzidos, clube recreativo, nibus para
o transporte dos estudantes, lhos de seus empregados. O autor arma que a
empresa funcionou aproximadamente quarenta anos, tempo em que o Pinho
viveu sem crises ou comrcio enfraquecido (s.d.: 61). Esse discurso de que
a chegada do desenvolvimento traria o m do desemprego e melhorias na
infraestrutura local parecem bastante convincentes principalmente quando
consideramos a perspectiva evolucionista e unilinear de desenvolvimento
abordada no incio do texto. No entanto, esses processos produziram, ao
mesmo tempo, um novo tipo de excluso social, formado por grupos sociais
considerados desnecessrios economicamente, incmodos politicamente e
perigosos.
Com a preocupao em examinar no a pobreza, mas o problema da
pobreza como uma preocupao no Brasil, Mrcia Sprandel (2004), em seu
livro A pobreza no paraso tropical, faz uma longa e profunda anlise acerca
das representaes feitas pela sociedade nacional brasileira sobre o indivduo
pobre. Sprandel chama a ateno para o fato de que foi no ps-guerra que a
pobreza teria sido percebida como um atributo do mundo rural e os pobres
simbolizados na literatura por personagens como Jeca Tatu, consagrado no
cinema pelo ator Mazzaropi (2004: 130). Fica evidente que, ao se iniciar a
expanso do capitalismo, retoma-se simultaneamente o discurso da pobreza
e do vazio demogrco ou seja, de maneira paradoxal, as reas em que o
capitalismo no est consolidado so ao mesmo tempo vazias e sua populao
deve ser salva da condio de atraso em que se encontra. A partir da nova
imagem, se coloca a necessidade de implementar investimentos no sentido
de mitigar as consequncias da situao de carncia absoluta e garantir a
possibilidade de desenvolvimento econmico regional. Para isso, a natureza
vista como alavanca do desenvolvimento, e os moradores que nela habitam se
tornam empecilhos para o controle sobre o territrio por eles ocupado atravs
do avano das madeireiras, necessrio implantao do sistema econmico e
do Estado moderno.
Nesse sentido, Fressato (2008) analisa o caipira representado por Mazzaropi,
caracterstico do interior do estado de So Paulo, diferente do almejado pela
ideologia desenvolvimentista. Sujeito que se utiliza de prticas conservadoras
para enfrentar as adversidades. A autora observa que nos anos de 1950 a
1970, a imprensa foi amplamente utilizada para a divulgao e propagao
das ideias desenvolvimentistas. Reportagens e manchetes associavam
trabalho, cidade, modernidade, industrializao e progresso. A necessidade do
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
312
desenvolvimento atingia a todos: os que comandavam a expanso (o Estado e
a classe empresarial), os que cooperavam com ela (a populao em geral) e os
que seriam por ela incorporados (a populao desempregada e marginalizada).
Para a autora, a ideologia desenvolvimentista tambm encobriu os conitos
e a dominao, mascarando informaes, e legitimando, com isso, aspiraes
apenas de alguns grupos da sociedade (cf. Fressato, 2008: 05).
Alia-se ao processo considerado por Fressato a construo da imagem do
homem do campo como uma praga nacional, inadaptvel civilizao, smbolo
do atraso econmico, poltico e mental: assim era Jeca Tatu, um retrato do
homem do interior. Personagem criado por Monteiro Lobato (1882-1948), Jeca
representava os atributos negativos dos brasileiros. A imagem do caipira como
o piolho da terra, gura do homem do campo atrasado, faz parte do discurso
que a elite liberal republicana defensora de um Brasil composto de cidados
brancos europeus usa para deslegitimar determinados setores das classes
populares.
inserido nesse contexto que a Indstria Joo Jos Zattar S/A, ao instalar-
se no Bom Retiro e construir a Zattarlndia, torna-se o smbolo do progresso.
Segundo Monteiro (2008), no se pode precisar quando se d a chegada da
Zattar em Pinho, seria mais ou menos em 1943. Monteiro conta que, nos
anos 40, na Vila Nova do Pinho, Joo Jos Zattar comprou nacos de terra
com pinheiros em p, para plantar o progresso vindo do cheiro da madeira,
que espalhou o crescimento na regio e continuou atravessando dcadas (...)
depois de cinco anos abrindo estradas e enfrentando a carranca dos locais
(2008: 38 grifos nossos). A serraria So Jos inaugurada em 1949, na
localidade de Boi Carreiro, passando a ser conhecida por Zattarlndia. Logo
em seguida Zattar comprou 150 alqueires para a instalao da outra serraria,
que veio a chamar-se Santa Terezinha situada a cerca de 15km da Vila.
Na descrio de Monteiro em relao s instalaes das serrarias da empresa
Zattar ca evidente que naquela regio no havia um vazio demogrco, como
ao longo da histria desse estado se fazer crer, e que as carrancas dos locais
mostram a resistncia e defesa contra o ataque voraz das serrarias em direo
a suas terras.
Em entrevista realizada por Liliana Porto e Dibe Ayoub, em fevereiro de
2010
,
com atual moradora da sede municipal de em torno de cinquenta anos,
a entrevistada relata ter nascido e passado sua infncia, juntamente com seus
pais, na regio do Bom Retiro/Zattarlndia. As descries que faz do povoado
apontam o encanto que as possibilidades de moradia, consumo e lazer que
representava possuam sobre a populao local. No entanto, como ca claro
no trecho citado na epgrafe deste item, seu pai recusou-se a mudar para a
Zattarlndia, optando pela permanncia em sua prpria terra. Gostaramos de
chamar a ateno, assim, para o fato de que esse modelo desenvolvimentista
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
313
tem um poder de seduo, tambm percebido em Passos, mas esta no total.
H resistncias de vrios tipos: individual, familiar ou por meio de sindicatos,
associao e cooperativas. Como veremos na ltima parte desse captulo
Segundo a entrevistada, as casas l dentro eram chamadas de rancho. Ela
conta que seu pai comprou um lote de terra prximo ao Bom Retiro, tirando
e cortando madeira para a Zattar a machado, lenha por metro, foi assim que
pagou o terreno. E para a construo da casa, ele teria derrubado um pinheiro
que tinha no interior do terreno, desdobraram tudo com um ferro que tirava
tabuinha e construram uma casa. Pode-se ver, portanto, que o emprego na
madeireira ser utilizado como possibilidade de acesso a terra. Mesmo vivendo
na cidade, atualmente, a famlia no vendeu a terra.
O trabalho do pai no era exclusivamente para a produo autnoma
ou para terceiros. Segundo a narrativa, ele oscilava entre o trabalho para
fazendeiros da regio e a Zattar, e o investimento na produo prpria (mesmo
que em rea arrendada). Assim, na poca do plantio, da colheita, retornava
para seu roado. E quando passava a temporada, trabalhava para o Zattar
tirando erva-mate, cortando pasto, fazendo cerca. Segundo ela, seu pai nunca
foi registrado na rma, o que lhe permitia trabalhar uma temporada em Santa
Catarina, e ao retornar tinha a possibilidade de lidar com sua roa ou fazer
mais empreitada na rma Zattar. O no registro lido como liberdade, no
como carncia de direitos.
Ela narra sistemas de controle exercidos pela empresa sobre aqueles
que residiam ou frequentavam a Zattarlndia. Explica que vizinhos que no
se identicavam com o candidato de preferncia da empresa (e/ou caso o
candidato perdesse) passavam a no comprar nem vender no interior da
Zattarlndia. Algo com impacto signicativo, pois era esta a principal fonte
de renda para aqueles que viviam fora do quadro da Zattar. Por outro lado, ela
fala que trabalhava na lavoura, isto , na terra, na fora pura, segundo ela
expresso utilizada pelos antigos. No entanto, a famlia nunca teve terreno de
cultura, sempre plantaram em terrenos alheios.
Ao se referir aos que trabalhavam nas empreitadas, ressalta que esses no
eram chados, isto , no tinham carteia assinada. Sua remunerao se dava
de acordo com o desempenho nas tarefas assumidas. J os que trabalhavam
internamente recebiam o salrio no somente na moeda nacional da poca,
mas em uma moeda utilizada pela empresa, o bor. Como descreve Monteiro:
Trabalhavam por duzentos e cinquenta ris a hora, que mais tarde,
bem mais tarde, virariam bor, o dinheiro que circulava nas vendas,
armazm, farmcia etc. de Zattarlndia. O bor, uma ideia de Joo
Jos Zattar, considerada avanada para a poca, tinha o mesmo valor
de compra, de um por um, da moeda ento vigente, o cruzeiro. Os
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
314
comerciantes, depois, trocavam na empresa os bors, com cores e
valores diferentes, por dinheiro. Ao invs de pag-los com dinheiro,
dvamos o bor. Eles iam no armazm, compravam e o bor voltava
pro escritrio. Era melhor assim: um tanto em bor e o outro em
dinheiro, diz Zuzo (2008: 47 grifo nosso).
Segundo a entrevistada, os empregados recebiam na quinzena em bor
e o dinheiro s no dia do pagamento. Quando as pessoas de fora vendiam
verdura, galinha, ovos ou outros produtos agropecurios para os trabalhadores
da Zattarlndia, recebiam desses funcionrios em bor.
Em seu relato, ela descreve que no interior da Zattarlndia existia um
armazm, era o mesmo que mercado, tudo o que se pedisse tinha e se no tinha
no momento o comerciante dizia no tem hoje, mas amanh venha tal hora que
j t aqui. Um comrcio mais variado e gil que o de Pinho. Vendiam de tudo:
alimentao, arroz, feijo, macarro e tambm cama e mesa e banho, se precisasse
de mveis tinha que encomendar. Com esse esquema, ela conta, ningum saa
de l para comprar na cidade de Pinho. Quando no tinha no armazm, teria
que ir at Guarapuava. E ao chegar s lojas os funcionrios perguntavam Mora
onde?. Se era trabalhador do Zattar podia levar a loja inteira. J os faxinalenses,
posseiros e os pequenos proprietrios s podiam fazer compras no armazm da
rma no meio da semana, e se deixassem para comprar nas bodegas, ou nos
bares era muito mais caro em relao ao armazm do Zattar. O sbado era o dia
para atender os que trabalhavam para a rma derrubando mata. Nesse contexto,
percebe-se que a narradora identica vantagens no vnculo empregatcio com a
madeireira, tanto em termos econmicos e de acesso ao consumo, quanto em
termos de prestgio social.
Outro aspecto importante diz respeito ao acesso Zattarlndia. Segundo
ela, os portes tampavam a estrada. S entrava nas reas controladas pela
empresa, em caso de no funcionrios, quem apresentasse motivos convincentes
para tanto. Em determinado ponto que dava acesso Zattarlndia s circulavam
livremente carros da empresa e os que moravam l dentro, os demais tinham
que se justicar frente aos guardas da madeireira que vigiavam os portes.
Ao ser perguntada sobre seu desejo, quando mais nova, de morar na
Zattarlndia, ela d uma resposta positiva, mas diz que era iluso de criana.
Para a entrevistada, as casas eram as melhores da redondeza, a maioria que
morava fora das vilas da empresa no tinha condies de construir uma casa
boa. Conta ainda que em dias de festas ou quando ia visitar um amigo dentro
da Zattarlndia, via as pessoas morando naquelas casas mais melhor e mais
bonita, e os encantos da vida no local seduziam seus olhos. Ela descreve que
esse foi um dos motivos que fez aumentar a quantidade de famlias que optavam
pela moradia nas vilas: eles ofereciam casas melhores para as pessoas, e essas
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
315
iam vendendo criao, vaca de leite, as prprias terras para viver melhor nos
povoados da Zattar. Acrescente-se que, alm disso, a estrutura e tamanho das
casas se relacionavam s classicaes hierrquicas das funes no interior da
empresa. Por exemplo, no caso de marcador, motorista, jaguno e funcionrios
da administrao, as casas tinham luz eltrica, gua, tinha tudo. E quando era
descascador de tora, porque trabalhava no mato, ia morar nos ranchos com trs
peas (dois quartos e a cozinha), no tinha gua (era da mina), e a luz era vela.
Logo que a empresa comeou a dar sinais de falncia, a entrevistada
aponta que alguns foram bem espertos e saram do local. No entender dela,
esses enxergaram mais longe, l na frente. Quando a rma entrou em colapso,
muita gente que trabalhava na Zattarlndia a abandonou, tendo uma parte
desses trabalhadores se deslocado para a regio metropolitana de Curitiba.
Atualmente, o nmero de famlias que ainda vive na Zattarlndia muito
reduzido, e o povoado foi praticamente desmontado, restando poucas casas
ainda de p.
O contexto acima descrito aponta a complexidade das relaes dos
trabalhadores da madeireira com a empresa em que esta representa,
simultaneamente, melhores condies de moradia e acesso a recursos e
bens de consumo, e a subordinao a um sistema opressor que controlava,
inclusive, as escolhas polticas e os movimentos dos moradores dos povoados,
principalmente da Zattarlndia. Retomamos a epgrafe deste subitem, em que
o pai da entrevistada dizia eu no vou, eu s fao servio de empreitada,
eu no vou morar em casa e nem fazenda de Zattar. Ter uma chacrinha e
poder dizer eu s trabalho de empreitada, isso lhe d possibilidade de gozar de
algumas das vantagens que o trabalho na empresa trazia sem perder, de forma
denitiva, sua autonomia.
interessante observar que esta interpretao no especca deste
sujeito. Eliane Cantarino ODwyer (2008) analisa, nas dcadas de 1950 e
1960 no Estado do Rio de Janeiro, o contexto de trabalhadores residentes
em grandes propriedades que foram submetidos a um processo de expulso
da terra e expropriao de suas condies de trabalho e manuteno, em
decorrncia da introduo de lavouras mercantis e da modicao no cultivo
para subsistncia dos chamados colonos e/ou moradores. Nesse caso, ODwyer
observa que os grandes proprietrios deixaram de proporcionar reas de cultivo
a seus moradores, passando a expulsar de forma sistemtica os que resistiam
s novas imposies para a realizao de servios dirios nas plantaes da
fazenda. Desse modo, o assalariamento da mo-de-obra agrcola pressupunha
novas formas de imobilizao da fora de trabalho.
Para a autora, o desmantelamento dessa forma de organizao camponesa
foi sucedido pelo reconhecimento de uma organizao sindical para o campo.
A partir dos anos 1950, os patres comearam a modicar as condies de
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
316
trabalho. Nas condies anteriormente vigentes, em que os patres davam
terra para plantio, os trabalhadores se autoclassicavam: os que tinham seus
stios fora das grandes propriedades se distinguiam daqueles cujos stios se
encontravam em seus limites. Contudo, a diferenciao principal entre os
trabalhadores passou a ser representada pela contradio entre o empregado
e o trabalhador jornal (2008: 235). Segundo ODwyer, mesmo o sem terra para
plantar, o jornal
5
pode dispor de mo-de-obra familiar segundo sua prpria
determinao, ao contrario do empregado, submetido s ordens do patro e
estendendo tal subordinao a toda a esfera domstica. A diferena entre os
dois assim descrita pela autora:
De acordo com a representao dos prprios agentes sociais, que
o jornal conserva a autonomia do trabalho familiar, a liberdade de
realizar o clculo da utilizao do trabalho dos membros da famlia e
de traar as estratgias de reproduo de suas condies de trabalho
e manuteno da forma que melhor lhe convier. J o empregado
dependente das ordens do patro, tendo que levar sempre em conta,
em seu clculo de utilizao do trabalho familiar, a obrigao de
prestar servios ao proprietrio da terra (2008: 236 grifo nosso).
Similarmente, o trabalhador jornal se aproxima da realidade descrita pelo
pai da entrevistada, quando esse possua sua terrinha e prestava servio para
a Zattar em perodos de trabalho menos intenso na lavoura. Isto , no estava
totalmente dependente, possua seu espao de autonomia, plantava em terras
controladas por ele (mesmo que arrendadas) e tinha a possibilidade de vender
parte de sua produo e estabelecer seus preos, ao contrrio dos demais que
estavam em situao de vulnerabilidade. Mesmo submetendo-se ao trabalho
na empresa, o pai da entrevistada mantinha uma margem de autonomia.
Ao contrrio do trabalhador livre de que fala Marx, que se caracteriza por
ser despossudo dos meios de produo, livre para vender sua mo-de-obra.
Era o caso dos que moravam na Zattarlndia: esses tinham casa, trabalho,
alimentao, acesso a bens de consumo; no entanto, pagavam tais benefcios
com sua subordinao, desfrutavam de uma liberdade restrita.
O que chama a ateno que, como vimos, existia um macro projeto
desenvolvimentista cujo objetivo era combater e modernizar toda forma de
conhecimento tradicional, porque o pas estaria abandonando a vida rural para
ingressar na criao dos grandes centros econmicos. Segundo este discurso,
o xodo rural era uma realidade inquestionvel, e indiscutvel o caminho no
5
Segundo a autora, a casa prpria do jornal tanto pode ser tanto um imvel de sua propriedade
como uma casa alugada pois o aspecto mais relevante da denio no ser ela propriedade
do patro.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
317
sentido de abandonar as formas de vida tradicionais para se inserir em uma
lgica capitalista de mercado e produo.
Experincias como a citada na epgrafe mostram que princpios no
capitalistas operam ao mesmo tempo em uma economia de mercado: o pai da
entrevistada entrava na Zattarlndia, tanto para trabalhar na empresa como
para vender seus produtos para os trabalhadores da rma, recebia em bor,
submetia-se s regras de controle que lhe permitiam ter acesso aos funcionrios
da empresa, sabia quais os dias para poder realizar suas compras no armazm do
Zattar, etc. Mas quando a empresa que prometia resolver o problema de escassez
de dinheiro rolando a bola de neve do progresso, na tentativa de dissolver ou
eliminar carrancas que a populao local dirigia a ela e trazer o to desejado
desenvolvimento econmico e justia social para os que se encontravam em
trincheiras marginais entra em colapso, os que possuem suas terras, como
espaos de autonomia, podem responder a esse contexto sem carem sujeitos
ao desamparo. Mas os que se deixaram seduzir pelos apelos da madeireira, foram
morar em casas novas e amplas, consumir em armazns bem providos, participar
de festas e eventos sociais promovidos pela empresa, e para isso venderam suas
terrinhas, ou os que as perderam pela ao dos jagunos (a mando da Zattar),
precisaram migrar para a cidade ou grandes centros, e assalariar-se na tentativa
de obter dinheiro para alugar uma casa, comprar roupas, remdios, contrair
crdito, etc. Tornaram-se os homens livres de que fala Marx.
* * *
Vrias vezes ouvi isso das pessoas dizerem: se no fossem
os campos aqui, a gente passava fome. Na verdade o
contrrio, porque o produtor produz alimento. Ele no est
nos campos, porque os campos aqui produzem soja, milho
que vai virar rao para as grandes empresas e at dos
americanos. Essa produo exportada, no ca nada no
municpio, e quem produz o alimento que sustenta aqui o
municpio so os pequenos agricultores e alguns faxinais
que esto em reas de culturas. E a que est os produtores
de alimentos. Era um mito de quem sustentava o Pinho
na parte de produo eram os campos. E no . O grande
potencial est nas reas de faxinais, onde est o pequeno
produtor. (entrevista realizada 24/10/2012 Joo Wilson
Presidente da CooperAFATRUP).
Foi atravs da organizao em sindicatos e associaes que os camponeses,
faxinalenses, denominados atrasados, conseguiram minimizar o impacto da
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
318
passagem da bola de neve desenvolvimentista que tem por objetivo aplainar
todo e qualquer espao que oferea autonomia, independncia e solidariedade
aos membros dos grupos sociais que se organizam de maneiras no hegemnicas.
Em um primeiro momento, com a organizao da AFATRUP Associao das
Famlias de Trabalhadores Rurais de Pinho e do movimento dos posseiros.
Posteriormente, com a aliana com o MST, MPA e o desenvolvimento da
Articulao Puxiro dos Povos Faxinalenses
6
. E, como ltimo movimento, com
a criao da CooperAFATRUP. com esse intuito que abordaremos esse ltimo
subitem, analisando como a resistncia ao modelo desenvolvimentista esteve/
est presente desde o incio da expanso capitalista nas regies das matas de
Pinho, aqui materializada na madeireira Zattar. Para tanto, estabeleceremos
um dilogo com Boaventura de Sousa Santos (2012), ao analisar como
cooperativas de trabalhadores podem ser exemplo dessa resistncia.
De acordo com este autor, as cooperativas modernas so to antigas quanto
o capitalismo industrial. De fato, as primeiras cooperativas sugiram por volta
de 1826, na Inglaterra, como reao pauperizao provocada pela converso
macia de camponeses pequenos produtores em trabalhadores das fbricas
pioneiras do capitalismo industrial. Foi tambm na Inglaterra que surgiram as
cooperativas que passariam a ser o modelo do cooperativismo contemporneo
as cooperativas de consumidores de Rochdale, fundadas a partir de 1844,
e cujo objetivo inicial foi a oposio misria causada pelos baixos salrios
e pelas condies de trabalho desumanas, por intermdio da procura coletiva
de bens de consumo baratos e de boa qualidade para vender aos trabalhadores
(2012: 33). Santos analisa que as primeiras cooperativas de trabalhadores foram
fundadas na Frana, por volta de 1823, por operrios que, depois de organizarem
uma srie de protestos contra as condies de trabalho desumanas nas fbricas
em que trabalhavam, decidiram fundar e administrar coletivamente suas prprias
fbricas. Segundo ele, estas primeiras experincias de cooperativas surgiram da
inuncia das teorias pioneiras do associativismo contemporneo. Como prtica
econmica, o cooperativismo inspira-se nos valores de autonomia, democracia
participativa, igualdade, equidade e solidariedade.
Em entrevista realizada com Joo Wilson, presidente da Cooperativa Mista
de Produo Agropecuria e Extrativista das Famlias Trabalhadoras Rurais de
Pinho CooperAFATRUP (que atualmente conta com mais de 100 cooperados)
este descreve como, a partir de uma conversa com os posseiros, acampados
e faxinalenses, surgiu a necessidade de uma entidade que trabalhasse a
organizao da produo e buscasse comrcio para melhorar a renda dos
produtores. Ele arma que a diculdade de permanecer no campo cada vez
6
Todos esses movimentos tinham e tm como foco a luta pela terra e a garantia de autonomia
na organizao do territrio.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
319
mais evidente, e que as famlias esto deixando a terra porque no conseguem
viabilizar-se nas propriedades. Segundo Joo Wilson, a cooperativa surge
dessa necessidade de melhorar a comercializao e a renda. Historicamente
a prpria associao AFATRUP sempre participou da resistncia na luta pela
permanncia na terra e chegou um momento em que, para permanecer na terra,
os produtores precisam ter renda, ter condies de crescer em cima da terra e
dela retirarem o sustendo de seus lhos. E, assim, evitar a intensa migrao de
populao regional que se observa na atualidade.
Com a nova congurao histrica, a associao j no conseguia dar
suporte a esse novo momento da luta pela possibilidade de ter acesso a terra
e viver nela. Surge, ento, a ideia da cooperativa para trabalhar o suporte
produo e, principalmente, os caminhos de comercializao. Esse o papel
mais importante da CooperAFATRUP, ser uma ferramenta que proporcione aos
produtores caminhos para que possam vender parte de sua produo ao mercado
institucional, atravs de projetos como, por exemplo, venda de merenda
escolar pelo PENAE Programa Nacional de Aquisio de Alimentao Escolar.
Nesses programas, alguns caminhos para cumprir e alcanar os objetivos foram
traados. Ele conta que a cooperativa no se restringe a isso, ela busca outros
mercados convencionais, outras regies e no exatamente apenas os mercados
institucionais, mas nesse momento o mercado mais forte para a cooperativa
a comercializao para o Estado atravs da SEED, o fornecimento de merenda
escolar tanto para o municpio de Pinho quanto de Guarapuava
7
.
De acordo com Joo Wilson, o PENAE foi resultado da ao das entidades
ligadas agricultura familiar, sindicatos, cooperativas e associaes que
durante muito tempo vm lutando para que haja uma garantia, por parte da
legislao, de que 30% do que for consumido na alimentao escolar seja
comprado da agricultura familiar. E diz mais:
Porque ao mesmo tempo em que voc fornece alimento de qualidade
saudvel para que essas crianas se desenvolvam e possam crescer
com menos doenas, enm, por outro lado voc est viabilizando
outras famlias que at ento no tinham outra renda a no ser, s
vezes, bico como se diz por a, com fazendeiros... mas muito, muito
pouco para dar uma qualidade de vida e condies de permanecer
na terra. E que agora em um pequeno espao de terra, ele consegue
produzir, entregar para a cooperativa que repassa para as escolas,
e ele tem uma renda que lhe garante o sustento de sua famlia.
(Entrevista realizada em 24/08/13).
7
Em 2013, a venda para as escolas de Guarapuava foi perdida para uma associao do outro
municpio, o que est exigindo da CooperAFATRUP uma reestruturao de suas atividades.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
320
O entrevistado diz que em 2010 foi assinado esse contrato com uma
proposta de 51 mil reais e foi cumprido na ntegra, e que em 2011, aumentou
para 523 mil reais, e o projeto de 2012 foi para 1 milho e meio de reais
8
.
Parece que ningum enxergava essa produo toda. Relata que, no momento
da fundao da cooperativa, diziam isso loucura, aqui no Pinho? Isso no
existe. E agora as pessoas esto procura para associar-se. Comearam com 25
associados e atualmente contam com mais de 100, e a cada dia chegam mais
pessoas querendo fazer parte da cooperativa. Pessoas que querem produzir e
a veem como um caminho seguro. A produo, por sua vez, que foi destinada
para a merenda escolar e outros mercados como o CEASA, ultrapassou mais de
40 toneladas com produtos tais como: hortalias, repolho, brcolis, feijo,
farinha de biju, fub e canjiquinha. Explica que a dinmica da cooperativa
pegar a matria prima do produtor e entregar para as escolas.
Santos (2012), nesse sentido, diz que uma das caractersticas essenciais
das cooperativas de trabalhadores que estes so proprietrios. A difuso das
cooperativas teria, assim, um efeito igualitrio direto sobre as distribuies da
propriedade na economia, estimulando o crescimento econmico e diminuindo
os nveis de desigualdade. Segue:
O cooperativismo considera que o mercado promove um dos seus valores
centrais, a autonomia das iniciativas coletivas e os objetivos de
descentralizao e ecincia econmica que no so acolhidos pelos
sistemas econmicos centralizados. Face comprovada inviabilidade
e indesejabilidade das economias centralizadas, as cooperativas
surgem como alternativas de produo factveis e plausveis, a partir
de uma perspectiva progressista, porque esto organizadas de acordo
com princpios e estruturas no capitalistas e, ao mesmo tempo,
operam em uma economia de mercado (2012: 36 grifo nosso).
Mas a organizao atravs de uma cooperativa, administrada por um
jovem nascido no local e com uma experincia slida na luta pela terra atravs
do movimento dos posseiros, faz com que esta possa ter uma importncia
tambm na manuteno de prticas de produo tradicionais. Assim, por
exemplo, quando indagado a respeito da variedade de sementes de milho
crioulo mantidas historicamente na regio, de gerao em gerao, Joo
Wilson arma que antes da criao da cooperativa foram realizadas algumas
lutas pela valorizao dessas sementes crioulas. Ele lembra que a Secretaria
da Agricultura do municpio, em 2007, estava fechando um convnio com a
8
Infelizmente, apenas uma pequena parte dele aprovado devido entrada no processo da
associao de Guarapuava.
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
321
Syngenta para o fornecimento de sementes para os produtores. Mas o processo
foi barrado pelo movimento social local. Diz:
Ns zemos uma manifestao e mobilizamos os agricultores porque
no tava sendo valorizada a semente crioula que ns j tnhamos
aqui, ns no somos contra o melhoramento e que as coisas evoluam,
mas da forma que estava sendo colocado praticamente exclua o
produtor que tem as sementes prprias e ele no iria poder nanciar
porque no tinha como provar que comprou a semente, e vrias
circunstncias iam amarrando para favorecer as empresas. (...) Ns
tivemos esse enfrentamento e os representantes da Syngenta foram
praticamente atropelados e os colocamos para correr (Entrevista
realizada 24/08/13).
Alm do mais, segue Joo Wilson, como pode chegar um tcnico dizendo
para o produtor que h mais de cem anos utiliza aquela semente, e de repente,
tem que desfazer-se para adquirir outra melhor? Essas tentativas, j apontadas
por Escobar, so programas de ajuda dos pases centrais aos pases em
desenvolvimento, na tentativa de acelerao do crescimento econmico. Em
termos gerais, os projetos de desenvolvimento econmico, como do caso das
sementes da Syngenta, so concebidos e implementados com base em polticas
traadas e implantadas por agncias tecnocrticas nacionais e internacionais,
sem a participao das comunidades afetadas por essas polticas.
Podemos perceber, desde a formao da AFATRUP, que tinha como um de
seus eixos de atuao a organizao da populao local na luta para impedir
a voracidade insacivel das madeireiras em direo ao controle dos territrios
e expropriao das comunidades, que a resistncia ao desenvolvimentismo
ocorre de forma muito mais efetiva e sistemtica do que o discurso hegemnico
pretende reconhecer. A CooperAFATRUP vem como resposta a um novo contexto
de luta, em que um dos inimigos passa ser a inviabilizao da permanncia
das famlias que lutaram mais de vinte anos defendendo suas terras contra o
ataque homogeneizador da Zattar, devido necessidade de renda monetria
que o mundo contemporneo traz. Necessidade de renda que gera uma presso
signicativa no sentido da migrao para o trabalho.
explicitada, pelo presidente da cooperativa, a resistncia a esse modelo
desenvolvimentista avassalador que tenta destruir qualquer forma de produo
que possibilite autonomia. So tambm reivindicaes da cooperativa: a
manuteno da diversidade cultural e das formas de produzir e de entender a
produo, no se sujeitando ao modelo nico imposto pela expanso perversa
da economia capitalista. Iniciativas como essa, por sua vez, podem amenizar
e mesmo subverter a hegemonia do capitalismo. Nesse sentido, so criados
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
322
mecanismos de resistncia a sua expanso. Santos (2012) salienta como tais
mecanismos vm se contrapor a uma perspectiva dicotmica do mundo, que
concebe:
Povo versus os outros, tradicional versus moderno, sociedade
civil versus Estado, comunidade versus sociedade, local versus global,
sabedoria popular versus conhecimento moderno. Em que no cabe
a possibilidade de um termo mdio nem as propostas de articulao
entre os termos confrontados (2012: 57).
A tentativa tem sido a destruio, rejeio, inviabilizao, invisibilizao
de qualquer forma de pensamento que possa emergir e estabelecer nexos de
solidariedade e resistncias hegemonia desenvolvimentista. Nesse sentido, o
exemplo da ao dos posseiros/faxinalenses em defesa de suas terras faz coro
com, guardadas as propores, a luta do povo indiano contra o colonialismo
ingls. Santos (2012) analisa a resistncia exortada por Gandhi, ao recusarem-
se a comprar o sal vendido pelos ingleses e debilitarem, assim, a base econmica
do imprio ingls. Gandhi, ao abordar esse contexto, utiliza a palavra swadeshi,
que segundo Santos signica:
Autonomia econmica local, baseada no esprito que nos exige que
sirvamos os nossos vizinhos imediatos preferencialmente a outros
e que usemos as coisas produzidas nossa volta em vez das coisas
produzidas em lugares remotos (...) uma forma de ver o mundo
que implica uma atitude antidesenvolvimentista face produo e
uma atitude antimaterialista em relao ao consumo. (...) existe o
suciente para satisfazer as necessidades de todos, mas no para
satisfazer a ambio de todos, uma alternativa ao desenvolvimento
implica uma forma de ver o mundo que privilegie a produo de bens
para consumo bsico em vez da produo de novas necessidades e de
artigos para satisfazer a troco de dinheiro (2012: 55-56).
As lutas travadas pela CooperAFATRUP nos remetem ao movimento de
resistncia existente em toda a Amrica Latina e pelo mundo. Uma batalha
constante para expurgar pensamentos interiorizados de pertencer a uma
identidade negativa como sendo real e inevitvel, de acordo com a qual ser do
lugar signica ser atrasado. o mesmo que as pessoas diziam para Joo Wilson:
isso loucura aqui no Pinho? No existe. Se no fossem os campos aqui a
gente passava fome.
H, ainda, outro aspecto a ressaltar: a invisibilizao da produo dos
povos tradicionais, em que frao signicativa voltada para o consumo e
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
323
para as trocas locais na medida em que esta no se encaixa nas metodologias
de avaliao de produo vigentes. Assim, do ponto de vista quantitativo,
os parmetros no consideram sequer aquilo que dizem considerar. No caso
da produo, apenas parte dela medida, aquela que comercializada no
mercado. A fala de Joo Wilson ilustrativa neste sentido:
Ns temos uma produo, imensa, um povo batalhador, natureza
generosa e terra frtil. Ns entendemos que estamos em cima de uma
mina de muita prosperidade em nosso municpio. Precisa realmente
acreditar nesse potencial, acreditar nesse sonho de transformar o
meio rural realmente e que ns temos todas as condies para isso,
organizar e fazer a cada dia, fazer com que as pessoas acreditem.
Ao longo da histria a autoestima dos produtores por causa de
iniciativas frustradas, por acreditar em propostas politiqueiras e que
no deram resultados, muitos desistiram ou quase que abandonaram
o sonho de melhorar a vida a partir de sua propriedade, a partir do
pedao de terra. Quando as pessoas nos diziam que a cooperativa
no ia dar certo, ns vamos a carncia de autoestima dos produtores
e que estamos resgatando e dizendo que possvel ter uma renda de
R$1.500,00 aqui nessa propriedade que para a realidade dele era visto
como impossvel. A gente via famlia que sobrevivia com auxilio da
bolsa famlia, ou com menos que isso talvez com R$100,00 reais por
ms, da ela tinha uma parte de produo que ela no precisava
comprar, mas hoje a gente mostra que possvel ter uma renda de
R$1.500,00 ou R$2.000,00. Consegue ter at dois salrios mnimos e
hoje de repente j temos famlias com dois salrios mnimos dentro
de sua propriedade, que isso alguns anos atrs, antes da cooperativa
partir para esse processo de venda, era praticamente impossvel e
nem imaginava que ele poderia fazer isso um dia (Entrevista realizada
em 24/08/13 grifo nosso).
Verica-se, portanto, que no alterou signicativamente a dinmica da
produo. Muitos desses produtos, que so vendidos hoje, eles j produziam,
s houve pequena melhora e aumento na quantidade. No que diz respeito
s frutas, comenta Joo Wilson: ns entregamos 30 toneladas de laranja
e essa laranja nem foi plantada, estima-se que h uma produo acima de
100 toneladas por ano. Com ela, as famlias fazem o suco e o excedente
comercializado e gera renda (Entrevista realizada em 24/08/13). E todo esse
volume de produo no medido pelos ndices ociais.
9
Isso porque o modelo
9
Essa discusso se encontra de forma mais aprofundada em Paulo Renato Dias (2009).
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
324
desenvolvimentista se funda na incapacidade interna de algumas regies ditas
pobres e desconsidera o autoconsumo e as trocas no formais, exigindo
que, para contar, a produo precise necessariamente passar pelo mercado
capitalista.
Santos (2012) analisa o ensaio de Ghandi que questionou a noo de
igualdade de direitos entre um gigante e um ano: Antes de se poder pensar
em igualdade entre desiguais, o ano tem de ser elevado altura de um gigante
(2012: 134). Pensar um processo em que determinados grupos tachados de
pobres os anes possam construir seus espaos de alteridade, e no sejam
arrastados a um nico caminho possvel, o desenvolvimento o gigante.
Julgo aqui pertinente debruar-me, muito rapidamente, sobre uma questo
que se refere ideia de existncia de modelos nicos. Implica necessariamente
um retorno s fontes do pensamento grego antigo para indagar suas concepes,
que exercem, at hoje, considervel inuncia, e se constituram nos
fundamentos do pensamento losco e cientico das sociedades ocidentais.
No cabe aqui aprofundar, mas pensar de onde parte o sentido da verdade e
como assimilado, e o que acontece com aqueles que tentam rebat-lo.
Para isso vejamos como Emanuele Severino (1984), ao comentar
o nascimento da losoa, diz que ela se encontra na base de todo o
desenvolvimento da civilizao ocidental e que a forma desta civilizao
impera hoje sobre todo o planeta e determina at mesmo os aspectos mais
ntimos da nossa existncia individual:
A losoa grega abre o espao aonde se viro a movimentar e a
articular no apenas as formas de cultura ocidental, como tambm
as instituies sociais em que tais formas encarnam e at o prprio
comportamento das massas. Arte, religio, matemticas e cincias
naturais, moral, educao, ao poltica e econmica, e ordenamento
jurdico acabam por ser integrados neste espao originrio (...) em
geral, pensa-se que na determinao de uma grande poca histrica
no se possa encontrar a losoa (que o trabalho de uma elite
restrita, que vive sempre fora dos lugares onde se decidem os
destinos do mundo). A losoa grega abre o espao onde jogam as
foras dominantes da nossa civilizao (1984: 17).
Severino observa que a civilizao ocidental apresenta-se hoje como
civilizao da tcnica, ou seja, como organizao da aplicao da cincia
moderna. Para ele desta organizao que os povos privilegiados isto ,
aqueles que a construram recebem tudo aquilo de que necessitam par viver
e talvez que, no futuro, tal possa acontecer com todos os povos do planeta
(1984: 18).
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
325
o nascimento de um modelo nico que, como diz Severino, pode ser
assimilado a todos os povos. Segundo o autor, os primeiros pensadores gregos
abandonam a existncia dominada pelo mito e olham-na de frente. Surge
assim, diz ele, a ideia de um saber que seja irrefutvel, isto , evidente, e
incontestvel. E que seja irrefutvel no porque a sociedade e os indivduos
nele tenham f ou vivam sem dele duvidar, mas porque ele prprio capaz
de rebater todos os seus adversrios. um saber que no pode ser negado,
acrescenta, nem por deuses, nem por mudanas dos tempos ou dos costumes.
Um saber absoluto, denitivo, incontroverso, necessrio, indubitvel. Esse
saber a Filosoa (cf. Severino, 1984: 19).
Segundo o autor, a palavra grega que serve de base ao termo abstrato sophia
o adjetivo saphs, que quer dizer claro, manifesto, evidente, verdadeiro
(1984: 20). Portanto, a palavra losoa o interesse por aquilo que se coloca
sob a luz, fora da obscuridade em que se encontram as coisas escondidas. E o
sentido de altheia verdade o no estar escondido.
No entanto, se pode compreender a razo pela qual a losoa chama-se a
si mesma epistme. Se ns traduzirmos esta palavra por cincia, esquecemos
que ela signica, letra, o estar stme que se impe sobre ep tudo aquilo
que pretende negar (1984: 25). Dinmica prpria do saber, graas a sua
inegabilidade: vai se impondo sobre todo adversrio que o pretenda negar ou
colocar em dvida. E o Todo a razo com base na qual se podia, acreditavam
os gregos, excluir qualquer resduo que se encontrasse em seu exterior.
O olhar para a extremidade, ento, no possibilita dar um fundamento
imensa riqueza dos povos. A presena desta ideia permite tomar distncia
e, anal, negar toda forma de saber, conhecimento, vida, na medida em que
se supe que possa ser desmentida, ultrapassada, corrigida. Acreditamos que
o nascimento da losoa vem por em evidencia o carter infundado, isto
, susceptvel de negar todo saber que at ento havia conduzido a vida do
homem. E a palavra Filosoa reunir o sentido de verdade e epistme do
pensamento eurocntrico que colocar todas as coisas particulares perante essa
verdade. Levando-as dissoluo ou assimilao.
Podemos vericar que a losoa grega procurou o sentido unitrio do
Todo para contemplar. J a cincia moderna, por sua vez, procura as partes
isoladas para domin-las e, portanto, para transformar o mundo atravs da
capacidade de predizer o futuro e, atravs de tal predio, control-lo. Com a
cincia moderna, a verdade da epistme cientica demonstrada atravs de
um conjunto de operaes prticas. Isso se dar pelo isolamento do carter
quantitativo da realidade: o verdadeiro conhecimento desta a quantidade.
Portanto, o verdadeiro conhecimento da realidade constitudo pela
matemtica. Segundo Emanuele, (1984b) ao se referir a Galileu, para esse: as
relaes matemtico-quantitativas constituem a verdadeira realidade (1984b:
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
326
30). Mas as quantidades implicam em critrios de medio, que ao incluir
certos aspectos, excluem outros.
Trazer essas discusses da rea da losoa nada mais que uma tentativa
de buscar entender como os discursos sobre verdade absoluta e irrefutvel,
epistme e totalidade tornaram-se uma tendncia recorrente para se
pensar os contextos brasileiro e latino-americano, que foram se ideologizando
a partir da perspectiva colonialista dominadora. Se epistme signica estar
sobre, isto , impor-se, negar, aplainar toda e qualquer forma de pensamento
ou verdade que se destaca exatamente por se distinguir do modelo dominante
de produo. Fica evidente por que a produo dos faxinalenses e posseiros
no visibilizada: h uma tentativa, segundo o presidente da cooperativa,
de fazer crer que se no fossem os campos (as fazendas, o agronegcio
e no passado o extrativismo da madeireira Zattar) a populao de Pinho
estaria padecendo de fome. Aplica-se aqui a epistme grega estar sobre, isto
, uma tentativa de eliminar toda forma autnoma de vida, e hoje, com uma
nova roupagem, o estar sobre o desenvolvimento econmico. Conjuga-se
a ele o discurso que v a diversidade sempre sob o risco do desaparecimento,
pois que irremediavelmente condenada pela expanso inevitvel e valorizada
do progresso. Toda e qualquer diversidade negada, pensamento herdado
da ontologia clssica, que busca fazer com que tudo acontea na totalidade
porque o que diferente, diverso, isto , no idntico totalidade, deve
ser eliminado, refutado, submetido ou arrastado para o mesmo. Um dos
mecanismos utilizado pelo discurso homogeneizador desenvolvimentista,
quando no reconhece a produo dessas comunidades, a elaborao das
noes de pobreza e carncia, utilizadas de maneira corrente. O uso destas
noes abarca em um mesmo conjunto populaes distintas no somente
comunidades tradicionais, mas tambm grupos rurais e, principalmente,
urbanos que no dispem de meios prprios e autonomia relativa em seu
processo de reproduo, sendo dependentes exclusivamente da insero no
mercado capitalista. Como foi a tentativa do governo municipal de impor aos
pequenos produtores a adoo da semente Syngenta medida que traria,
como vimos acima, a perda da autonomia, pois a semente crioula a garantia
de acesso a todos os elementos necessrios continuidade da produo. O
outro exemplo, tambm citado, foi o caso da entrevistada que vendia seus
produtos hortigranjeiros no interior da Zattarlndia: ela estava inserida, mas
no assimilada, porque tinha seu pedao de terra, o que possibilitava a sua
famlia um grau de autonomia e independncia.
No que essa tenha sido uma escolha do grupo: as condies de
enfrentamento so denidas por um contexto de foras externas. Mas, frente
a elas, novamente a comunidade vai responder, como j descrito em captulos
anteriores, por meio de opes possveis. E, com sua exibilidade, tentar resistir
Parte III | Comunidades tradicionais, capitalismo e conitos agrrios Pinho
327
passagem da bola de neve desenvolvimentista que cotidianamente os ameaa.
Portanto, a garantia de direitos territoriais se coloca como uma conquista
necessria manuteno da diversidade como estratgia de resistncia aos
modelos nicos de desenvolvimento.
Referncias bibliogrcas
CAMARGO, Jos Silvrio de. s.d. Por que Nosso Municpio Chama-se Pinho?, Pinho:
Edio do Autor.
CANCIN, Nadir Apparecida. 1974. Conjuntura Econmica da Madeira no Norte do
Paran. Dissertao apresentada como requisito para obteno do grau de Mestre
no Programa de Ps-Graduao em Histria da UFPR.
CHAUI, Marilena. 2000. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritria. So Paulo:
Fundao Perseu Abramo.
DIAS, Genebaldo Freire. 2001. Educao Ambiental: Princpios e Prticas. So Paulo:
Gaia.
DIAS, Paulo Renato Arajo. 2010. Instrumentos, Tcnicas e Vises de Mundo
na Comunidade Quilombola de Joo Sur: Alteridade como Reserva de
Possibilidades. Dissertao apresentada como requisito para obteno do grau
de Mestre no Programa de Ps-Graduao em Tecnologia (PPGTE) da UTFPR.
Disponvel: http://files.dirppg.ct.utfpr.edu.br/ppgte/dissertacoes/2009/ppgte_
dissertacao_301_2009.pdf.
DUSSEL, Enrique. 1986. tica comunitria. Petrpolis: Vozes.
ESCOBAR, Arturo. 2007. La invencin del Tercer Mundo Construccin y
Deconstruccin del Desarrollo, Norma, Santaf de Bogot. Disponvel em: http://
pt.scribd.com/doc/66190844/La-Invencion-Del-Tercer-Mundo. Acesso em 12 de
abril 2013.
FRESSATO, Soleni Biscouto. 2008. O Caipira Jeca Tatu: Uma Negao da Sociedade
Capitalista? Reapresentaes no Cinema de Mazzaropi. In: IV ENECULT Encontro
de Estudos Multidisciplinares em Cultura.
FURTADO, Celso. 1972. O Mito do Desenvolvimento Econmico. So Paulo: Civilizao
Brasileira.
GONZALEZ, Horcio. 1985. O que subdesenvolvimento. So Paulo: Brasiliense.
LUTZEMBERGER, Jos Antnio. 1978. Os Processos Tecnolgicos atuais. Simpsio
Nacional de Ecologia 1, Curitiba.
MACIEL, Laura Antunes. 1997. A Nao por um o Caminhos, Prticas e Imagens da
Comisso Rondon. Tese de doutoramento. So Paulo: PUC/SP.
MARX, Karl. 1978. Sobre o Colonialismo. Lisboa: Editorial Estampa, Vol. I.
MONTEIRO, Nilson. 2008. Madeira de Lei: Uma Crnica da vida e obra de Miguel
Zattar. Curitiba: Edio do autor.
328
MUOZ, Sonia. 2011. Salud y desarrollo en el contexto Latinoamericano in Revista
Cubana de Salud Pblica, La Habana, v. 37, n. 2, Disponvel em: http://www.
scielosp.org/pdf/rcsp/v37n2/spu12211.pdf.
ODWYER, Eliane Cantarino. 2008. Carteira Assinada: Tradicionalismo do desespero?
In: NEVES, Delma P., MORAES, Maria Aparecida (org.). Processos de Constituio e
Reproduo do Campesinato no Brasil. So Paulo: UNESP.
PASSOS, Renato Ferreira. s.d.. O Pinho que eu Conheci. Pinho: Edio do autor.
ROUANET, Srgio Paulo. 1993. O Elogio do Incesto. Ensaios. So Paulo: Companhia
das Letras.
SALLES, Jeferson de Oliveira. 2004. A relao entre o poder estatal e as estratgias de
formao de um grupo empresarial paranaense nas dcadas de 1940-1950: o caso
do grupo Lupion In: OLIVEIRA, R. C. (org.). A Construo do Paran Moderno:
Polticos e Poltica no Governo do Paran de 1930 a 1980. Curitiba: SETI.
SANTOS, B. de S. (org.). 2012. Produzir para viver: os caminhos da produo no
capitalista. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira.
SANTOS, Milton. 2000. Territrio e sociedade. So Paulo: Ed Perseu Abramo.
SANTOS, Patrcia dos. 2009. A Cobertura Florestal no Municpio de Guarapuava-PR
no Espao e no Tempo. Trabalho apresentado no XII Encontro de Gegrafos da
Amrica Latina, Montevidu, 2009. Disponvel em http://www.ciflorestas.com.br/
arquivos/doc_a_tempo_14395.pdf. acessado em 18.04.2013.
SCHWARZ, Roberto. 1992. As Idias Fora do Lugar. In: Ao Vencedor as Batatas. So
Paulo: Duas Cidades.
SEVERINO, Emanuele. 1984a. A Filosoa Antiga. Lisboa: Edies 70.
SEVERINO, Emanuele. 1984b. A Filosoa Moderna. Lisboa: Edies 70.
SPIVAK, Gayatri C. 2010. Pode o Subalterno Falar? Belo Horizonte: Editora UFMG.
SPRANDEL, Mrcia Anita. 2004. A Pobreza no Paraso Tropical: Interpretao e
Discurso sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumar.
SUNKEL, Osvaldo. 1977. El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teora del Desarrollo,
Mxico: Ed. Siglo Veintiuno.
Parte IV
Perspectivas dos sujeitos
de suas prprias histrias
11. Reexes sobre vida, poltica e religio
Maria Izabel da Silva
12. Faxinal dos Ribeiros
Equipe da Escola Rural Municipal Norberto Serpio
13. Agenda
Joo Oliverto de Campos
331
Captulo 11
Reexes sobre vida, poltica e religio
1
Maria Izabel da Silva
Minha Histria de Vida
E
u, Maria Izabel, nascida em 26 de novembro de 1934 na cidade de Pinho,
em uma pequena pgina da minha histria vou contar... No dia 27 de
novembro
2
encontrei um grande amigo de luta, Frei Domingos, tive uma
surpresa, pois tivemos um trabalho honesto e cheio de resultados e surpresas
1
Os textos a seguir foram fornecidos por D. Maria Izabel para publicao neste livro. O ltimo
deles a concluso da apostila do encontro Terra, Bblia e Ecologia, realizado em Guarapuava
entre 18 e 21 de novembro de 1996, e no qual D. Maria Izabel citada. O ttulo geral foi
atribudo pela equipe do projeto Memrias dos Povos do Campo no Paran.
2
A autora se refere ao II Seminrio Memria dos Povos do Campo no Paran, realizado em
Faxinal dos Ribeiros Pinho/PR em 27 de novembro de 2012.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
332
em Pinho. E com isso aprendi que muita das vezes no entendemos a vida,
no entendemos a necessidade de uma religio, uma crena na vida de um
lder, para que tudo que zermos possa ser de uma forma inteligente. E quando
amamos a sabedoria caminhamos na estrada das horas fazendo do corao o
relgio da vida.
Podemos sim ajudar as pessoas conforme suas necessidades, Jesus nos
deixou um exemplo a ser seguido, ele foi o maior lder e na bblia ele nos
deixou vrios exemplos de compaixo pelo prximo, isso dever de todo
cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei Joo 15:12.
A Poltica e a Religio
A poltica e a religio podem sim caminharem juntas, com honestidade e
respeito. A poltica ela vem desde a antiguidade, anos antes de Cristo.
A bblia relata historias de reinados, por exemplo, Davi era rei de Israel,
Jos foi governador do Egito. Com isso podemos ver que possvel sim a
poltica andar junto com a religio, no mundo onde ns vivemos tudo que
fazemos poltica. Podemos ainda revolucionar a nossa poltica quando os
irmos pensarem juntos atravs da fora crist. Acredito nas entidades, na
fora do povo na igreja.
O que poltica? O que Religio?
A poltica, como forma de atividade, est estreitamente ligada ao poder.
O poder poltico o poder do homem sobre outro homem, descartados outros
exerccios de poder, sobre a natureza ou os animais. E a religio muitas vezes
usada como sinnimo de f ou sistema de crena, mas a religio difere da
crena privada na medida em que tem um aspecto pblico, assim estabelece os
smbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus prprios
valores morais.
Acho to engraado ver pessoas crists dizendo que so contra poltica
no meio cristo. Talvez no leram algumas partes da bblia e ainda no
descobriram que os grandes homens de Deus foram lderes polticos: Reis,
Juzes, Governadores... Servos de Deus que administraram reinos e estruturaram
cidades. Acredito que se todos os cristos entendessem isso, falariam menos, e
orariam mais pelas autoridades que sero escolhidas.
Ressalto aqui o conselho de Paulo: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que
se faam deprecaes, oraes, intercesses, e aes de graas, por todos os
homens; Pelos reis, e por todos os que esto em eminncia, para que tenhamos
uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade; Porque isto
bom e agradvel diante de Deus nosso Salvador Timteo 2:1-3
Parte IV | Perspectivas dos sujeitos de suas prprias histrias
333
O Sabor de Viver
Acredito sim que a vida bonita, que a casa, comida no h nada como
um sonho para criar o futuro, quanto maiores somos em humildade mais perto
estamos dos sonhos se tornarem realidades. A cada dia pode ser um grito de
vitria, na vida da gente passa tudo muito rpido, temos que aproveitar cada
momento, isto , plantar, colher e desfrutar das mais belas riquezas de Deus
para ns. A alegria de ouvir o cantar dos passarinhos, muito precioso cuidar
de si mesmo, isso nos mostra que para sermos felizes no existe idade.
Concluso
(retirada da apostila do encontro Terra, Bblia e Cidadania, realizado em
Guarapuava entre 18 e 21 de novembro de 1996)
A parte da manh foi dedicada a fazer uma sntese do que j vimos, dentro
dos objetivos propostos.
A Palavra de Deus ilumina a partir da realidade (Lc 24, 13-35), por isso,
primeiro vimos a realidade para depois fomos buscar a fundamentao bblica
para o nosso trabalho com a terra.
Sobre a questo poltica, temos que olhar com mais cuidado para o nosso
trabalho de base: O revolucionrio aquele que sabe escutar a grama
crescer. Devemos saber descobrir onde est o povo, o que est sentindo; os
sonhos e as utopias que o povo tem; saber escutar a comunidade.
Por que, com tantos assentamentos na regio, no conseguimos eleger
trabalhadores sem-terra?
Sobre a compra de votos. Isso haver sempre. a prtica dos grandes,
dos covardes e corruptos. No podemos justicar que no temos dinheiro
como eles. No podemos entrar neste jogo sujo. Temos que apostar em outros
recursos. Temos propostas melhores; temos militncia, pessoas... nisso que
temos que apostar para vencer a prtica dos grandes.
O medo. O medo s tem quem no acredita em si e quem no acredita em
Deus. A f sempre um ato de coragem, de esperana. Quem tem f, espera.
O medo sempre vem da falta de f.
Clareza do projeto poltico. Temos que conhecer, aprofundar, discutir e
conhecer melhor nossas propostas, para podemos discuti-las e pass-las ao povo.
Mstica. a ligao com o povo e com Deus, alimentada pela espiritualidade.
No basta a luta. Temos que aliment-la. Mstica e espiritualidade exigem
tempo, espao, prtica. Temos que ter momentos de orao, de contemplao,
de leitura bblica... Foi o que zemos nestes dias: vimos a realidade, reetimos
sobre ela, lemos a Bblia, partilhamos, escutamos, celebramos...
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
334
D Maria Izabel nos deu um bonito testemunho: Cada rosto do irmo
que olhamos enriquece a gente. Tem gente que olhamos e nos encantam,
enriquecem a gente. Outras pessoas a gente olha e no querem nada conosco.
Luta da terra. Terra vida, beno, dom, presente, luta, conquista, Me...
Por isso, a terra deve ser conquistada para ser repartida e partilhada, e da
brotar a nova sociedade. A terra fonte geradora de vida. Foram as mulheres
que descobriram que a terra fazia germinar as sementes. Enquanto os homens
caavam e pescavam, as mulheres contemplavam o que acontecia com a
natureza, colocavam as sementes no cho, e viam quando nasciam e cresciam;
oresciam e davam frutos.
Valores ticos. Para ns hoje muito importante recuperar valores
ticos na luta da terra e pela terra, nos acampamentos, nos assentamentos,
nas comunidades, no trabalho poltico. So valores ticos hoje: delidade,
ser el, ser corajoso(a), ter rmeza, perseverana, competncia, manifestar
solidariedade (porque tudo est interligado, porque Deus relao, ligao,
solidariedade), respeito e ternura com a natureza.
Recebemos a visita fraterna do Pe. Ari Marcos (Coordenador Diocesano de
Pastoral) e do Bispo D. Giovani, a quem muito agradecemos.
335
Captulo 12
Histria de Faxinal dos Ribeiros
1
Equipe da Escola Rural Municipal Norberto Serpio
F
axinal dos Ribeiros recebeu esse nome devido chegada dos primeiros
moradores, sendo a famlia Ribeiros, entre elas a Sr Silvana Ribeiro.
Era um serto de mata fechada, onde existiam onas e outros animais.
Construram ranchos feitos de varas e cobertos com taquaras para morarem.
Mais tarde, chegaram as famlias Nanguara, em que a me Maria era uma escrava
que havia sido liberta. Tambm a famlia Prestes, Mariano Borges, Serilho e
Silvrio povoaram a regio. As pessoas que vinham para morar traziam nos
cargueiros alimentos, roupas, camas e ferramentas. Viajavam a cavalo e a p.
A comunidade
Antigamente, em Faxinal dos Ribeiros ningum dava importncia para
terras, onde quisesse morar era s fazer uma casa e todos respeitavam, ento
ali era chamada de frente um bom pedao de terreno.
Existiam muitos pinheiros gigantes, alguns eram derrubados para tirar os
galhos e fazer lavoura, o restante no era aproveitado.
Nesse tempo, criavam-se muitos porcos soltos, pois havia frutas em
grande quantidade, principalmente pinhes. Quando matavam os porcos, eram
enxugados os panos de toucinhos na fumaa, depois colocados em cestos uma
camada de toucinho e outra de palha, at encher o cesto.
A carne era frita e enlatada junto com a banha.
1
Este texto foi elaborado pela equipe de professores e funcionrios da Escola Municipal Rural
Norberto Serpio, tendo participado de sua produo, segundo informao fornecida pela
escola, as seguintes pessoas: Odete Lber, Neuza Mazur, Soa Mazur, Noeli Santos Alves, Janete
do Belm Siepmann, Nilsa Ap. F. Oliveira, Neuza Ferreira Antunes, Claudemara Serpio Ferreira,
Pedro de Oliveira, Terezinha Frana, Ilsa Dutra, Zlia de Frana, Linei Nogueira da Silva, Sirlei
Domingues, Neiva Liber, Luci Maria da Silva, Elizete de Ftima Ramos, Neuza de Lima, Deroni
Kinceler. Agradecemos a todos a possibilidade de public-lo neste livro.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
336
A alimentao era base de quirera, carne e feijo. Arroz e acar apareciam
somente quando uma pessoa cava doente e esses produtos eram comprados
em Cruz Machado. Comprava-se acar amarelo para mascar. A farinha de milho
era feita em monjolos e torrada em fornos. O sabo tambm era feito em casa
com uma sopa de cinza e gua que chamavam de adequada e era misturada
s gorduras.
As pessoas andavam sempre descalas, alguns compravam o primeiro par
de calados aos dezoito anos. Os pais tinham autoridade para com os lhos,
mesmo depois que estes se tornassem adultos.
As festas eram feitas em casas e igrejas, a comida tpica era caf e broa de
fub e centeio. Todos se divertiam e quase no existia violncia. Eram comuns
bailes, danas de So Gonalo, festas para homenagear santos e novenas
realizadas em casas de famlias. Nessas ocasies, eram convidados vizinhos,
parentes e compadres.
Os casamentos
Os casamentos eram feitos em Cruz Machado, mais tarde, em Vila Nova ou
Pinho. Os noivos iam a cavalo, os quais eram enfeitados com laos e ores.
Muita gente os acompanhava at as igrejas ou cartrios. Os casamentos sempre
eram arranjados pelos pais. Os noivos se conheciam na hora do casamento.
Existe uma histria ocorrida em Faxinal dos Ribeiros:
Ento o noivo chegou na casa da noiva e a futura sogra foi receb-lo. E
ele, ansioso para saber qual era a sua noiva, perguntou:
Voc a minha noiva?
E a velha respondeu:
No, a minha lha.
Ento, conheceram-se e casaram-se.
Economia
O transporte era feito somente a cavalo, as pessoas tinham tropas de animais
para transportar cargas. No trabalho da agricultura, plantavam milho, feijo,
abbora, fumo, mandioca, centeio, batata-doce e couve. Plantavam pouco e
colhiam somente para o sustento da famlia. Plantavam, por exemplo, um prato
de feijo e j era o suciente, pois no tinha comrcio, assim todos plantavam.
Meios de comunicao
No havia meios de comunicao, mas quando o Sr. Cipriano de Paulo
Santos comprou um rdio, todos os vizinhos iam at sua casa para ouvirem as
Parte IV | Perspectivas dos sujeitos de suas prprias histrias
337
programaes, pernoitavam acordados escutando msicas, pois era novidade
para todos.
Sade
Na rea da sade pode-se dizer que no existiam mdicos pela regio,
muitas pessoas morreram por falta de atendimento, somente havia alguns
curandeiros, como os Srs. Pedro Nanguara e Joo Hilrio, que ensinavam
remdios caseiros e leos homeopticos, chamados de laxantes.
Esses curandeiros diziam ter um bom poder de cura atravs dos benzimentos.
Eram pessoas respeitadas pela comunidade. At diziam que Pedro Nanguara
fazia profecias, como a do gafanhoto de ao que iria passar no cu e matar
muita gente. Ele se referia ao avio. Falava de tramas de os como teias de
aranhas, que trariam muitos males. Hoje so os os de luz.
Comrcio
Com o passar dos tempos, foi aumentando a populao e surgiram as
primeiras bodegas que eram de Nh T, Joo Gonalves, Abinel Nogueira e
Norberto Serpio, onde vendiam cereais, tecidos para roupas, ferramentas
e bebidas. Compravam das pessoas erva-mate feita em furnas, em troca de
produtos.
Na poca antiga, no havia estradas, somente picadas que ligavam Pinho
a Cruz Machado e a Guarapuava.
Escola
A primeira escola que surgiu era particular, o Sr. Manoel Lber contratou o
Prof. Cipriano para dar aulas aos seus lhos. Mais tarde, a pedido da comunidade,
esse professor lecionou na antiga Igreja de Nossa Senhora.
A escola que at hoje permanece em Faxinal dos Ribeiros, apesar de
ampliada, teve seu funcionamento inicial no barraco da Igreja So Sebastio,
onde trabalhou o Prof. Anbal Chico, aproximadamente nos anos de 1940 a 1945.
Venceslau Lber e Nh T que eram pessoas interessadas pela educao,
zeram um pedido a alguns lderes de Guarapuava para que fosse construda
uma escola. Assim, seria nomeado o Sr. Cipriano de Paula Santos o professor
da escola.
A escola foi construda, e como Cipriano no era morador da regio, at
que ele organizou para vir, as Sr
as
Olivia Rodrigues e Sebastiana Silvrio Caldas
deram incio s aulas. Essa escola recebeu o nome de Escola Isolada de
Faxinalzinho.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
338
O prefeito ou o lder dessa poca era o Sr. Juvenal Machado e o Governador
do Estado era Moiss Lupion. O povo no estava satisfeito com as aulas, pois
queriam que Prof. Cipriano ministrasse aulas.
Ento, Olvia morreu e o Sr. Cipriano veio trabalhar trs ou quatro anos e
foi embora, cando somente a Prof Sebastiana.
Depois de alguns anos, Cipriano voltou a trabalhar, onde havia de 30 a 40
alunos, com idade entre 7 a 18 anos, que vinham a cavalo at a escola, pois
moravam longe dali.
O professor mais uma vez deixou a escola e a Prof Sebastiana continuou
trabalhando por alguns tempos.
Em seguida trabalhou durante uns meses a Prof Terezinha da Silveira Belo.
Elvira Vier da Silveira, Dlcia En Ferreira e Maria Kusner Oliveira que
iniciaram no ano de 1966 trabalhando como professoras, tambm passaram um
curto espao de tempo na escola, o mesmo ocorreu com os professores Paulina
Verbaneck, ureo Silvrio Caldas, Eugnio Alexandrino Alves, Ernerstina Boeira
Machado e Izaltino Rodrigues Bastos.
Em 1982, a professora Nilza Ferreira Antunes comeou a trabalhar.
Por falta de reforma, essa escola cou muito velha e foi construda outra de
alvenaria, j com o nome de Escola Rural Municipal Norberto Serpio Ferreira.
Isso aconteceu no ano de 1986, na poca em que o Prefeito Municipal era o
Sr. Rubens Spengler.
A escola recebeu tal nome devido construo ter sido feita onde morava o
Sr. Norberto Serpio Ferreira. Ento, o seu lho Hilrio Serpio doou o terreno
e exigiu que a escola recebesse esse nome.
No ano de 1987, a Prof Neuza Mazur de Oliveira passou a ser professora
dessa escola.
Em 1990, a Prof Dlcia aposentou-se por tempo de servio como
professora, deixando de trabalhar nessa funo. Ento, a Prof Soa Mazur de
Oliveira Camargo ocupou essa vaga, iniciando o seu trabalho como professora.
Em 1996, a Prof Deroni Kinceler comeou a trabalhar como professora na
mesma escola. As trs ltimas citadas continuaram trabalhando at 1998.
Nesse ano de 1998, a Escola Norberto Serpio Ferreira foi nuclearizada,
reunindo nove escolas, dando incio a essas atividades no ano de 1999.
Ento, hoje trabalham nessa escola uma diretora, uma supervisora, doze
professores, trs serventes, trs estagirios, um guardio e dois motoristas.
A escola realiza suas atividades em dois turnos: manh e tarde, com dez
(10) turmas de 1 a 4 sries.
Aos sbados, professores do CEAD ministram aulas para jovens e adultos,
nos nveis de Ensino Fundamental (5 a 8 sries) e Ensino mdio.
A escola conta com um terreno de bom tamanho, sendo dois prdios
utilizados, numa rea de 273,26 m, com cinco (5) salas de aula, sala para
Parte IV | Perspectivas dos sujeitos de suas prprias histrias
339
direo e superviso, uma (1) cozinha, dois (2) banheiros e outras salas.
As escolas e os professores que integram o Ncleo Escolar Norberto Serpio
Ferreira so:
Divino Esprito Santo Prof Zlia
Olavo Bilac Prof Noeli e Janete
Presidente Costa e Silva Prof Odete e Claudemara
Taquaras Prof Ilza
Davi Brolini Prof Terezinha
Dorvalina Brolini Prof Neusa de Lima
Professora Izara Prof Nilza e Neuza Antunes
Castro Alves Prof Sirlei
Caracterizao da clientela
A populao da comunidade de Faxinal dos Ribeiros procede dos mais
variados nveis socioeconmicos e culturas diversicadas.
A maioria da clientela no tem salrio xo, com uma pequena porcentagem
de autnomos, tendo tambm diversas prosses como: agricultor, extrativista
vegetal, carpinteiro, pedreiro, motorista, diarista, funcionrio pblico, bia
fria, operador de moto-serra.
Os funcionrios pblicos so professores, serventes, agentes de sade e
telefonistas.
A comunidade conta com um posto de sade, permanecendo diariamente
um agente de sade, e recebendo a visita do mdico Dr. Joo Maria uma vez
por semana, e a cada quinze dias, a visita de um dentista.
No mesmo prdio funciona um posto telefnico 777-1195.
As comunidades que fazem limite com Faxinal dos Ribeiros so, alm da
Sede: Faxinal dos Silvrios, Santa Terezinha e Lageado Feio.
Moradores antigos
Em Faxinal dos Ribeiros no residem somente pessoas nascidas na
localidade, mas tambm, algumas que vieram de outros estados, como Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, bem como uma famlia vinda do Paraguai, que
ter sua histria relatada a seguir:
Telo Alves Cerenz veio do Paraguai com 8 anos de idade, juntamente com
seu pai, sua irm e um tio, na poca em que comeou a guerra. No caminho,
perderam sua me que estava grvida, cando extraviada no mato.
Diz ele que viajaram a p alguns meses, cando vrios dias escondidos
em Clevelndia para depois chegarem aqui enfrentando perigos, pois andavam
pelo mato.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
340
Chegando aqui, com muito sofrimento, comearam a construir suas vidas.
Hoje ele est com 84 anos, vive bem com sua famlia, ao lado da esposa
Ciniria, com 75 anos de idade. Tiveram 12 lhos.
Telo ainda trabalha na roa e luta com a criao de gado, porco, cabrito,
cavalo e carneiro. O casal Telo e Cinira faz farinha de milho no monjolo,
torrado em forno. Eles moem milho para fazer quirera em jorna e ainda utilizam
o cargueiro de cesto e bruaca para transportar milho, feijo, arroz e outros
produtos da roa para o paiol ou para a casa onde moram.
Eles conservam ainda alguns objetos antigos como gamelas para lavar os
ps e outra para farinha. Utilizam a sururuca para passar farinha e ainda tem o
ferro para cortar arroz e trigo, limpam as plantaes a enxada.
Maria Trindade de Oliveira Tibes veio de Santa Catarina com 32 anos,
juntamente com o esposo e dois lhos. Vieram at Palmas de nibus e de l
at aqui vieram a cavalo, trazendo a mudana em cargueiros.
Ela diz que no se acostumava com as pessoas estranhas, pois deixou seus
parentes em Santa Catarina. No tinha o hbito de guardar dias santos, no
sabia tomar chimarro, tinha diculdades na comunicao.
A cada seis meses voltava a Santa Catarina para visitar os parentes. Fazia
todos os trabalhos domsticos, e ainda fazia tric, croch, costuras, brolha,
crivo, farinha torrada em forno.
Seu esposo Domingos trabalhava na roa, fabricava cestos de taquara,
serrava tbuas com serra a mo.
Certa poca, cou viva com seus dois lhos e hoje mora com a famlia:
uma lha, o genro e dois netos. Ela faz comida e ainda pratica as mesmas
atividades do passado.
Tem boas amizades e vive bem, hoje com 71 anos.
Os sobrenomes existentes em Faxinal dos Ribeiros
Ribeiros Ferreira Oliveira Prestes
Gonalves Dutra Kinceler Serpio
Alexandrino Lber Antunes Domingues
Alves Mazur Frana Ovitski
Silvrio Dias Maral Siepmann
Nunes Borges Santos Silva
Macedo Nascimento Galinski Iarochinski
Caldas Tibes Cerenz Bastos
Cardozo Ramos Correa Camargo
Machado Lima Rodrigues Nogueira
Moraes Mendes
Parte IV | Perspectivas dos sujeitos de suas prprias histrias
341
A comunidade de hoje
O clima da comunidade subtropical mido, tendo uma vegetao com
pouca mata, principalmente poucos pinheiros, com um relevo um pouco
ondulado.
A agricultura mecanizada, com plantao de milho e feijo.
Tambm esto sendo desenvolvidas a apicultura e criao de alevinos.
Ainda existem criadores de gado e outros animais.
As estradas so cascalhadas, tendo uma linha de nibus que vem do
Pinhalzinho, passando por Ribeiros; isso auxilia no transporte dos moradores
da localidade at a Sede do Municpio.
O comrcio feito atravs de venda de palanques, carvo, xaxim, erva-
mate, lenha e alguns produtos agrcolas. Ainda existem pequenos armazns e
bares, onde as pessoas fazem compras de alimentos e bebidas.
Os meios de transporte mais utilizados so carro, cavalo e bicicleta. Os
meios de comunicao so telefone, rdio, televiso.
As comidas tpicas em festas de igrejas, casamentos e aniversrios so:
bolos, carne assada, salada, maionese.
As pessoas usam roupas simples, alguns acompanham a moda e as mulheres
idosas usam vestidos bem compridos.
Poltica
Em nossa comunidade foi eleito o primeiro vereador, o Sr. Domingos
Silvrio dos Santos, com uma votao de 501 votos, no mandato de 1993 e
1996.
Na prxima disputa eleitoral, foram eleitos vereadores o morador Manoel
Neri Lber, com 621 votos e Amilton Jos da Silva, com 160 votos, tendo seus
mandatos de 1997 a 2000
No ano de 2000 foi eleito o Sr. Sebastio Rodrigues Bastos. E no ano de
2004 foi reeleito pela 2 vez.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
342
Famlias descendentes que vieram de outros pases e estados
Famlia Pas/Estado de Origem Quem veio
Siepmann Alemanha Erick e Ville
Lube Europa Maria
Cerenz Paraguai Telo
Nanguara frica Maria (escrava)
Dutra Rio Grande do Sul Jos e Flaubiana
Lber Santa Catarina Manoel e Maria
Tibes Santa Catarina Maria Trindade
Meira Santa Catarina Valdovino
Frana Santa Catarina Francisco
Santos Rio Grande do Sul Pedro
Neri Guaraniau (municpio) Saturnina
Silveira Indgena Laura
POEMA
Faxinal terra amada
Da famlia Ribeiro foi morada
Os mais antigos moradores
Corajosos desbravadores
Faxinais, matas ou serto
Um pedainho do Pinho
Que aceita todos com carinho
No importa a nao
Faxinal dos Ribeiros
Tudo que se planta d
um solo abenoado
Que precisa ser preservado
Erva-mate e pinho
Da madeira construo
Somos orgulhosos
Por sermos lhos do Pinho.
Autora Prof Noeli Aparecida Santos Alves, 22/03/2000
Parte IV | Perspectivas dos sujeitos de suas prprias histrias
343
Uma histria engraada da dana de So Gonalo
O povo da comunidade de Faxinal dos Ribeiros sempre foi muito religioso e
devoto dos santos. Como era de costume, realizavam a Dana de So Gonalo.
Em uma determinada noite, quando as pessoas rezavam e danavam, com
muito louvor, os donos da casa resolveram fazer um churrasco apetitoso para
os visitantes se alimentarem.
E, as pessoas como j estavam com muita fome, iam at o local onde o
churrasco estado sendo feito, serviam-se de carne e voltavam para a dana. Foi
assim que o So Gonalo cou meio gorduroso e com cheiro de churrasco, pois
os devotos beijavam e pegavam no santo com as mos e a boca impregnadas
do gosto da carne.
Certa altura, algum beijou o santo com muito fervor, que a imagem
caiu no cho e, para a surpresa e correria de todos, havia vrios cachorros
participando da festa, que, prontamente, ao sentirem o cheiro de carne no
santo, abocanharam o coitadinho e saram em disparada para fora do salo,
formando imediatamente um alvoroo. Nesse momento, os ces disputavam
ardentemente o santo, que voava de boca em boca.
Depois de muita luta, os devotos conseguiram reaver o So Gonalo, que
voltou todo molhado de saliva dos cachorros, fazendo desaparecer totalmente
o gosto de churrasco.
Os convidados acalmaram-se e continuaram com a devoo at o raiar
do dia.
Documento anexado I
2
Bom Retiro, 11-11-58.
Estimada amiga e colega D. Sebastiana
Saudaes
Que a paz do Senhor esteja sbre sse lar o que desejo.
Ns vamos bons, graas a Deus.
Pela presente venho avis-la que o meu casamento foi marcado
para realisar-se dia 27 de dezembro e a espero assim como
todos da famlia. O ato religioso realizar-se- na Vila Nova
e o (relig) civil e hospedagem em casa do Sr. Joaquim Afonso,
casa-se tambm nesse dia 2 lhas do mesmo, uma com o meu
mano.
Solicito-lhe o obsquio de convidar D. Angelina e Ex
ma
famlia, desejava visitar os tios e chegava at ai, mais estou
2
H um documento anterior, mas ilegvel.
MEMRIAS DOS POVOS DO CAMPO NO PARAN CENTRO-SUL
344
apuradssima com provas, exames e meu enxoval que ainda
no est pronto.
A senhora queira desculpar os borres e letra pssima e com
saudade despede-se a colega que a estima.
Sebastiana Lumi
Documento anexado II
6 de julho de 1966
Ilmo. Snr.
Antonio R. Carda
otorizo V. S. para Policial um baile do Snr. Sebastio Lechandrino
sendade um Puxiro.
pesso Dezarmar E coregir bem a m de core bem o baile
Pesso V. S. atender por minha ordem desde este momento co
obrigado de sua boa ordem.
Sem mais
Atenciozamente
Saudao
Joaquim Ferreira Nunes
Inspetor Policial em Faxinal dos Ribeiros
345
Captulo 13
AGENDA
Joo Oliverto de Campos
Joo Oliverto de Campos com 86 anos de idade morador no Poo Grande
Bom Retiro Pinho pr nacido em Guarapuava pr Rezido no Pinho
hoje comarca
Rezido a 80 anos
Naci em 6 de Maio 1926 Guarapuava pr
Vim para o Pinho 4 de Maio 1932 com 6 anos de idade
Filio de Francisco Asiss de Campos e Graciolina Alves de Campos
346
Uma Genda de Anotaes Diversas
Joo Oliverto de Campos 2.004
A RENNCIA
Jnio Quadros foi o presidente que, eleito
pelo voto popular, menos tempo governou na
chamada Repblica Nova, de 1930 em diante.
Sua renncia, em 25 de agosto de 1961, com
menos de oito meses de governo, surpreendeu
a Nao. A data foi escolhida pela proximidade
com o suicdio de Getlio Vargas, sete anos
antes. Jnio tinha uma personalidade poltica
controvertida. Era personalista e autoritrio,
desprezando os partidos. No conseguiu, ao
contrrio de Vargas, ter o apoio da classe
trabalhadora. O gesto poltico da renncia foi
feito para obter mais poder, pois apostou que
seus ministros e o Congresso Nacional no a
aceitariam. No foi o que aconteceu, e seu vice,
Joo Goulart, mesmo enfrentando resistncias
dos setores mais conservadores, o substituiu. A
renncia de Jnio foi um tiro pela culatra.
Chico Alencar
Autor de Educar na Esperana, VOZES.
SUICDIO HISTRICO
Getlio Vargas, que voltara presidncia em
1951 nos braos do povo, como prometera,
governava preocupado com o que considerava
soberania nacional e interesses do povo
trabalhador. Para tanto, tinha criado a Petrobrs,
em 1953 e, em maio de 1954, decretara um
aumento de 100% no salrio mnimo. As
presses de setores conservadores, por isso
mesmo, cresceram bastante, com acusaes
de corrupo o mar de lama sob o Palcio
do Catete, antiga sede do governo. Acuado
at pelos chefes militares, Getlio respondeu
de forma dramtica e denitiva, provocando
imensa comoo popular: suicidou-se com um
tiro, em seus aposentos. Deixou um documento
poltico, a Carta Testamento, em que acusava
grupos nacionais e internacionais de no
quererem que o trabalhador seja livre nem que
o povo seja independente.
Chico Alencar, autor de
BR-500 Um guia para a redescoberta do
Brasil, VOZES.
Existem amizades abenoadas por
Deus, com certeza a nossa ligao
divina por ser to especial e sincera.
Conte comigo hoje e sempre. Com
saudades...
Sandra Dell
Pinho, 04/07/2008.
Sr. Joo Oliverto.
Ofereo-lhe este livro para que
o senhor registre fatos e relatos
importantes que s o senhor sabe
e lembra porque sua vida uma
enciclopdia, um inventrio de
objetos e deve ser preservado e
visto por outras pessoas.
Da professora
Sandra Mara Dell
Poo Grande, 5 de junho de 2004.
Multiplicidade:
Cada identidade, uma constelao...
Quem somos ns, quem cada um de ns, seno uma combinatria de
experincias, de informaes, de leituras, de imaginaes?
Cada vida uma enciclopdia, uma biblioteca, um inventrio de objetos,
uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e
reordenado de todas as maneiras possveis.
talo Calvino
(Reexes sobre a educao no prximo milnio).
347
sta Genda prezente da professora de portugues Dna Sandra Mara Delle
5 de junho de 2.004 Sbado
A NOVA CAPITAL
Concebida pela arte dos arquitetos Oscar
Niemeyer e Lcio Costa e erguida com o suor
dos operrios, chamados de candangos,
Braslia tornou-se capital em 21 de abril de
1960, sucedendo Salvador e Rio de Janeiro nesta
funo. Inaugurada no governo do presidente
Juscelino Kubitschek, ela era um smbolo da
modernizao do pas e da realizao de uma
proposta j feita por Jos Bonifcio, no incio
do sculo XIX: a transferncia da capital para
o interior do pas. Estocadores de terrenos no
Planalto Central e empresas que investiram
na regio obtiveram grandes lucros, e houve
tambm muitas denncias de corrupo na
realizao de grandes obras imobilirias. Mas
o novo Distrito Federal, sem dvida, tornou-
se um plo de crescimento econmico e de
ocupao humana no Centro-Oeste do Brasil.
Chico Alencar, autor de Educar na
Esperana em tempos de desencanto, VOZES.
O REI DO CANGAO
Durante vinte anos, de 1918 a 1938, um bando,
liderado pelo auto-intitulado capito Virgulino
Ferreira da Silva, o Lampio, agitou o Nordeste.
Os cangaceiros tentaram fazer justia com as
prprias mos naquele Brasil rural. Lampio
chegou a liderar cem pessoas, entre elas vrias
mulheres. Exigia dinheiro, comida e s vezes
proteo dos fazendeiros, que estimulavam seus
jagunos a perseguirem o cangao. Lampio
gostava de distribuir bens para os pobres das
cidades do serto. Apesar de agir com muita
violncia e crueldade, esse aspecto de justiceiro
cou. At hoje, especialmente no Nordeste,
as opinies se dividem: uns o vem como um
lder que lutou contra as injustias, outros como
um bandido que apenas semeou maldades, para
vingar a morte do pai.
Chico Alencar
Autor de BR-500, Um guia para a redescoberta
do Brasil, VOZES.
A COLUNA PRESTES
Tudo comeou h 80 anos, em 5 de julho de
1924. Repetindo a Revolta dos 18 do Forte
de Copacabana, ocorrida dois anos antes,
jovens ociais do Exrcito se rebelaram em
So Paulo, condenando os governos das
oligarquias e exigindo reformas polticas,
com a convocao de uma Assemblia
Constituinte. No ano seguinte, os rebeldes
juntaram-se a outros revoltosos, que vinham
do Sul. Sob o comando do General Miguel
Costa e do Capito Luiz Carlos Prestes
(denominado O Cavaleiro da Esperana),
eles percorreram cerca de 24 mil km durante
quase dois anos, sem perder nenhum dos
53 combates travados contra as foras
governamentais e os jagunos dos coronis.
Com o m do governo de Artur Bernardes e o
crescimento dos desentendimentos entre seus
lderes, a Coluna Invicta se dispersou.
Chico Alencar, autor de BR-500 Um guia
para a redescoberta do Brasil, VOZES.
DIREITOS MAIS HUMANOS
Em 1948, aps a devastao da 2 Grande
Guerra, os chefes das naes pareceram tomar
juzo: assinaram a Declarao Universal dos
Direitos Humanos. Seus 30 artigos constituem
uma espcie de estatuto da Humanidade, ao
armar o que fundamental para que um
ser humano tenha sua dignidade respeitada
e, com isso, seja possibilitado como pessoa.
Passados 56 anos do lanamento da Carta
Magna da ONU, entretanto, muito do que
ali est escrito no saiu do papel. Continua a
existir explorao, dominao, discriminao
e desigualdade. A humanidade j produz, todo
dia, alimento suciente para se alimentar, e
no entanto milhes vo dormir com fome.
No basta conhecer os Direitos Humanos:
necessria muita ao, na medida de nossas
foras, para que eles se tornem mais do que
mera declarao.
Chico Alencar, autor de Educar na esperana
em tempos de desencanto, VOZES.
348
ORAO A NOSSA SENHORA DE
GUADALUPE
Perfeita, sempre Virgem Santa Maria. Me
do verdadeiro Deus, por quem se vive. A vs
que na verdade sois nossa piedosa Me, vos
procuramos e rogamos. Escutai com piedade
nosso pranto, nossas tristezas. Curai nossas
penas, nossas misrias e dores. Vs que sois
nossa doce e amantssima Me, acolhei-nos sob
vosso manto e na cruz de vossos braos. Que
no nos aija nem perturbe nosso corao coisa
nenhuma. Mostrai-nos e manifestai-nos a vosso
amantssimo Filho, para que com Ele e nele
encontremos nossa salvao e a salvao do
mundo. Santssima virgem Maria de Guadalupe,
faz-nos teus mensageiros, mensageiros da
palavra e da vontade de Deus. Amm.
Seleo de Geralcino Marques.
Araatuba/SP.
TEMPO DE DECOMPOSIO
- Jornais: 2 a 6 semanas
- Embalagens de Papel: 1 a 4 meses
- Casca de Frutas: 3 meses
- Guardanapos: 3 meses
- Pontas de Cigarro: 2 anos
- Fsforo: 2 anos
- Chicletes: 2 anos
- Nilon: 30 a 40 anos
- Latas de Alumnio: 100 a 500 anos
- Tampas de Garrafa: 100 a 500 anos
- Pilhas: 100 a 500 anos
- Sacos e Copos Plsticos: 200 a 450 anos.
- Garrafas e Frascos de Vidro/Plstico:
Tempo indeterminado
A vida oferece coisas boas de forma to simples
que as pessoas nem se do conta que as possuem.
CEEBJA- PINHO- PR
Prof Sandra
Maro 2004.
Mais importante que desejar um futuro
melhor, a conscincia de que estamos
ajudando a constru-lo!
Carinhosamente
Sandra
Primeira anotao / Joo Oliverto de Campos
Naceu em Combro Guarapuava est. paran dia 6 de maio de 1926 Seu
pai Francisco Assis de Campos de origem Paraguai Sua me Graciolina
Alves de Campos origem alem // vieram morar no pinho aquele tempo
destrito de Guarapuava vieram morar na Campina do Balaio Bom Retiro
poo Grande dia 4 de maio de 1932 seu lio unico Joo Oliverto de Campos
comessou a estudar nua escla particular pagado por seus pai cinco mil
Reis por meis comessado A estudar no dia 2 de janeiro de 1939 No tinha
feriado era de Segunda a Sbado ate o meio dia um Sbado ate o meio
dia era aula de Religio outro sbado ate o meio dia era aula de dezenho
/ de Segunda a Sexta das 7 hs da manh ate as 16 hs da tarde as 12
hs nos fazia um lanche que nss levava da caza as 13 hs retornava a
estudar o nosso professor, Jos pedro Jesuno foi trazido por Juvenal de
Assis Machado (Machadinho) mais tarde prefeito de Guarapuava, ele
trouce o professor para dar aula dos lios dele Valdomiro a Begacir a alair
e Vanir ele feis um ceno no lugar foi 62 criana estudar onde tinha moa
e Rapais e tudo aprendeu omenos um pouco Terminou nossa Escola dia 31
de dezembro de 1940 Estudemos 2 anos por certo eu aprendi ler escrever e
contar. E da voltei a estudar de novamente em 10 de maro de 2.000
mil professora de cincia dina dos Rei professora de matemtica Eliza
professora de geograa Luciane o ultimo dia de Aula 24 de novembro
349
2.000 eu estava com 74 Anos Escola pelo CAD. Qundo dia 28 de fevereiro
de 2.004 comessamos A Estudar de novamente no barraco da capela de
poo Grande pinho plo CEEBJA professora de portugues, Sandra Mara
Delle eu j com 78 Anos 10 de junho de 2.004 Joo oliverto de Campos. Poo
Grande pinho pr aula 1 Sbado por semana
ANOTAAES no munto satisfatoria
Eu Joo oliverto de Campos me cazei com Dna Rozilma jezus de Campos
no dia 29 de junho 1957 Tivemos 2 lias e 1 lio que naceu morto Dna
rozilma munto doentia e 1985 sofreu uma grave sirugia mais foi feliz e
da sofreu cance de pele feis 31 viagens a Curitiba hospital HERASTO-
GUEDES, e a Guarapuava e pinho estando bem boa ainda sofreu uma
sirurgia no abedome mas grassas a Deus tudo foi bem quando chegou o
meis de junho de 2.004 ai que veio o pior deu uma doena chamada
penfgo, e chamada fogo servaje foi ligado para alia ABEGACIR e no dia
27 de junho 2.004 domingo dia 28 de junho eu vizitei la ela para na
caza da Abegacir e na caza da Delair lia Tambm juntas as lias genros
netas e biznetas e voltei dia 30 de julho de 2.004 Hoje fais um meis e meio
que estou sozinho at quando no sei 11/08/2.004 Joo oliverto de Campos.
Em dia 3 de setembro 2.004 sexsta feira fomos com o compadre Nerci e
eu Joo oliverto buscar na rodoviria de pinho pr a minha espoza Dna
Rozilma e a abegacir que cou com noss 8 dias foi dia 10/09 sexsta feira
de novo e para vir a delair dia 10/09, volta dia 17/9 o cauzo de minha
espoza grave s por deus como Deus Deus pode ser rezorvido peo a Deus
Ajuda eu vencer cou 67 dias fora de caza e vai ter que voltar.
Eu Joo oliverto de Campos para mim o poo Grande poo negro a tempo
no poo ir num divertimento festas e outros divirtimentos que tudo o
povo vai eu no poo ir nem no vizinho eu sou o cazeiro de todo o tempo
e eu no sei se um dia vai raiar um novo sol na minha vida vai certo
ponto que agente dezacorssoa, todo o mundo do lugar participam todos os
domingos festa Sarau cazamentos Rodeio na poltica no perdem comissio,
Agra eu esto Ezolado do Mundo s trabalhar criar as coisas fazer o bem
para os outros ser feliz, e e isso nada mais.
Agora vem o pior Dona Rozilma Jesus de Campos veio a falecer na caza
da ABegacir e do Jorge em Guarapuava dia 28 de outubro de 2004 sexsta
feira 11 hs da noite ou seja 23 hs deixando viuvo Sr Joo oliverto de Campos
e 2 lias Delair e Abegacir e 4 netas Rozidete e Noza e Ellem e Tumara e 2
bisnetas Gesica e Bruna a funerria de Guarapuava trouce ate a capela de
poo Grande foi velado na capela mais foi importante a quantia de gente
compadres comadres aliadas aliados No total la deixou 194 aliadas
uns 35 j eram mortos 159 vivos Dna Rozilma lia de Domingo Ramos
350
de Morais e Dna francelina Maria de Morais todos de saudza memoria
cazouce com Joo oliverto de Campos 26/6/1957 vivemos 47 anos e 4 meis
da ela foi e eu quei Joo oliverto de Campos lio de franscisco Assis de
Campos e Dna Graciolina alves de Campos Dna Rozilma foi sepultada as
17 hs do dia 29 de outubro 2.004 sexsta feira cemiterio de poo Grande
pinho pr junto a capela de Francisco Assis Campos e Dna Graciolina Alves
de Campos / Motivo da doena que cauzou a morte de Dna Rozilma foi
o cancer que cuidou dela no hospital Sta Tereza foi o Dr Federico e Dr
Cloves e dr Federico neto e Dra Renata zeram todo o que podia ser feito
nada adianta Dna Rozilma ainda votou nas eleio de 3 de outubro 2.004
agra s cou a saudade de minha querida espoza que munto me ajudou
na vida ela era apozentada eu e Dna Rozilma zemos bodas de prata 25
anos de cazados Cazemos de novo 29/6/1982 celembrante frei Domingo
delmane e Dna Rozilma feis a ultima cono e comunho na capela de
poo Grande 5 de setembro 2004 e se reconciliou com a comadre Marilene
de paula se perdoaram de uma malquerencia de 7 anos se perdoaram em
11/9/2004 assino Joo oliverto de Campos 1-11-2.004
amem
O ano de 2.004 Neste ano faleceu 5 pessoas da nossa comunidade alguns
j no moravam mais aqui no passado eram daqui em dia 1 de maro
2.004 faleceu comadre Maria de lima Morais velado na capela poo
grande morava na comunidade de poo grande em dia 12 de maro 2.004
faleceu no pinho comadre Maria cochusk no passado morava em poo
grande em dia 2 de maio de 2.004 faleceu em Guarapuava comadre
Ana Kresk Correia moradora da qui de poo grande pinho em 25 de
junho de 2.004 faleceu em Guarapuava Antonio Mendes de campo no
passado morava em poo grande ai agora morava no pinho em dia 28
de outubro de 2.004 faleceu Dna Rozilma Jesus de campos faleceu em
Guarapuava na caza da lia veio ser velada na capela de poo Grande
em sua propriedade seputouce no cemitrio de poo grande dia 29 de
outubro de 2.004 Deixou viuvo Sr Joo oliverto de Campos
DONA ROZILMA FALECEU DIA de so Judas Tadeu 20.10.2004
Dia 28 de novembro 2.004 1 domingo do Advento foi celembrado a santa
missa do primeiro meis de falecimento de Dna Rozilma Jezus de campos
capela de S. Sebastio e Sto Antonio de poo grande pinho pr capela que
ela ajudou fundar tambm teve 1 comunho de 8 criana 6 menina e
2 pia celembrante padre Jair Rocha assino Joo oliverto de Campos 28-11-
2.004
351
Nosso Pais
Claito dos Santos Silvio Moraes
Vanilda Matias Santos Maria de Lima Moraes
(in memorian) (in memorian)
Janete e Edenilson
Convidam para a cerimnia religiosa de casamento, a realizar-se no dia 22
de Janeiro de 2005, s 10:00 horas, na Igreja Matriz Divino Esprito Santo.
A enorme alegria desta data ser ainda maior com sua presena.
A luz verdadeira, aquela que ilmunina todo o
Homem, estava chegando ao mundo.
ESTE ANO 2004 LEVOU minha
espoza Dna Rozilma.
NATAL DO SENHOR: solenidade, br., trs
missas prs Gl., Cr., Pfs. do N. Leituras: Noite:
Is 9, 1-6/Sl 95/Tt 2,11-14/Lc 2,1-14. Aurora:
1s 62,11-12/Sl 96/Tt 3,4-7/Lc 2,15-20. Dia:
Is 52,7-10/Sl 97/Hb 1,1-6/Jo 1,1-18. Santos:
Mrtires de Nicomdia/ Jac de Tdi/Anastcia.
Fiquei eu viuvo Joo Oliverto de
Campos
2004. DEZ. SAB
-360/ + 6
Feriado Nacional
Resta a saudade
para mim no tem Natal
Tudo j terminou.
25
FOI ESTALADO AGUA na caza por motor no dia 29 e 30 de dezembro de
2.004 por sio Olivair sio Liva motorista da lotao das crianas ajudante
Hemerson da crus e Joo oliverto de campos dono da propriedade sitio S.
Sebastio consagrado ao S.C. de Jesus em 4 de agosto do ano 2.000 a gua
vem da gruta N S da penha e N S de fatima / poo grande 30-12-04
pinho pr.
Para. Joo Oliverto de Campos
AME!
A inteligncia sem amor, te faz perverso.
A justia sem amor, te faz implacvel.
A diplomacia sem amor, te faz hipcrita.
O xito sem amor, te faz arrogante.
A riqueza sem amor, te faz avaro.
A docilidade sem amor, te faz servil.
A pobreza sem amor, te faz orgulhoso.
A beleza sem amor, te faz ridculo.
A autoridade sem amor, te faz tirano.
O trabalho sem amor, te faz escravo.
A simplicidade sem amor, te faz introvertido.
A lei sem amor, te escraviza.
A poltica sem amor, te deixa egosta.
A f sem amor, te deixa fantico.
A cruz sem amor se converte em tortura.
A vida sem amor.... no tem sentido.
Seleo de Luclia Barenco
Petrpolis/RJ
ESTE AFILIADO EDENILSON Morais que se cazouce com a Janete dos
Santos este rapais morou com noss 2 anos 1999 e o ano 2000 cazouce dia
22 de janeiro de 2005 eu fui com o meu fusca motorista o Joze Nerci e
Dna Dulcia foi tambm e o Lucas e a Delair que veio de Guarapuava do
pinho pra c veio com nss e Neruza veio com Dna Ana Xusk assistimos o
352
cazamento na matris e no cartrio e viemos adiante na recepesso almoo
e viemos adiante para abrir o barraco da capela de poo Grande para
o conjunto Lobo Bravo estalar os aparelhos de som o baile comessou as
16 hs e foi ate as 2 da madrugada munto povo mas no teve nem uma
alterao tudo correu bem mais pra mim no prestou a festa por mas
boa que estava motivo eu estar de luto de 90 dias que minha espoza ter
falecido em 28.10.2.004 Ela tambm era madrinha do Edenilson e ela na
vida queria munto bem e o Edenilson e pra mim tudo a alegria foi gua a
baixo assino Joo oliverto de Campos 23.01.2005
O aliado Joz Antonio de Morais e Lucimar da Crus Morais ela sobrinha
por parte da falecida minha espoza Dna Rozilma Eles vieram morar na
nossa cozinha antiga em 4 de fevereiro do ano de 2.005 sexsta feira / Joo
oliverto de Campos.
E pararam apenas s 15 dias motivo que ele foi despachado do servio que
trabalhava mudouce dia 19/02/2.005 la pro Luiz Belem
Retornou nossa escola do CEEBJA dia 19 de fevereiro de 2.005 Sbado no
barraco da capela de poo grande prof. Nelson, de matemtica deu s uma
aula 1 sbado e da 2 e 3 sbado foi a professora de INGLES Rozangila
Amaral de Guarapuava ela irm do famozo Gilson Amaral
Tudo cou na saudade
Tantos rapais e pia que trabalharam com migo no passado compadre
Jorge 1 Morais cunhado em solteiro morou 5 anos com noss compadre
Joo 2 morais cunhado em solteiro trabalhou com migo Joz 3 Ramos de
Morais trabalhou e morou com noss 4 Joz Nerci morou 13 anos com nos
e trabalhou para noss ele cazado Leandro lima 5 morou com nos 1 ano
trabalhou Nelson Joze 6 de Morais aliado e sobrinho de Dna Rozilma
morou 3 anos e trabalhou para nos Celson 7 lus de paula aliado em 2
vezes solteiro morou 2 anos e 6 meis cazado morou 2 anos e 1 mes e hoje
compadre 3 vezes e da as erm dele Carlos 8 Joze 9 Pedro 10 e o compadre
Bento 11 Narcizo de paula pai desses rapais trabalhou munto para noss e
da o Dirceu Joze 12 dos santos morou no total 8 anos trabalhou com noss
e o compadre Joo Rodrigues Sobrinho trabalhou com a famlia no meu
terreno de cultura por 12 anos nos juntos 13 trabalhou pra mim e o Airton
14 lio dele e o Nerci 15 lio dele e da o Adenilson 16 de Lara morou 17
meis com noss trabalhou e o Adenir da costa meu aliado trabalhou pra
mim 17 / E da o Edenilson 18 Morais aliado que morou com noss 2 anos
1999 e 2.000 mil E trabalhou munto com migo Joo oliverto de Campos e
outros antes Jorge de Nha Balbina 19 e o Sebastiazinho Sutaco 20 pessoas
esses foram mais antes depois do compadre Jorge e o compadre Joo e o
Meu Sogro Domingos Ramos de Morais e a Sogra Dna francelina Maria de
353
Morais moraram 5 anos com noss de 1979 a 1984 j so falecidos eram pai
da Minha Mulher Dna Rozilma j falecida/ Ficou gravado na minha
genda e na minha memria Joo oliverto de Campos
Anotao triste eu Joo oliverto de Campos com tristeza eu fao esta
anotao / O meu querido compadre e parente Joo Rodrigues Sobrinho
faleceu no hospital So Vicente em Guarapuava dia 18 de abril de 2005
viuvo de Doraci penteado Rodrigues ele deixou lios e netos lio Maria
AIRTO Nerci netos Alan ELLEN ana eduarda e um do Nerci no sei o
nome Joo Rodrigues naceu aqui em poo Grande em 1945 e estudou aqui
mezmo 4 serie cazouce com Doraci 12/02/1968 ele ajudou construir a
igreja de madeira aqui em poo Grande em 1976 Doraci e a lia Maria
trabalharam na igreja dezde 1976 at 1987 da eles mudaram para
a cidade do pinho Mais antes deles mudaram o compadre Joo e a
comadre Doraci e os lios trabalharam em meu terreno de cultura 12
anos enfrentemos a vida junto eramos compadres padrinho do AIRTON
3 vezes e padrinho dos lios do Airton compadre Airton comadre
Doraci faleceu em 30-11-1998 Minha velha Dna Rozilma faleceu em
28/10/2.004 e o compadre Joo faleceu dia 18 de Abril 2.005 Bem o dia
que foi eleito o novo papa Bento XVI eleito dia 18 de Abril de 2.005 Que
o papa anterior Joo paulo II que faleceu dia 2 de abril de 2.005 tudo
esta mudando em nossos dias.
23/04: SO JORGE
No nal da Idade Mdia, a historia de
So Jorge era muito conhecida em toda
Europa conforme relata uma Legenda do
Beato Tiago de Voragine. Mas h muitos
escritos sobre o santo principalmente
em relao a sua batalha com um drago
que aterrorizava a provncia da Lbia.
Com sua vitria sobre o drago mais de
15 mil homens se zeram batizar, sem
contar as mulher e as crianas. Mas h
uma srie de motivos para se acreditar
que So Jorge foi um verdadeiro mrtir
e que realmente sofreu a morte em
Dispolis, na Palestina, provavelmente
em poca anterior ao Imperador
Constantino. Durante os sculos XVII e
XVIII, sua festa era dia santo de guarda
para a Igreja Catlica, e o Papa Bento
XIV reconheceu-o como padroeiro do
Reino da Inglaterra.
Frei Marcos Antnio de Andrade, OFM
Agudos/SP.
RECORDES
METEOROLGICOS
Chuva: Os recordes de precipitaes: ndice
pluviomtrico de 5.700mm em 10 dias
(Ciclone tropical Hyacinthe); 3.200mm em 3
dias (Ciclone tropical Hyacinthe); 1.800mm
em 1 dia (Ciclone tropical Denize) e 1.100mm
em 12 horas (Ciclone tropical Denize).
Granizo: O maior granizo do mundo, com
uma massa de 1,02kg, caiu em 1986, em
Bangladesh, na ndia. A saraiva provocou a
morte de 92 pessoas.
Tufo: em 1992, o tufo Andrew, ao tocar
a Flrida e a Lousiana, causou um prejuzo
de 25 milhes de dlares; em 1970, o tufo
de Bangladesh causou a maior taxa de
mortalidade: pelo menos 300.000 pessoas
foram submersas por ondas gigantescas; em
1899, o tufo da Baia de Bathurst causou
ondas de 13 metros de altura.
Ronaldo Rogrio de Freitas Mouro
Autor de Da Terra s Galxias, VOZES.
354
O ultimo dia que o compadre Joo Rodrigues Sobrinho ESTEVE aqui em
minha caza foi no baile do cazamento de Edenilzon 22 de janeiro de 2005
dali 2 dias ja foi para o hospital Sta crus e por ai terminou
O tumulo de Dna Rozilma foi feito dia 18 de abril de 2.005 que zemos
foi eu Joo oliverto de Campos e Deoraldo de Jezus Sobrinho Bem o dia que
foi eleito o novo papa Bento XVI e bem o dia que faleceu Joo Rodrigues
Sobrinho tumulo de pre montado cou otimo.
Nota de falecimento
Faleceu em pinho pr Dna
Maria Mendes Correia dia 13
de Maio de 2.005 10 HS sexsta
feira ela lia de Lucidorio
Correia e Etervina Maria
Jurdina de Saudoza Memria
ela naceu aqui em poo Grande
e criouce aqui e cazouce com
Joze pedro Sobrinho em 1946 ele
j falecido 14/04/72 ela cou
viuva 32 anos Sils Dinivar
Denilda Tereza (Joo Maria j
falecido a 30 anos) e Sebastiao
e Deoraldo e Delair em 2.001
ela foi pro pinho onde ela
tinha caza motivo doena para
fazer tratamento ela foi velada
na capela mortuaria veio ser
sepultada no cemiterio de poo
grande junto seu espozo Comadre Maria conhecida por Dna Marica criou
um lio adotivo Joze Nerci Mendes ela deixou netos e bisnetos faleceu
com 82 anos de idade era uma pessoa munto querida na comunidade
ela tambm criou um sobrinho e aliado e feis cazar Antonio Mendes de
Campos j falecido ela sepultouce dia 14 de Maio de 2.005 11 HS assino
Joo oliverto de campos.
O tempo passa e a lembrana ca e em crtas pessoas no eziste lembranas
por mais que diga eu quro bem mais amor falo e s quando perciza
que tem amor passou dali voc no eziste na minha memria. O querido
aliado que eu queria bem de mais engano meu em meis de maio de
2.005 ele mudouce para Curitiba com a mulher e nem se quer me avizou
sendo que morou com noss no tempo que minha espoza ERA viva 1999 e
2.000 todo quem sabe se um dia ele alembrar Deus que ajude o ultimo
dia que ele pozou aqui em caza foi 2 para 3 de setembro de 2.004 e foi com
migo ate o pinho que fomos de fusca buscar a minha velha Dna Rozilma
Do dia de semana: br., missa pr., Pf. da
Ascenso. Ou Nossa Senhora de Ftima.
Leituras: At 25,13b-2 / Sl 102 / Jo 21,15-
19. Santos: Nossa Senhora de Ftima / Jlia
Billiart / Glicria.
Neste dia
Dia da Fraternidade Brasileira, dia da Abolio
da Escravatura, dia do Automvel, dia da
Estrada de Rodagem e dia do Zootecnista
faleceu Dna
Pela terceira vez Jesus perguntou: Simo lho
de Joo, tu me amas? Jo 21,17
Maria Mendes Correia
O irmo um amigo dado pela natureza.
G. M. Legouv
Dna Marica
2005. MAI. SEX
-133/+232
7 Semana da Pscoa
Nha Marica
Lua Nova
13
355
e a Begacir na rodoviria do pinho motorista meu Joz Nerci Mendes
dono do fusca eu Joo oliverto de Campos.
CEEBJA
Nosso professor de ciencia professor Claudio ultima aula foi dia 21 de Maio
2.005 Sbado / assino aluno Joo oliverto de Campos.
Fizemos ingleis com a professora Sandra de junho a agosto de 2.005
Uma histria do morro da crus
Contada pelos 5 Homens Antigos que contavam pro meu pai e eles proziando
e eu anotando no caderno
Contado por 1 Jeronimo Leonardo de Ramos / fazendeiro
Contado por 2 Diulindro Elauterio de Ramos / fazendeiro
Contado por 3 pedro Cavalheiro de lima / fazendeiro
Contado por 4 antonio Benizio de Ramos / lavrador
Contado por 5 Manoel fagundes ...... / lavrador
Diziam eles
Que no ano de 1894 nas 3 lagoas abaixo do morro a beira da estrada tropeira
na logoa do meio foi encontrado um drago igual a quele que So Jorge esta
lanceando s que o drago estava morto os homem que voltiavam a mata
o acharam o fenmeno, e se assustaram munto e a vizaram os vizinhos da
Epca Reuniuce o povo como no sabiam o que fazer montaram no burro
e puxaram outro e l se foram para a cidade de Guarapuava, buscar o
franscisco Clve (Chico Clve) que hoje tem s a praa Cleve e o homem
veio ver o fenmeno e disse no do meu conhecimento esse fenmeno
Voceis amontoem bastante lenha e queime s no tomem a fumaa. assim
a zeram
Dali a poucos dias chegou o profeta Joo Maria de Jezus o povo assustado
contaram o cauzo ao profta ele nada dice s dice voceis esto vendo aquele
morro l em nossa frente estamos sim tudo bem no dia 3 de Maio voceis
plantem uma crus de sedro l e rezem e faam suas orao quando eu de
novo voltar por aqui voceis tem cauzo a me contar e o povo feis o pedido do
profeta colocaram o cruzeiro no morro e zeram as orao.
Diziam eles quando chegou o ano de 1.900 escureceu o lugar e sobre veio
uma grande tempestade vendaval que uma arvore alcanou a outra
mezmo no pinhal gigante foi grande o estrago mais no matou ningum
no levou o rancho de ningum que para um compadre ir ver o outro
se no tinha morrido percizava de ferramentas machado foice faco e
serra de trasar mais os compadres estavam tudo bem grassas a Deus eles
pensaram temos que contar o profeta sobre a tormenta,
Mais no foi s isso no
356
Quando chegou o ano de 1902 escureceu o lugar parecia vir outra tormenta
comessaram a rezar e fazer suas peces pedir auxilio a Deus e lembrar de
S. Joo Maria caiu a chuva e logo clariou de novo o sol volto a brilhar no
foi nada grassas a Deus e S. Joo Maria
saiu de novamente os peo a voltiar a mata a passar pela estrada tropeira
deram com a lagoa do meio cheia de cobras de todas as espcies ate de aza
todas mortas sairam de novamente avizar os vizinho que a laga do Monstro
estava cheia de cbras s que estavam mrtas se reuniram de novamente
os vizinhos da poca ate de longe vieram ver o fenomeno lembraram da
recomendao do Clve vamos amontoar e queimar assim o zeram.
Na queles dias veio o profeta Joo Maria e elles tiveram coiza para contar
a elle e elle dice se voceis tivessem ABuzado atormenta mataria munta
gente e criao destruiria muntos ranchos e as cbras cairiam vivas e
terminaria o resto sobrava munto pouco mais como voceis no ABuzaram
nada aconteceu e nunca deixem de fazer as orao l no morro dia 3 de
maio de cada ano por que no futuro se car ABandonado cair ais crus e
no mais colocarem os fenomenos vo se repetir.
Verso
Os terrenos trca de donos na quele tempo era terreno dos Candidos da
passou a ser de Jeronimo Leonardo de Ramos e outros e nos dias de hoje
novo milenio e todo de Amauri Lamisk (Mauro) No passado era pinhar
gigante Hoje e planta e pasto O maior fazendeiro de nosso lugar diziam
que elle era ateu mais no o que o povo dis elle arrumou um escultor
de madeira e mandou fazer a imagem de Joo Maria l no serro e vai
mandar fazer uma capelinha l no serro da crus que com o passar dos
tempo passa chamar se Morro de Joo Maria do morro avista a mano do
Grande fazendeiro Amauri Lamisk.
Eu tenho f em Nso Sr Jezus Cristo e em So Joo Maria e nossa Me
Santicima e no pai lio esprito santo e em toda a igreja que no vo
se repetir os fenomenos vai ser um ponto turstico o morro da crus
morro de Joo Maria. eu escrevi esta historia para car de lembrana
Joo oliverto de Campos poo Grande pinho pr estou quazi com 80
anos naci em Guarapuava Quando meus pais vieram para o pinho 4
de Maio de 1932 eu completava 6 anos no dia 6 de maio naci em 1926
Rezido no pinho a 73 anos.
2.005 HOJE DIA 27 DE AGOSTO 2.005
1932 (Sbado)
0073
uma lembrana uma saudade sem m hoje 1 de outubro de 2.005 hoje
feis 1 ano que eu fui pro pinho e a minha vlha Dna Rozilma cou
se aquentando na cozinha de xo pela ultima veis 1 de outubro 2.004
357
hoje 1 de outubro 2.005 28 de outubro fais 1 ano que faleceu 28-10-2.004
Rsta s a saudade para mim Joo oliverto de Campos na grande solido
longe de minha famlia s no meio dos estranhos mas no mezmo lugar
poo grande pinho
Em 23 de outubro de 2.005 domingo, tivemos a Eleio do Referendo em todo
o Brazil o 1 no ganhou em todo o territrio nacional e 2 sim perdeu em todo
o territrio nacional o no defendeu os direitos podemos comprar armas e
munio o sim era a favor o dezarmamento a lei que os (?) ezistia no Brazil
nem na ditadura do Jetulio varga e na ditadura militar no prezidente lula
que criou essa lei comunista Mais grassas a Deus no aprovou foi derrotada
CAPELA DE POO grande pinho pr.
So Sebastio e Sto Antonio fundada por Joo oliverto de Campos e sua
espza Dna Rozilma Jesus de Campos em agosto de 1976 ela era a 1 de
madeira e em 1998 foi debolido e feito de material por Sio Antonio ferreira
de oliveira e Dna Marcemlia Maria de oliveira e seus lhos pedro ivo e
Leninha (Antonio Diogo) que trabalhou 9 anos na comunidade e munto
combinado com Sio Joo oliverto e como tudo passa entrou nova diretoria
mulheres munto sabidas e energicas e por motivo de uma neta de Joo
oliverto essa sendo Adeventista do 7 dia vir dar lio biblica na caza
do Sio Joo oliverto dia 4 de setembro de 2.005 num domingo de culto
Joo oliverto sofreu reprezalia foi atacado e destratado publicamente por
os dirigentes e pelos padres de pinho / Joo oliverto cou calado e no
falou s ouvio s ouviu bastante / 4 de setembro do ano 2.005 ele viuvo
Uma historia de saudade
Um no sabia do outro se existiam
Sio Joz Atlio de oliveira e Dna Cirema Santos oliveira vieram da fazenda
Tagua perto de Guarapuava dia 5 de janeiro de 2.005 vieram ser gerente
da fazenda de Sio Gilmar Bonanza no poo Grande do pinho pra camos
conhecidos eu j ra viuvo e como a fazenda no tinha lus Sio Atlio me
alugou a cozinha antiga em abril de 2.005 e eles falaram com migo para
batizar na igreja catlica o Marcos felipe dos santos olivera com 12 anos
eu Joo oliverto de campos e a comadre Ana Maria Ap. Morais batizemos
o Marcos felipe no dia 11 de janeiro de 2.005 camos compadres com
Sio Joz Atlio e comadre Cirema Santos oliveira e eles paravam 2 dias na
fazenda pozavam 2 noite na fazenda e 3 noite a qui na minha cozinha
antiga Truciram cama sofa meza cadeira fogo a gais a lenha j tinha na
cozinha televizo a parablica geladeira batedeira ferro eltrico e tanque
de lavar roupa pararam 6 meis junto com migo e se mudaram no dia 10 de
novembro de 2.005 nua fazenda de um alemo no fundo Grande Rezerva
do Iguau cou so a saudade dos compadre e do aliado Assino Joo
oliverto de Campos 10.11.2.005
358
de paula deixou lios Amilton Joo Carlos e Clson e pedro e a Marilene
e Maria aparecida e 13 ntos e uma Biznta e no poo grande festejou N
S Aparecida por 10 anos e noss eramos compadres por 3 vezes assina Joo
Oliverto de Campos.
A NOVA cozinha foi comessado no dia 27 de dezembro de 2.005 foi
terminado no dia 7 de janeiro de 2.006 sbado cou R$ 653,00 Quem
serrou a madeira e feis foi Neuri Duarte de Macedo ajudante Airton de
Morais proprietrio Joo Oliverto de Campos viuvo com 80 anos Local poo
grande
Nta de falecimento
Faleceu em Guarapuava paran a Senhra Dna Marcilia Alves Moreira
dia 2 de fevereiro do ano 2.006 as 8 HS da manh Era espoza do antigo
ocial de justia Agenor Moreira ja a anos falecido la era erma de minha
me e tia minha e madrinha Era a ultima da famlia Amadre que restava
faleceu com 94 anos deixando muntos lios e ntos bis ntos e tataranetos
para clareza Assino Joo oliverto de Campos 2/2/06
Nota de falecimento faleceu no hospital So Vicente em Guarapuava pr
A professora e minha comadre Duas vezes IRENE aparecida Brazilio dia
13 de fevereiro do ano 2.006 foi velada na capla mortuaria de pinho pr
Teve 2 culto a noite 1 evangelico e outro catolico foi trazido ate a capela
de poo grande por 20 minutos foi celembrado duas dezenas do tero Deixo
um cazal de lios Jian com 14 anos e Joice com 10 anos ram separado
com Ari Joz Caldas foi professora por 20 anos eu padrinho dos 2 lios
CARTA DA TERRA
O debate ambiental ganhou impulso com
a realizao, em 1992, da conferncia
da ONU sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, no Rio de Janeiro.
O evento, que cou conhecido como
ECO-92 ou Rio-92, fez novo balano
dos progressos realizados e elaborou
documentos importantes, que continuam a
ser referncia para as discusses atuais. (...)
Grande nmero de ONGs participou dessa
conferncia, realizando de forma paralela
o Frum Global, que aprovou a Declarao
do Rio (ou Carta da Terra). De acordo
com esse documento, os pases ricos tm
maior responsabilidade na conservao de
planeta. E, se os avanos tecnolgicos em
curso no forem sucientes para assegurar
a integridade da biosfera, ser necessrio
diminuir o padro de produo e consumo,
especialmente nessas naes.
Almanaque Abril 2003. Ed. Abril.
Comessemos a estudar dia 19 de
fevereiro do ano 2.005 ate o dia 10
de dezembro do ano 2.005
Ingleis astronomia professor Nelson
professora Sandra ingleis Fizica
professora Janeta Matemtica
professor Nelson ciencia professor
Claido
Nta de falecimento faleceu em
pinho pr dia 20 de dezembro 2.005
as 3 HS da manha Bento Narcizo de
paula Compadre Bento Narcizo de
paula morou em nossa comunidade
de poo grande 14 anos de 1982 a
2.002 ele natural de S. Domingo
morou no pinho munto tempo e
voltou morar no pinho em 2.002
deixando viuva Dna Maria Olinda
359
dela Jean e Joice Seputouce no cemitrio de poo Grande dia 14 de
fevereiro do ano 2.006 Assino Joo oliverto de Campos
14/02/2.006 cou a saudade
Anotao
No dia 27 de abril de 2.006 quinta feira tive uma ENTREVISTA com as
professoras de Zatarlandia e os alunos de 2 a 2 seire e 2 a 4 a 5 serie
entrevista para eu contar a histria do Morro da Crus fui fotografado e
lmado viemos ate as 3 lagoas das cobras / professora Cirdinei professora Alice
2 serie A
1- Professora Lourdes Severino
2- Jaqueline Padilha
3- Vanessa machado
4- Niclia M. Fonseca de Oliveira
5- Andressa de Camargo
6- Fabiana da Cruz de Oliveira
7- Joo Maria Soares Neto
8- Josnei francisco Cortes
9- Josmar Albino
10- Denlson de Lima Soares
11- Edivaldo festes
12- Juliano Nascimento
13- Samuel Nunes albino
14- Valmir da Luz Rodrigues
15- Dacir Ferreira Prestes
16- 4 srie Prof. Vera Moraes
17-Tiago de Jesus de Lima Pires
18- Joelma Aparecida Albino
19- Valmir machado
20- Evaldo passos correia
21- Rafaela Emmanuelle de Lima
22- Edivane do Belm Correia Kriguer
23- Emerson dos Santos Lima
24- Maikon Ferreira
25- Jos Lucas Meira Stler
26- Luciane Ftima de Camargo
27- Maria Loriane Santos
28- Jaine Kauane Lima
29- Jocelene do Nascimento Almeida
30 Christtian carvalho Boeiro dos santos .
31 Eliane Aparecida Nascimento.
32 Renato Zanata de Macedo.
33 Cristiane de Fatima da Cruz Oliveira .
P
r
o
f
e
s
s
o
r
a
L
u
r
d
e
s
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
N
e
u
z
a
p
r
o
f
e
s
s
o
r
a
i
l
c
e
E
n
t
r
e
v
i
s
t
a
d
o
o
v
e
l
h
o
a
n
t
i
g
o
J
o
o
O
l
i
v
e
r
t
o
d
e
C
a
m
p
o
s
C
o
m
8
0
a
n
o
s
d
e
i
d
a
d
e
O
s
A
l
u
n
o
s
a
s
s
i
n
a
r
a
m
a
m
i
n
h
a
g
e
n
d
a
2
7
/
0
4
/
2
.
0
0
6
360
34 Mauricio Jos Nascimento .
35 Damaris dos Santos Nascimento .
36 Yara Mendes Correia .
37 Flvia Correia de Almeida .
38 Maikon Marcelo camargo .
39 Delris Capelete De Ramos .
40 Amderson de Camargo .
41 Andrei Luiz Macedo .
42 Daniel F Macedo
43 Isabele Ramos Melo
44 Nilda Carmem dos Santos .
45 Vimce S. De Souza .
46 Odacir de Camargo .
47 Silmara Meira Maedo .
48 Esequiel de Jesus Lima .
49 Leandro Augusto Mendes .
2 Srie B Prof Neuza M . Camargo
50 Silvane
51Jocilma de F. Lima Pires
52 Wesley Gabael correia klilguer
53 Jefersom alves
54 gabriel m. machado
55 Jos Luciano maedo
56 Revieson Jos de Macedo
57 - Alice Clia Streski de Oliveira Supervisora
58- Cerdinei Maria Alves Laviuske Silva. Diretora
Lista de Alunos e Professores 03/05/06
Que vistaram o Cerro da Cruz no dia 3 de maio de 2006
Pr
Canaina
Kathryn
Hellen
Robert
Jeam
Luca
Nicolli
Iranydo
Emily
Katiane
Ailson
Graciele
Marli T. Padilha
3 Srie
Anita
Jonas
Valdecir
Israel
Jailson
Jhonatan
Marcos
Geovan
Catiele
Valdemar
Linei
Rosiane S
Ana Tereza
O
s
p
r
o
f
e
s
s
o
r
u
s
a
s
s
i
n
a
r
a
m
A
g
e
n
d
a
F
i
q
u
e
i
M
u
n
t
o
E
m
o
c
i
o
n
a
d
o
p
o
r
o
A
c
o
n
t
e
c
i
d
o
A
s
s
i
n
o
J
o
o
o
l
i
v
r
t
o
d
e
C
a
m
p
o
s
2
7
/
0
4
/
2
0
0
6
P
o
o
G
r
a
n
d
e
B
o
m
R
e
t
i
r
o
p
i
n
h
o
P
R
Karoline
Josiane
Caroline
Adjane
Robeson
Joo Paulo
Fernanda
Valdir
Aguinaldo
Liziane PK da L
Leandro
3 srie
Joelma
Sabrina aparecida
Natalha
Lediane
361
1 Srie
Jaize
Luciane
rica
Vagmer
Sheila
Valdirene
Reinaldo
Carlos Eduardo
Anderson
Cristiano
Felipe
Cleverson
Eduardo
Wlliam
e terminado tudo em 24 de julho de 2006
Assino Joo aliverto de Campos 24/07/2.006.
Categoricamente mais uma veis fui entrevistado pelo professorado das
escolas de Zattarlandia dia 3 de Maio de 2.006 l no morro da crus com os
alunos que no estavam na intrevista do dia 27/04 passado e eles queriam
me conhecer e ouvir a histria do Morro da crus o qual denovo eu contei
a eles caram emocionados e fui fotografado e lmado de novamente ao
encerrar convidei as crianas a rezar o pai nosso e uma Ave maria a So
Joo Maria de Jezus e da para encerrar uma salva de palmas vamos em
pas e o Senhor nss acompanhe Amem
Joo olivrto de Campos 3/05/2.006
Um sonho realizado eu Joo olivrto de Campos tinha um sonho de
revestir a capelinha de meus pai francisco Assis de Campos Chico de
Campos que naceu em Guarapuava pr 25 de Agosto de 1899 e faleceu
em 25 de dezembro de 1965 sepultado no cemiterio de poo Grande
pinho pr e Minha Me Graciolina Alves de Campos natural de Sta
Catarina naceu em 9 de outubro de 1905 e faleceu em 9 de dezembro de
1988 sepultado junto de Meu pai embaixo da capelinha em cemiterio
de Poo grande pinho Hoje a capelinha de madeira revestida de pr
boldado o Tumulo de minha Espoza Dna Rozilma Jesus de Campos
faleceu em 28/10/2.004 sepultado cemiterio de poo grande tumulo de
pr boldado o do Genro Joo Maria Sobrinho e de pr Boldado Quem
trabalhou foi eu Joo olivrto de Campos e o Aliado Clson Luis de
paula e o Aliado Joz Antonio de Morais comessado em 8 de Julho de
2.006 e terminado tudo em 24 de Julho de 2.006
Assino Joo olivrto de Campos 24/07/2.006.
A HISTRIA da vida de Juvenal de Assis Machado (Machadinho)
consta se que ele foi tenente de EZRCITO e em 1930 foi Revolucionario
vendeu 40 homem escolido pro Jeneral pain e para poder Apanhar os
homem ele feis um grande baile e a Meia noite chegou o jeneral com o
povo dele e Aprenderam os homem e o levaram para A Revoluo mais
como no foi percizo eles foram liberados contado por o Senhor Jaime
Medna junhor que tambem foi prezo na Mezma ves e outros contavam
A Mezma histria e dai o Machadinho teve que Se Auzentar do lugar
362
por algum tempo e em 1936 ele voltou para o poo grande pinho
distrito de Guarapuava na quele tempo dai ele veio trabalhar comprar
gado animal prcos e Mulas Burros ele propietario em poo grande feis
uma caza munto boa que hoje A pouco tempo foi quimado por vandalos
o Machadinho trouce em poo grande a 1 Escola particular ele feis
um ceno nos vizinhos pegou 62 alunos crianas rapais e Moas e pia
em 1939 e 1940 Aonde os lios dele aprenderam as primeiras letras
Valdomiro ABegacir Alair e Evanir Machadinho era cazado com Dna
Balbina Mendes Machado lia de Nho Nco Mendes e o Machadinho
lio de Joaquim Machado foi A onde eu Aprendi A ler escrever e contar
em 1939 e 1940 O professor contratado era Joz pedro Jezuino os pai das
crianas pagavam 5000 mil Reis por Meis a cada crianas se tivesse 2
eram 10.000 mil Reis por meis Comessava A aula 7 HS da manh as 12
HS fazia se um lanxe que trazia da caza as 13 HS retornava e parava
A aula as 16 Hs de segunda a Sbado ate o meio dia no tinha feriados
era S o domingo um sbado ate o meio dia dezenhava outro sbado ate
o meio dia aula de Religio atraveis da Bibia//
cada bimstre o Machadinho e Dna Balbina e outros faziam uma
Avaliao chamavam de izame// o Machadinho ra homem bom
amigo de Meu pai francisco Assis de campos em 1942 o Machadinho
tornouce comprador de pinheiros gigantes foi ele que trouce a rma
Zattar no boi carreiro bom retiro mais tarde o Machadinho mudouce
para Vila Nva hoje cidade de pinho pr e em 1950 o Machadinho foi
eleito prefeito de Guarapuava pelo P.T.B Apois tudo isso ele foi para
Curitiba se tornou fazendeiro de caf no nrte do Paran Dna Balbina
faleceu antes dele e ele faleceu em Curitiba em 25 de janeiro de 1995
contase com 95 anos o lio dele Valdomir fazendeiro em Rondonia e as
lias so Advogadas e o que agente soube todas em Curitiba Capital do
Estado do paran e a terminou a Historia do Juvenal de Assis Machado
(Machadinho)
Assino Joo olivrto de Campos 6-11-2.006 J p
MS DE DESGOSTO?
H uma lenda que diz que agosto um ms que atrai desgraas e problemas polticos. Esta crendice,
que particularmente forte no Brasil, comeou no inicio do sculo passado, em funo da Primeira
Guerra Mundial, deagrada em 1 de agosto de 1914 e que deixou um rastro de destruio e morte
jamais vistos. O fato dos presidentes Getlio Vargas e Jnio Quadros terem, respectivamente, se
suicidado e renunciado em agosto um em 1954, outro em 1961 , causando comoo, reforou
esta falsa tese. Quem inventou a diviso do tempo em dias, meses e anos foi o ser humano, e nem
ele nem Deus deniram um perodo determinado para azares. Cada um de ns vai, entre erros e
acertos, compondo sua prpria histria. Os fatos negativos podem acontecer em qualquer poca,
assim como os positivos.
Chico Alencar
Autor de Educar na Esperana em Tempos de Desencanto,VOZES
363
2007 o nsso lugar no E mais o lugar que ERA no possado Est cheio
de Bandido e nada feito para combater o Banditizmo Ao Amanhecer do
dia 4 para 5 de agosto de 2007 (domingo) foi Queimado A Antiga caza
da falecida Dna Maria Mendes Correia e seu Espzo Joz pedro sobrinho
falecido antes Dla caza feita em 1946 51 anos Joz pedro faleceu em
14/04/1972 Maria Mendes faleceu em 13 de Maio 2.005 a famlia uns
moram no pinho outros em Guarapuava pr uns no poo Grande A caza
estava abandonada a 6 anos cheio de obegetos antigos guardados A caza
ERA Boa no encomodava ninguem propiedade em poo Grande pinho
PR. Joo oliverto Campos
RECORDANDO-O PASSADO
sofrer duas vezes os jovem no conhecem o passado por que eles esto
comessando a vida ainda tenham munto a sofrer para mais tarde recordar
momentos bom e momentos ruim
A Gente que
Que tem longa idade j sofreu munto tive momentos bom e momentos
ruim e difceis mais com a ajuda de Deus eu Estou vensendo e vou venser
lembrando do meu tempo de criana momento de escola 1939 e 1940
Momentos de jovem rapais grandes divertimentos bastantes colgas que
j no ezistem mais j foram para o Alem Me cazei com 31 anos fui bem
com a Espoza tivemos duas lias e um piazinho que no viveu perdi meu
pai em 1965 perdi o genrro 1975 perdi o sogro 1987 perdi a me em 1988
perdi a sogra 1995 e o pior perdi a espoza em 28-10-2.004 vivemos 47 anos
cazados s Deus separou no passado em nossa caza morou com nss muntos
rapais aliados hoje tudo terminou resta s a saudade do lado de meu pai
eles eram 11 pessoas no tem ninguem mais do lado de minha Me eles
eram 9 pessoas no tem ninguem mais resta algum primo e prima mais
algum eu no conheo tenho saudade 1950 e outras horas tenho duas lias
e um genro e ntas e Biznetas todos moram em Guarapuava pr Moro s
eu em poo grande Bom Retiro A 75 anos estou com 81 anos Joo olivrto
de Campos sou natural de Guarapuava meus pai vieram pro pinho em
ANIMAIS NO ALTAR (128)
O cavalo aparece muitas vezes nas pinturas da morte de Jesus no Calvrio. Ou o centurio que
est a cavalo ou o soldado que perfura o lado de Jesus com lana (e que a tradio chamou
de Longino). Na suposio de que o cavalo simbolize a soberba, a prepotncia, a luxria
desenfreada, o orgulho (como signicava nos textos profticos), o centurio, sentado num cavalo,
proclama:Verdadeiramente este era o Filho de Deus (Mt 27,54), ou seja, proclama a vitria de
Jesus sobre a soberba e o orgulho dos que o crucicaram. Ou, se pensamos em Longino, montado
na soberba, na prepotncia, no pecado, a humanidade rasga o lado de Cristo, de onde brota a
bondade, o perdo, a criatura renovada na pureza e na santidade.
Frei Clarncio Neotti, OFM
Rio de Janeiro/RJ
364
1932 hoje mro sozinho em minha caza, s que Deus me deu um cazar de
compadre que moram 20 metros longe de mim e eles tenham um cazar
de lios um rapaizinho e uma mocinha so meus aliados poo grande
pinho 2 de setembro de 2.007
Joo olivrto de Campos.
28/09: SO LOURENO
RUIZ E COMPS.
No sculo XVII, entre os anos de 1633
e 1637, dezesseis mrtires, Loureno
Ruiz e seus Companheiros, derramaram
seu sangue por amor de Cristo, em
Nagasaki, no Japo. Todos pertenciam
Ordem de So Domingos ou a ela
estavam ligados. Dentre esses mrtires,
nove eram presbteros, dois religiosos,
duas virgens e trs leigos, sendo um
deles Loureno Ruiz, pai de famlia,
natural das Ilhas Filipinas. Em poca e
condies diversas, pregaram a f crist
nas Ilhas Filipinas, em Formosa e no
Japo. Manifestaram de modo admirvel
a universalidade do cristianismo e, como
infatigveis missionrios, espalharam
copiosamente, pelo exemplo da vida
e pela morte, a semente da futura
cristandade.
Extrado da Liturgia das Horas
CATASTROS
em 1 de novembro de 2007 Quintafeira
eu Joo olivrto de Campos eu estava
na cidade de pinho pr eu estava no
labaratrio de fotos maxiclor pegando
umas fotograas que mandei revelar
por volta das 13 hs da tarde horrio
de vero veio um Enorme Vendaval de
80 por hora s se via chapa e telhas de
barro voando de uma caza na outra
camos por espao de uma hra quando
carmou eu fui pra caza da comadre
Maria p Rodrigues aonde deixemo
estacionado meu fusca e eu dice pro
compadre Nerci meu motorista vamo
embora ver a minha propiedade em
poo grande 36 klmtro do pinho ate
aqui mais como a minha propiedade
e consagada ao Sagrado Corao de N.
Sr Jezus Cristo nada aconteceu e nem nos vizinho o fenomeno foi no mato
o vegetal minha propiedade o imovel e tudo foi entrege ao S.C.J. em 4 de
agosto do ano 2.000 eu e minha nada espoza Joo oliverto de Campos e
Dna Rozilma Jezus de Campos de saudoza memoria
VIVA O S.C. de Jezus tudo dele perpetuamente
(Amem)
ANOTAO HISTRIAS DO PASSADO
francisco Assis de Campos e Dna Graciolina Alves de Campos sua Espoza
vieram de Guarapuava onde moravam vieram para o pinho aquele
tempo distrito de Guarapuava vieram em 4 de Maio de 1932 com seu lio
unico de 6 anos Joo Olivrto de Campos moraram de agregado de talo
Carli que o Senhor Amaro da Silva Machado cuidava de 540 alqueires de
terreno entre faxinal e culturas
francisco e graciolina moraram 14 anos na campina do balaio em 19 de
janeiro de 1938 comessaram A festejar So Sebastio em 4 de Maio de 1942
franscisco campos comprou 10 alqueres de terreno de pastajem de Joo
pedro Nunes e sua Mulher Dna Dalvina Ramos Nunes e foi escriturado
e registrado no nome do menor Joo oliverto de Campos e zeram nova
365
propiedade e se mudaram em 3 de junho 1943 e continuaram fazendo
A fsta de So Sebastio com mastro e espeto para o povo que vinham
comemorar So Sebastio festejaram com grande festa Ate 19 de janeiro
de 1961 Da em diante cou so com novena francisco festejou 27 anos e
faleceu em 25 de dezembro de 1965 cou Dna Graciolina e o lio Joo
olivrto e a nora Dna Rozilma espoza de Joo olivrto Dna Graciolina
festejou 50 anos e faleceu em 9 de dezembro de 1988 cou Joo oliverto
com Dna Rozilma festejando com novena e a capla de So Sabastio
e Sto Antonio foi fundada por Joo oliverto de Campos e Dna Rozilma
Jezus de Campo em Agosto de 1976 em poo Grande pinho pr e Joo
e Rozilma contuinaram festejando festejaram junto mais 15 anos e Dna
Rozilma faleceu em 28 de outubro de 2.004 cou s Joo olivrto sozinho
festejou 2.005 2.006 2.007 e 2.008 foi a ultima completou 70 anos hoje
os novos no do valor algum para as rezas do passado s do valores
a festas lucrativas vou contar as pessoas que festejavam So Sebastio
francisco Assis Campos Espoza Dna Graciolina / Domingo ferreira
da crus Dna Maria Teodora da crus / Joo Brazlio da Silva Dna
Maria da lus Manoel Candido e Dna francisca Candido vou contar
os que festejavam outros santos Jeronimo Leonardo de Ramos e Dna
Maria Luiza festejavam N S do pilar Assuno de N S 15 de agosto
Domingo Candido dos Santos e Dna Maria Roza de Jezus festejavam
Senhor menino 25 de dezembro Belarmino Rodrigues Calda Belair
e Dna Antunina festejavam So Joo 24 de junho pedro Cavalheiro
de lima festejavam So Rque 16 de agosto francisco Soar Batista
festejavam e Dna Etervina festejavam So Pedro 29 de junho
Hogenio Joze de Almeida e Dna Zeferina festejavam So Roque 16 de agosto
Antonio Belo dos Anjos festejavam e Dna francisca festejavam Senhor Bom
Jezus 6 de agosto
Manoel Ricardo e Dna Graciolina festejavam So Joo Batista 24 de junho
Manoel Severino da crus e Dna francisca festejavam N S de Conseio 8
de dezembro
Ernesto Brba e ludilima festejavam N S da Conseio 8 de dezembro
Antonio pereira dos Santos e Dna Ana festejavam Sto Antonio 13 de junho
/ Joz Alves Machado e Dna Nercinda festejavam So Joz 19 de maro
Bento Narcizo de paula e Dna Maria olinda festejavam N S Aparecida
12 de outubro
Emlio pires de lima e Dna Emlia festejavam So Joo Batista 24 de junho
Antonio Boeira festejavam e Dna Severina festejavam Senhor Bom Jesus 6
de agosto
366
Ataliba Cavalheiro de Lima e Dna Amrica festejavam N S do Carmo
16 de julho
ERnsto Marcelo da Crus e Dna Maria festejavam Senhor Bom Jezus 6 de
agosto
No total no passado eram 21 moradores que festejavam a santidade de
Deus // Alem que na Carezma uzavam Recomendar as almas nas cazas
nos Cruzeiros e nos semiterios
Hoje no eziste mais aquele tempo alegre e bom
J passou cou s a saudade
A Solido
eu Joo olivrto de Campos com 82 anos de idade A 4 anos viuvo vivo
sozinho em minha caza que consagrada ao S. Co de Jezus tudo E dele
perpetuamente A minha famlia moram em Guarapuava s tenho um
cazal de compadre que moram com migo a 20 metros longe de minha
caza no passeio so vou no pinho 2 veis por meis em Guarapuava 3 vezes
no ano no e bom morar sozinho Mais Deus quis assim o que vou fazer
Deus sabe tudo o que eu percizo e nada me falta
14/06/2.008
(Tudo ca na Saudade)
Meu avo amaro de Silva Machado morava de agregado do fazendeiro
Ourico Lustza Dno da fazenda Sambuia Hoje a Colonia Sambuia o lugar
que meu avo morava chamava se os Couxo hoje terras da Maderita meu avo
Amaro comprava no armazem do talo Carli e eles entrando em conversa o
talo falou pro meu avo Amaro olha Amaro voce no quer ir morar e criar
e plantar nos meus terrenos no pinho distrito de Guarapuava eu tenho l
40 alqueire de faxinal de pastagem esta abandonado ninguem cuida para
mim Tenho meu cunhado Angelo pra c do Rio Jeronimo mais ele cuida em
250 alqueires de cultura e eu tenho mais 250 alqueires que divide com a
famlia Brais pra dentro do Rio Jeronimo v pra l criar plantar e cuidar dos
meus terrenos e eu vou te mostrar os terrenos e troce meu avo Amaro entregou
todos os terrenos pro meu avo criar plantar e nada te cobro s para atender as
terras em 1930 Meu avo veio com os lios e meu pai fazer Rssa de mato em
1931 28 de novembro de 1931 meu avo veio com a famlia toda meu avo era
viuvo de Dna francisca Buffer veio com os genros Alcide cavalheiro e meu pai
francisco Assis de Campos genro do meu avo veio com minha me Graciolina
em 4 de Maio de 1932 Mulher do Alcide Dna lixandrinha e solteira lia de
meu avo Antnia e os hmens Joze Luis lucidario Januario e Joaquim e Dna
Marclia cou l no escoxo com o espozo Agenor Moreira genro do meu avo
Amaro Mais tarde vieram tambem e logo voltaram para Guarapuava Meu
avo morou 33 anos e faleceu em 20 de fevereiro de 1963 e o rsto da famlia
alguns morreram e outros se mudaram
cou s a saudade
367
A famlia do lado do meu pai francisco Assis de Campos O Afono pres e
sua espoza Dna luzia vieram morar em pinho distrito de Guarapuava
terreno dos Candidos por rdem do Adevogado Joo do prado em 1933 area
de 250 alqueires era fazendeiro cou mais fazendeiro lios elias Alice
Anglica e ominha darluzia faleceu em 1953 e ele tinha comprado outra
propiedade e da mais tarde em 1961 vendeu tudo e mudouce pro Guar
e la faleceu e outro moraram no Gois Artiga minha avo Ortencia j viuva
vo morar de agregado do Afono que ra genro dela ela veio com os dois
lios paulo e oliveira e a lia solteira Dna Odlia e a nta Senira eles
vieram em agosto de 1936 Moraram 21 anos voltaram em dezembro de
1957 Dna Maria Joana e Nho Vergilio vieram morar por orde de meu avo
Amaro em 1944 Moram 15 anos no lugar so trocaram de lugar 2 veis e
voltaram para o inacio martins com a lia ortencia e o genro Sebastio
nono verslio Morreu em Guarapuava Dna Joana Morreu em Guar
cou s a recordao Joo olivrto de Campos
Uma historia do passado tudo lembrana
A minha lia Abegacir Maria ap. correia que mora em Guarapuava
estando aqui a passeio nas frias de julho rezorvemos vizitar a tapra
do Manoel Candido e de Dna Chica Candido todos de saudza memria
tem nome de tapra do alho a qual tem uma fornalha de pdra mais o
menos uns 80 anos e eu comi bolinho assado nessa fornalha eu era pia de
7 anos ali por 1934 mais o menos Levemos o compadre Neuri Macedo foi
de vaquiano mais o menos lgua e meia no meio do mato vimos aves
uru veado e o rasto do leo s que encontremos a fornalha em runa e
eu levei a minha maquina de fotograa tirei fto da fornalha e foto da
Abegacir sentada nas runas da fornalha e da Abegacir tirou fto de mim
Joo olivrto com o compadre Neuri centado em cima da fornalha e da
improvizemos com as pedras uma fornalha e puzemos fogo na fornalha
improvizada e eu tirei uma foto Sio Manoel Candido e Dna chica cndida
festejavam So Sebastio dia 20 de janeiro
E nos zemos esta vizita dia 19 de julho do ano 2.008 sbado
Assino Joo olivrto de campos 19/07/2.008
Mais uma historia
O meu terreno uma rea de 10 alqueires de terreno na gleba n8 em
poo Grande Bom Retiro meu pai franscisco Assis de Campos e minha
me Graciolina Alves de Campos compraram para mim Joo oliverto de
Campos eu ra menor compraram de Joo Pedro Nunes e sua mulher Dna
Dalvina Ramos Nunes em 4 de Maio de 1942 escriturado registrado 2
ocio em Guarapuava paran como eu ra lio unico zeram escritura
dirta em meu nome foi medido em janeiro de 1944 mais tarde medido
de novo em 1963 tirado memorial descritivo ns com papai e um
camarada fexamos com 3 os de arame falpado em janeiro de 1964
368
Aturou a cerca 44 anos em 2.008 fexamos de novo com 6 os de arame
falpado vedavel de ovelha a cerca completa com palanque de serne e
mestre de serne e porto 3 porto e feitio cou por treis mil e trinta
3.030,00 reais quem tirou palanque e feis tudo complto foi o compadre
Neuri Duarte de Macedo que mora com migo Joo olivrto de Campos
ele pegou um companheiro para ajudar fazer a cerca compadre Amilton
de Morais zeram no ano de 2.008 Assino Joo oliverto de Campos //
com 82 anos.
As minhas lias Delair fatima Campos Sobrinho e Abegacir Maria
Aparecida Correia ajudaram no pagamento dais cercas elas esto
plantando Eucalipto provavel mente a terra delas 17/08/2008 Elas
moram em Guarapuava pr 17 de agosto de 2.008
Nota de falecimento
em dia 26 de outubro de 2008 domingo faleceu a pessoa mais importante
da comunidade de poo grande pinho pr Dna Marcimilia Camargo
de oliveira com 64 anos espoza do senhor Antonio ferreira de oliveira
(Diogo) deixou lios pedro ivo e Eleninha genro iv ntos fabiane e
igor faleceu no hospital de Colonia Vitoria entre Rios as 22 HS do dia
26/10/2008 foi velada na caza dla as 16 HS do dia 27-10-008 ela
veio para a capla de S. Sebastio e Sto Antonio em poo grande para
o culto de corpo prezente capela onde por 9 anos eles trabalhavam ais
17 HS do dia 27/10/2008 ela foi sepultada no semiterio de poo grande
juntos seus irmo e parentes Sio Antonio e Dna Mila zeram Barraco
e Deboliram a capla de madeira zeram (?) 1990 ate 1998 e mais ate
1999 cou s a saudade de Dna Mila quem trabalha para Deus recebe
a recompena Amem
Em dia 8 de novembro de 2.008 sbado tivemos um encontro no
barraco da capla de poo Grande pinho pr com o povo da unicentro
de Guarapuava e Curitiba tinha professores e professoras e 2 adevogados
e um do iap e do meio ambiente das 11 HS ate as 15 HS por ver o que
a comunidade de poo Grande mais perciza estradas saude 2 grau e
outros assuntos
Rodolfo Stanemi de Curitiba e trabalha na Quem TV Produes
Anderson Leandro da Lapa e trabalha na Quem TV Produes
Gilmar da Silva Pinho PR
Carlinhos Favero Pinho-PR
Bruno de Oliveira de Lapa-PR
Joo olivrto de Campos fui entrevistado por todas essas pessoas que acima
esta escritos os nomes e cidades aonde moram 16 de dezembro 2.008
369
O Homem Szinho e a Mulher Sozinha
Nos dias de hoje como sempre e acham que o homem pode viver sozinho est
crto pode sim viver sozinho mais puro engano, mezmo a mulher a mulher
mais face arrumar um parceiro o homem mais custozo principalmente
se for velho nos dias de hoje pde cerrumar pra cabessa de si prpio nem todas
as mulheres de hoje s qurem a grana aconslho quem tiver sua mulher
onsta zle por que terminou aqula as vezes terminou tudo o hmem ca
sozinho quazi abandonado longe de lhos ou lhas esse velho ou velha que
sevire se puder nos no estamos nem nai outros dizem no queremos que o
pai caze de novo ou a me caze de novo se isso acontecer nos vamos dar um
jeito eu acho que o homem e a mulher tem direito de se cazar de novo por
esse motivo Deus criou o homem e a mulher vegam em Genessis capitulo
1 a verciculo 26 e 27 Deus feis o Ado do p da terra e tomou uma parte
do Ado e fes a companheira EVA e Deus dice crecei e multipricai enxei
a face da Terra, se foce pro homem viver sozinho Deus no fazeria a EVA
Ado estaria ate hoje sozinho Muntas famlias dizem o pai viuvou aguente
os pontos no deixamos ele cazar de novo ou a me cazar de novo mais as
vezes as famlias moram bem distante e o fulano viuvo ou a fulana viuva
tem que morar szinho ou sozinha no meio de gente estranha e sempre na
solido no meio do abandono apozentado ou apozentada tem que trabalhar
pra sobreviver At o m da vida quando morre os estranhos vo darlhe uma
sepultura e a famlia esto nua boa se deixou alguns bens vamos dividir
o homem sem mulher chega do servio ou da viagem tem que fazer tudo
na caza no tem os quem faa felis da quele que tem um vizinho proximo.
Findou a histria. poo Grande 14 de maro de 2.009
Guardem o sbado que Deus descanou / e prezervem o domingo que
o Senhor ressucitou
A Juventude e a Drga
No passado no ezistia essa dezgracia que hoje eziste no meu passado da
minha adoleciencia e juventude a vida dos jovem era um cu na terra
estou vlho com 82 anos hoje estou vendo o Demonio na terra atraveis
da drga nais esclas nos colegios nais igrejas nais ruas nos bairros nais
periferias e favlas dais cidades grandes e pequenas e mezmo ate nos
interires dais xacras e fazendas e menr matando menr adulto matando
adulto secuestros roubos assacinatos at de crianas a violncia sem
tamanho no Brazil e no mundo prostituio de menores pia e menina se
prostituindo A Lei eziste mais nuca vai controlar pai chorando a morte do
lio a me chorando a prostituio da lia A juventude no religio no
tem Deus nem nas esclas no tem Deus a igreja catolica poco fais contra
as drogas os Evangelicos fazem mais mais no vencem
Os prprios pai e me no encinam os seu lios a rezar ir na sua igreja
catlica ou evangelica Tudo esses castigos que nos estamos vendo no Brazil
e no mundo o que falta de Deus na humanidade s vai mudar quando
370
Cristo voltar apartar os cabritos dais ovelhas e o trigo do joio o bom car
a sua direita vinde bendito para meu pai / os da esquerda apartai vs de
mim malditos para o fogo do infrno
tudo esta consumado
poo Grande 14 de maro 2.009
Uma histria
Como ra o passadiu no passado que j foi e no mais volta
as pessoas as mulheres do passado faziam farinha de milho moido
no monjolo de agua pindocavam o milho abanavam tiravam o farlo
servia para alimentar os caxorros ponhavam o milho de molho dentro de
um saco e o saco dentro de um sesto cavam o milho de molho por 10 dias
da las tiravam o milho esfregavam no balaio ate sair toda a goma do
milho enxugavam com um pano seco esfregando dentro do balaio depois de
seco o milho ponhavam no pilo do monjolo para o monjolo moer o milho
quando j moido elas peneravam noutro balaio com a peneira na aonde
saia a maa ou fub da massa levavam ao forno redondo e com ais Mao
faziam o biju com fogo brando em baixo do forno passando um pincel de
palha molhado para no queimar o biju o biju ia levantando do forno por si
prpio elas ponhavam os biju na sururuca especie de peneira grossa feita de
taquara dentro do balaio e iam moendo cava uma farinha bem ninha e
se quizesse tiravam tambem a quirera para cozinhar com suan de porco ou
a carne de porco guardada na lata coberta com banha para no arruinar
a carne caria de um ano para outro por que no avia geladeira nesse
tempo se quizesse tirava o fub secava no forno para guardar para fazer
bolo de fub ou broa de fub e se quizesse tirava a cangica para cozinhar
e comer com leite de vaca Os homem plantavam a rossa de toco como se
dizia na poca rossavam a capoeira se era capoeira grossa rosava em meis
de maio junho e os pau grosso derrubavam com o maxado para queimar da
quadra da prima vra em meis de setembro e a capoeira era na se rosavam
queimar em meis de outubro plantar milho e feijo se plantava com o saxo
ou sengo As mulheres cuidavam da caza dais hrtas de mandioca e batata
e outras ortalicias cuidavam das vacas prcos cavalos guas burros carneiro
cabritos e haves galinha e outros nessa epca o pobre ra rico e no sabia
que ra rico tinha de tudo criolo so comprava o sal e o assucar e a pinga
que eles gostavam tomar um gle na hra do almoo comer carne de gado
cozinhado com feijo preto comer quirera com suan de porco mandioca
cozida tomar um bom ximaro erva criola um xaruto de palha fumo que
eles mezmo faziam As mulheres custuravam as roupas para las os homem
e ais crianas Nessa epoca no tinha radio nem televizo nem lus eltrica
nem agua encanada s se trazia da fonte com o barde se alumiavam com
lampio a quirozene ou vela candiero de banha de porco Nos danava o
baile com esses lumes e a gaitinha 8 soco ali por 1940 como era gostozo viver
nessas epoca
371
Mais tudo mudou hoje os jovem no se trajam como rapais caro para o
garro brinco na orelha fuma se drga pinse na boca corrento no pescoo s
bertence a violencia o roubo estelhonato secuestro estupro qurem sempre
estar longe de Deus no gostam dais igrejas catolicas e outras evangelicas
s Deus sabe como vai terminar
Aguarde em Brve Jezus Cristo vir
Em 20 de julho de 2.009 o jornal Hoje registra a 40 anos chegada do
homem a Lua em 20 de julho de 1969
falta de F e conana Em Deus
Contado pelos antigos que apis Gurra 1 Gurra Mundial de 1914 a 1917
aperaceu N S em fatima aos 3 vidente lucia francisco e Jacinta em
fatima na cova de iria em portugual de 13 de maio a 13 de outubro de
1917 mandando rezar o tero pra guerra acabar // e contavam que em
1918 chegou a gripe espanhola matou centenas de povos no Brazil e em
1924 estorou a Revoluo federalista S. Paulo paran e Rio Grande do Sul
e em 1929 a crize mundial e em 1930 a Revoluo Getulista o Getulio
Varga ganhou o poder ditadura getulista por 15 anos em 1935 A Tentona
Cumunista no Rio de Janeiro no vigorou em 1 de setembro de 1939
estorou a 2 Gurra Mundial terminou e em 8 de maio de 1945 milhes de
mrtos em 1941 a Ratada no Paran em 1946 a 1947 gafanhoto no paran
1947 a peste suna terminou com os porcos 1948 a febre afetoza no gado
caprino e ouvinos e os porcos que sobrou em 1964 em 31 de maro estorou
a Revoluo contra o prezidente Joo Gular e Brizla a ditadura militar
por 20 anos at 1984 e por m chegou o 3 Milenio Ceculo 21 ano 2.000
ai foi s mudando torneado ciclones no esterior e no Brazil e no mundo
atual violencias assaltos sequestros drgas prostuio ao AR livre 2.005
gripe do frango 2.009 a gripe suna no povo brazileiro veio do Mexico em
7 de setembro de 2.008 para 8 de setembro de 2.009 a enorme tempestade
que atingiu todo o parana 46 municipio e Santa Catarina 6 municpio
Sta Catarina j tinha sofrido catastro em 2.008 Rio Grande do Sul e So
Paulo sofreram agora nesta de setembro milhes de dezabrigados e muntas
mrtes e s Deus pode valer por que est se comprindo as professias blbicas
o nal esta se aprocimando na sua igreja catolicos ou evangelicos joelhos
no cho teros e bblia na mo sera a tua salvao
poo Grande Bom Retiro pinho pr 10 de setembro 2.009
Joo olivrto de Campos.
Em meus dias com 83 anos de idade eu Joo olivrto de Campos na vida
eu sofri bastante na minha mocidade foi munto pouco o meu bom tempo
sofri munto com o meu pai era munto doentio minha me ra mais sadia
me cazei minha mulher representava ser sadia a 5 anos depois de cazado
comessou o sofrimento com a mulher doenas um tempo estava boa outro
372
tempo estava doente 42 anos de doena at que chegou a mrte vivemos
cazados 47 anos e 4 meis // o pai faleceu em 25 de dezembro de 1965
faleceu com 66 anos francisco Assis de Campos A me faleceu em 9 de
dezembro de 1988 faleceu com 83 anos Graciolina Alves de Campos //
A espoza faleceu em 28 de outubro de 2.004 Rozilma Jezus de Campos
com 66 anos e 11 meis e meio // Apenas criamos 2 lias que moram em
Guarapuava pr Delair e viuva tem a famlia dela a outra e Abegacir
cazada espozo dela e Jorge (?) famlia e eu vivo szinho na minha chacra
em poo grande pinho pr s tenho um cazal de compadres que a tempos
moraram com migo so meu tudo Neuri e Tereza no tenho mais parente
nem um nem tio nem tia tanto paterno como materno sogro sogra tudo j
foram e agora enfrentando os castigos de Deus e as frias da natureza // e
nos mais s Deus criador rezerve todos os problemas e semos livres Amem
assino Joo olivrto de campos 22 de outubro de 2.009
O VOTO REPUBLICANO
H 20 anos, nosso povo reconquistou
um direito que, no praticado, tornava a
nossa Repblica uma fantasia: o de votar
diretamente para presidente da nao.
Aquele 15 de novembro de 1989 foi o
resultado de muita luta, iniciada com a
bonita campanha pelas Diretas J!, em
1984. Os comcios do movimento reuniram
as maiores multides da nossa Histria.
Desse povo consciente, mobilizado e
vestido de amarelo nasceu a Constituio-
cidad de 1988 e as eleies para presidente
da Repblica, no ano seguinte, cujo segundo
turno foi disputado por dois jovens: Collor,
o vitorioso, do extinto PRN, e Lula, do PT,
que ganhou a presidncia 13 anos depois.
At ento, nenhum brasileiro com menos
de 55 tinha votado para escolher o ocupante
do mais alto cargo do pas.
Chico Alencar, autor de Educar na
esperana em tempos de desencanto,
VOZES.
PLULAS DE FREI GALVO (1)
As Plulas de Frei Galvo no so remdios
de farmcia, mas plulas devocionais.
Tomadas com f e com converso de corao,
podem servir como um sinal sacramental. O
sacramental sempre se relaciona com Cristo,
Maria ou com os Santos, como medalhas,
imagens ou teros, por exemplo. As plulas
nasceram do grande amor, zelo e caridade
que Frei Galvo tinha para com os doentes.
Um dia, no podendo visitar um jovem que
estava com dores tremendas, escreveu em
um pedacinho de papel uma invocao
virgem imaculada e disse ao portador: Leve
ao enfermo e diga-lhe para tomar isso como
f e devoo a Maria. Da aconteceu a cura.
Mais tarde, fez a mesma coisa para uma
senhora em perigo de vida no parto. Ela e o
lho se salvaram. Desse pedacinho de papel
se originaram as Plulas (continua em
22/12).
Frei Paulo Back, OFM
So Paulo/SP
Senhor
Se fxe as prtas de eu fazer o mal = e se abra as prtas de eu fazer o bem
Joo oliverto de Campos
Na data de 04/11/09 a equipe do jornal Fatos do Iguau compareceu na
casa do seu Joo para entrevista-lo Nara Coelho Edineia e o guia senhor
Juvenal Silveira Ramos.
quei munto satisfeito com a Vizita da Redao do jornal fatos do Iguau
4.12.2009 Joo olivrto de Campos poo Grande pinho pr.
373
Dibe Salua Ayoub mestranda em Antropologia, UFPR, Curitiba
Carlos Cavalheiro de Ramos- Pinho PR
Juarez (?) Pinho PR - Evanglico
Liliana Porto Curitiba/PR UFPR Catlica
No Dia 18 de fevereiro de 2.010 fui vizitado por estas pessoas da universidade
de Curitiba esto acima acinado os nomes deles 2 senhora e 2 senhores elas
de Curitiba eles do pinho pr Assina
Joo olivrto de Campos
DOZE DICAS PARA SER FELIZ
Elogie trs pessoas por dia;
Cumprimente as pessoas que encontrar
pelo caminho;
Sorria. No custa nada e no tem preo;
Saiba perdoar a si e aos outros;
Trate a todos como gostaria de ser tratado;
Pratique a caridade;
Faa novos amigos;
Reconhea seus erros e valorize seus
acertos;
D s pessoas uma segunda chance;
Respeite a vida;
D sempre o melhor de si em todos os
momentos;
Reze no s para pedir coisas, mas
principalmente para agradecer.
Instituto Brasileiro de Comunicao
Crist, Dezembro/2003
Seleo de Maria Regina Neves Ramos,
Caetit/BA
eu FICO
COMO PARA O BEM DE
TODOS...
A frase famosa: Como para o bem de
todos e felicidade geral da nao, digam ao
povo que co. Palavras do jovem prncipe D.
Pedro, em 9 de janeiro de 1822, atendendo a um
apelo de oito mil brasileiros que, em abaixo-
assinado, exigiam a sua permanncia entre ns.
D. Pedro desobedeceu s ordens do governo de
Portugal e de seu pai, D. Joo VI, que queriam a
recolonizao do Brasil. Atendendo aos anseios
de fazendeiros do Rio, So Paulo e Minas, e
de muitos funcionrios do Estado nascente, D.
Pedro produziu o conhecido Dia do Fico. Oito
meses depois aconteceu o Grito do Ipiranga, da
independncia, marcando a separao poltico-
administrativa do Brasil com Portugal.
Chico Alencar, autor de BR-500, Um guia para
a redescoberta do Brasil, VOZES
OBJEO DE CONSCINCIA
Vivemos num contexto sempre mais pluralista.
Convivemos sempre mais com estranhos
morais. Diante desta realidade teremos de
conviver com legislaes que na sua essncia
sero contra os valores evanglicos da promoo
e defesa da vida. Por exemplo, um prossional,
pesquisador ou cientista cristo, poder dizer no
ao aborto, eutansia, pesquisa com embries
que os destroem, mesmo que a lei civil venha a
permitir estas prticas, valendo-se de um direito
fundamental, o da objeo de conscincia. O
Documento de Aparecida (n459) assinala que,
para promovermos uma cultura da vida, devemos
assegurar que a objeo de conscincia se
incorpore nas legislaes e cuidar que seja
respeitada pelas administraes pblicas.
PE. Leo Pessini, Camiliano
pessini@scamilo.edu.br
14/03: DIA DA POESIA
Deus me deu um talento
para fazer poesia,
ao faz-la sinto prazer,
tambm sinto alegria.
Quando na escola estudava
na cartilha sempre lia.
Tinha mais prazer em ler
quando l encontrava poesia.
A poesia se torna bela
e nos enche de emoo
quando inspirada por Deus
e nasce do corao.
Adelinda Coan Bendo
Baixada Urussanga/SC
374
Joo olivrto de Campos eu cai
com a crus nsta carezma do
ano 2.010 eu participei da minha
capela de N SR Jezus Cristo no
ttulo de S. Sebastio e Sto Antonio
em poo grande pinho fundei eu e
minha nada espoza Dna Rozilma
Jezus de Campos fundemos em
agosto de 1976 // e neste ano 2.010
eu s participei da quarta feira
de cinza 17/02/2.010 At o dia
28/03/2.010 domingo de ramos
no culto eu estando munto doente
minhas lias Abegacir e a Delair e
o fabio genro da begacir e a Ellem
ADESO VONTADE DE DEUS
Senhor, ignoro o que me poder acontecer
hoje. Mas sei que nada me acontecer sem
que o tenhais previsto e permitido para o
meu bem. E isso me basta! Adoro os vossos
desgnios eternos e impenetrveis. Aceito-
os de todo o corao, por vosso amor.
Ofereo-vos todo o meu ser, unindo-me ao
sacrifcio de Jesus. Em seu nome, e pelos
seus mritos, peo-vos a graa de assumir
com amor as horas diceis, aceitando a
vossa vontade, a m de que tudo resulte para
o meu bem e para vossa glria.
Amm.
Liturgia diria, Ed.Paulus
Seleo de Rodrigo Soares Cordeiro,
Tabira/PE
A VIOLNCIA
O ceculo 21 o mundo mudou no para o bem mais para o mal no
sabemos decifrar o que esta acontecendo lio contra o pai pai contra o lio
ermo contra ermo em m um contra outro como falou Joo Maria de
Jezus a 100 anos passados violencia nas esclas por toda a parte drgas e
prostituio falta Deus nas esclas nos alunos e professores e professoras Na
escla So Joz em Zattarlandia Bom Retiro encino fundamental e ate o
2 grau aconteceu no dia 12 de maro de 2.010 sexsta feira duas mocinhas
uma de 16 anos e outra de 14 anos (...) 14 anos cortou a canivete a (...) de
16 anos motivo no se sabe chamaram a patrulha escolar para fazer o que
tem que ser feito (...) lha de (...) e (...) (...) lia de (...) e (...)
No momento nada feito poo Grande pinho 19 de maro 2.010
mulher do fabio vieram me buscar para levar no mdico em Guarapuava
onde todas las moram no pude participar do lava p so voltei dia 2
de abril Sexsta feira Santa eles me trouceram e participei do culto da
Sexsta feira Santa e a via-sacra at o morro da crus que eu comessei essa
porcio na Sexsta feira Santa do ano 1977 j 33 anos em 2.010 e voltei
para o medico com a famlia mezmo que me trouce. e na capla tudo
foi cordenado por Dna Dulclia Camargo e a aliada Joslaine Morais
e comadre Cirlene de Gis ministra e o aliado Joo franscisco de Gis
coordenador do Lava p Que eu encinei a tempos passados hoje eles esto
fazendo a minha veis Obrigado Senhor
Dulcilia de Camargo / Dna Dulce / natural de palmital municipio de
pitanga pai Antonio Pedro da Silveira me Olinda Martins da Silveira
nacida em 24 de setembro 1961 cazouce com 16 anos com Siro de Camargo
rezidiram em Guarapuava por 10 anos atividade trabalhava no Hospital
So Lucas em Guarapuava em 1997 vieram pro municipio de pinho pr
375
Local faxinal de Todos os Santos / elle trabalhava de carpinteiro e pedreiro
e la domestica Tiveram 4 lios dois pia e 2 meninas hoje todos cazados
religio catolica foi catequista por 16 anos em Todos os Santos em 1998 la
viuvou cou criando a famlia sozinho criou e enducou todos os lios
Da em Abril de 2.004 se encontraram com Joz Nerci Mendes que cou
abandonado da mulher Marlene de paula em 6/12/2.003 cou com uma
mocinha Marelis e dois pia Nielsem Miguel Mendes e Leandro Augusto
Mendes Dna Dulce assumiu o compromisso de 2 me adotiva Marelis
cazouce e o 2 pia hoje so adolecente frte quazi rapais no comando de Dna
Dulce ajudou dar estudo a todos eles e s da bom conseho aos adolecentes e
eles obedecem as ordem de Dna Dulce e chamam de me para o Joze Nerci
foi uma beno Dna Dulcilia ela fais as vezes de me biologica sendo me
adotiva o Joze Nerci e meu aliado e sou padrinho de toda a famlia dele
assino Joo olivrto de Campos chegou ao m da histria de Dna Dulcilia
poo Grande pinho pr 19 de julho de 2.010
Os Tempos Mudam
Os jvem do passado // os jvem de hoJe
Os jvem do passado cavam moo na companhia dos pai e me trabalhando
com os pai confrme a atividade dos pai Alguns estudavam um pouco
escla particular mezmo que saicem trabalhava fra mais sempre estavam
com os pai As moas na companhia da me s se cazavam com 20 anos a
mais os rapais primeiro faziam um p de meia para pensarem cazamento
quando se cazavam com 21 anos a mais e tinham de tudo o conforto
mezmo que focem pobre mais no faltava o nessesario para sobre viver o
pobre ra rico e no sabia que ra rico viviam ate o m de um ou de outro
criavam a famlia como conforme foram criado ra outra vida.
Os jvem de hoje
para comessar s estudam do o zro at o 2 grau rapais e moas ai vem a
drga 90% no trabalha com nada o pai e a me vo trabalhar e eles cam
dormindo se estuda a tarde dorme at o meio dia levanta se Toma um
banho alma e vai pra a aula e l gazeia a aula a tarde vlta para a caza
quando volta estuda de manh ate o meio dia vem pra caza almoa ca
assistindo a TV ou vai dormir rapais e moa assim o que eu vejo o rapais
e a moa dis pro pai e a me eu quro um tene de marca e uma cala de
marca e voceis se virem eu quro o pai dis eu no poo comprar o de marca
vou comprar o mais barato j comprei o material pra voceis estudar eles
dizem pro pai e pra me eu no sei de nada eu quro porque me zram
se acarquem e ai vem os namoradinho e ais namoradinhas derrepente
muntas meninas que no se atendem vai crecendo a barriguinha quem
o pai fulano fulano eu no assumo voc andava com todo o mundo vamos
pro DNA e os jovem de hoje quando se cazam ou cam junto pra pouco
tempo Tudo hoje descartavem vem do paraguai mais as vezes algum
376
sofre bastante e no m se arruma para uma vida melhor// que Deus
abenoe os jovem de hoje
XX-VII-MMX
Deus o Homem
- e a Natureza -
Deus criou a natureza criou o homem e ao passar os cculo o homem
destruiu a natureza e a natureza se revoltou contra o homem Ai vem o
aquecimento grobal que os cientistas falam vem as frtes tempestades que
destroem cidades e mais cidades ventos de 160 por hora pedreiras enormes
que me tudo chuvas frtes demais no passado no ra assim para nos
vlhos de 80 a 90 anos vimos o passado hoje est tudo diferente a natureza
no se sabe quando e invrno ou vero est crto como dice Joo Maria
de Jezus que hoje o homem Abuza de tudo e alguns dizem que Deus no
eziste muntas escla encinam assim que Deus e uma histria
E ai como ca os jvem do futuro como ca a sua f ai vai vindo castigo de
Deus sobre a humanidade como ns fala a santa Bibia no antigo testamento
Sodoma e Gomorra samaria e jeruzalem Sodoma e Gomorra ainda EZIste
mais foram sofridos // e hoje o preconseito est em tudo que igreja seja
catolica evangelica o Juda sempre est l Amando o preconceito e assim
vai ate o m
XIX-XII-MMX Joo olivrto de Campos.
SOLIDO
Eu Joo olivrto de Campos passei o dia 1 de janeiro de 2.011 na minha caza
ou melhor meu Ranxo bem sozinho que a um tanto da minha familia que
moram em Guarapuava j vieram no natal 25-12-2.010 Obrigado pela
vizita e tambem muntos aliados que vieram de longe Santa Catarina e
outro de Bituruna pr Almoamos munto felizes mais o 1 do ano 2.011 j fui
s eu e Deus e Santos e Santas e a milice celestial O culto do dia 1 de janeiro
na capla fui s eu e mais ninguem como eu sou ministro extraordinario
da eucaristia eu no podia deixar de fazer o culto e comungar tive convite
para 2 almoo eu no fui em neum motivo que eu sou velho no me sinto
bem ao meio de pessoas de Alta clace eu sou inimigo do preconceito a
pessoa velho sempre regeitado pela juventude o que esse gato vlho vem
fazer aqui no meio de nss Joo olivrto de Campos
Anos passam e Anos vem
e o castigo vem tambem terminou 2.010 vem 2.011 janeiro de 2.011
vem a chuva no Rio de Janeiro A chuva mata dezenas e mais dezenas
de pessoas tambem em So Paulo e minas Gerais no Brazil e no mundo
a chuva mata vento mata assaltante mata violencia e mais violencia
sequestro e mais sequestro at aqui no nosso lugar que ra um paraizo
agora j t sendo um grande poblema
377
Esteve quadrilhas de bandidos e ladres assaltantes que matam sem
piedade para roubar A quadrilha formada por o individo (...) e outras
como a o policiamento de pinho e munto fraco foi chamado a trpa de
xque de Guarapuava estava a quadrilha acampada no caxueiro de Rio
Jeronimo de Bom Retiro poo Grande pinho entraram em confronto com
os bandidos e os bandidos escaparam foi prezo a mulher do (...) (...) vulgo
(...) e o resto da quadrilha foi prezo no pinho dia 19 de janeiro 2.011 eu
moro em poo grande a 79 anos nunca aconteceu isso temos munto pouca
gente boa em nosso lugar os antigos que eram bom j foram todos para a
eternidade resta seus familiares e est poucas gentes que vem de outros
lugares no conhecidos em outra cumunidade proximo a nossa eziste
jvem interessado a formar guangue e o que a gente soube s Deus pode
rezolver tais problemas 30/01/2.011
1 SEXTA-FEIRA DO MS
Corao Semelhante ao de Jesus.
H coraes que exaltam e outros que
humilham; coraes que bendizem e alguns
que maldizem. Existem coraes que pedem,
e outros que negam; coraes que abenoam
e alguns que amaldioam. H coraes que
acolhem e outros que rejeitam; coraes
que curam e h outros que ferem. Existem
coraes que libertam e alguns que oprimem;
coraes que perdoam e outros que se
vingam. H coraes que socorrem, outros
que abandonam; coraes que unem, outros
que desunem. Existem coraes que do vida
e outros que matam. Alguns aproximam,
outros repelem. Corao de Jesus, que meu
corao seja semelhante ao vosso.
Pe. Antnio Francisco Bohn
Lus Alves/SC
SOLIDARIEDADE AOS
ENFERMOS
preciso ser agradecido a Deus! Sim!
Agradecer a melhor maneira de merecer.
Louve a Deus pela sua sade e pela alegria
de no ser s. Mas, convido voc a pensar
sempre um pouco nos milhes de seres
humanos, irmos seus, que passam pelo peso
da dor e do sofrimento. nossa obrigao
levar uma palavra amiga, de conforto e
esperana a um irmo machucado pela
enfermidade. Que tal dividir a sua felicidade
e o dom da sua sade com aqueles que, em
seu leito de dor, experimentam a limitao
e a doena? Seja solidrio! Partilhe com
algum, em forma de presena, a graa de
no ser s e o dom de ser saudvel e feliz.
Rosa Garcia
Itarar/SP
11/02: NOSSA SENHORA DE LOURDES
Quando saiu naquela fria manh de 11 de fevereiro de 1858 para buscar lenha, a jovem Bernadete
Soubirous, ento com 14 anos, no imaginava o que estava para acontecer. Enquanto descansava
entrada de uma gruta, uma luz suave vinda de dentro lhe chamou a ateno. Iniciava-se ali uma
srie de encontros com aquela que, depois, se revelou como sendo a Imaculada Conceio.
O encontro da pobre Bernadete com aquela mulher vestida de branco iria transformar aquele
local num dos mais importantes centros de peregrinao mariana do mundo. O apelo orao e
converso, e os inmeros testemunhos de cura, continuam atraindo a Lourdes, na Frana, todos
aqueles que esperam na intercesso bondosa da Me junto a Deus
Frei Sandro Roberto da Costa, OFM
Petrpolis/RJ
378
IDADE LONGA
Joo Olivrto de Campos naceu em Combro municpio e comarca de
Guarapuava pr em 6 de maio 1926 pai francisco Asiss de Campos e
Dna Graciolina Alves de Campos semudaram para o pinho em 4 de
maio de 1932 sendo lio unico do cazal estudou primeiro em escla
particular em poo Grande pinho em 1939 e 1940 Apois anos e mais
anos cazouce com Dna Rozilma da famlia Brais e Ramos ela lia de
Domingo Ramos de Morais e Dna francelina Maria de Morais cazouce
com 31 anos tiveram 2 lias Delair e Abegacir viveu 47 anos e 4 meis
cazado com Dna Rozilma ela veio falecer em 28 de outubro de 2.004
da Delair teve 2 lias Rozidete e Neiza 2 neta de Joo oliverto da
Rozide teve uma lia Gecica Neruza uma bis nta de Joo olivrto da
Neruza cazouce teve uma lia Izadora tataraneta de Joo oliverto de
Campos 85 anos da Abegacir 2 lias Hellem e Tamara 2 neta de Joo
olivrto da Hellem uma lia Bruna Bis neta de Joo olivrto 2 lias
4 ntas 2 bis ntas e uma tataraneta Agradeo a o meu querido Deus
por sta longa vida.
Obrigado Senhor
Joo olivrto de campos
Poo grande pinho Paran
12 de maro 2.011 sbado
Amar a Deus e o proximo
Anotao
Os fundadores da capla So Sebastio e Sto Antonio em poo Grande
pinho pr.
Joo oliverto de Campos e sua espoza Dna. Rozilma Jezus de Campos
1 Capela madeira em agosto de 1976
Aps 22 anos foi construda de alvenaria por Sio Antonio Ferreira de
Oliveira e Sua espoza Dna. Marcimilia Maria de Oliveira Dna Mila
em 1998
Veja a fto na proxima pagina
As duas senhra j so falecidas
cou a saudade
31 de maro de 2.011
Joo olivrto de Campos 84 anos
Os primeiros fundadores da capla de poo grande Joo olivrto de Campos
e Dna Rozilma Jezus de Campos Agosto 1976 Na madeira
de alvenaria por Antonio ferreira de oliveira e Dna Marcemilia Maria de
Oliveira Dna Mila em 1998
379
Dentro da capla a direta ao canto esta um quadro com esta fotograa e
uma placa com esses dizeres que voc est vendo
Dna. Rozilma faleceu 28 de outubro de 2.004 e Dna Marcimilia faleceu
em 26 de outubro de 2.008
Ficou a saudade das grandes senhras
Joo oliverto de Campos
O tempo est mudando dias apis dias est se realizando as profecias do
livro Epocalipse escrito por Joo Evangelista na ilha de patam // cidades
esto dezaparecendo no planeta Terra / a violencia inacabavel a drga
a fonte da violencia // o inimigo achou que foi a porta mais aberta que
pra ele deu mais certo foi a droga no Brazil e no mundo levando o Brazil
e o mundo para o cau No dia 7 de abril de 2.011 um atirador drogado
enndemonhado entrou num colegio no Rio de Janeiro entrou atirando
matou 12 crianas a policia atirou no p dele mais o povo dis que ele
se matou o quanto ele iria padecer mais dizem que foi a policia que o
mato o bandido que na manh do dia 7 de abril de 2.011 aconteceu a
tragedia esta se comprindo todas as profecias bilbicas isto apenas o comesso
das dores 90% por sento no tem Deus as prpias igrejas esto mudando
suas doutrinas ninguem mais guarda o sbado que o antigo testamento
nos fala Deus criou o mundo e todo o quanto nele eziste em 6 dias e o 7
descanou Jezus Cristo resucitou no 1 dia trais o nome de domingo ao que
na Bibia no se encontra o domingo // mais s Deus sabe tudo 19-4-2.011
380
ANIVERSRIOS DE CASAMENTO
Ano(s)- Bodas de...
1 - Algodo
2 - Papel
3 - Trigo ou Couro
4 - Flores e Frutas ou Cera
5 - Madeira ou Ferro
10 - Estanho ou Zinco
15 - Cristal
20 - Porcelana
25 - Prata
30 - Prola
35 - Coral
40 - Rubi ou Esmeralda
45 - Platina ou Sara
50 - Ouro
55 - Ametista
60 - Diamante ou Jade
65 - Ferro ou Sara
70 - Vinho
75 - Brilhante ou Alasbatro
80 - Nogueira ou Carvalho
Seleo de Luciana Helena Lopes
Ouro Preto/MG
15/06: BV. ALBERTINA
BERKENBROCK
Albertina Berkenbrock nasceu a 11 de
abril de 1919, na comunidade de So Luis,
municpio de Imaru, SC. Cresceu num
ambiente simples, belo e cristo de sua
famlia. Ajudava os pais nos trabalhos da roa
e em casa. Confessava-se com freqncia,
ia regularmente missa. Preparou-se com
muita dedicao para a 1 Comunho e
dizia que fora o dia mais belo de sua vida.
Falava muitas vezes da Eucaristia e sempre
comungava com fervor. No dia 14 de junho
de 1931, aos 12 anos de idade, foi atacada
por um empregado do sitio de seu pai.
Morreu mrtir ao lutar para preservar sua
pureza e virgindade, defendendo a dignidade
de mulher. Foi beaticada no dia 20 de
outubro de 2007, em Tubaro, SC. Albertina
Berkenbrock a primeira bem-aventurada
leiga, mulher e jovem genuinamente
brasileira. modelo para os jovens de que
no se pode ter medo de ser santo.
Adaptado de Zenit, 19/10/2007
SO PAULO CONTRA VARGAS
O que no lembrado deixa de existir. O
passado s vive se recuperado no presente,
atualizado pela nossa memria. Isso vale
para os indivduos e para os acontecimentos
histricos. Nove de Julho nome de rua em
todos os municpios do Estado de So Paulo
e feriado naquela unidade da Federao:
relembra a Revoluo Constitucionalista de
1932, quando grande parte da populao
paulista, dos grandes fazendeiros de caf ao
operariado das indstrias que se instalavam,
incluindo parte da juventude estudantil,
rebelou-se contra o governo central, exigindo
que o pas tivesse uma nova Constituio
e eleies. Getlio Vargas, o Presidente
provisrio, usou fora e habilidade poltica:
reprimiu os revoltosos, mas convocou uma
Assemblia Constituinte.
Chico Alencar(RJ), autor de BR-500, Um
Guia para a
Redescoberta do Brasil, VOZES
2050: PASES MAIS POPULOSOS
A populao total estimada para 2050
chegar a 9,15 bilhes de pessoas no mundo.
Segundo previso, os pases que tero o
maior crescimento populacional so:
1 - ndia: 1,6 bilho.
2 - China: 1,4 bilho.
3 - EUA: 404 milhes.
4- Paquisto: 335 milhes.
5 - Nigria: 289 milhes.
6 - Indonsia: 288 milhes.
7 - Bangladesh: 222 milhes.
8 - Brasil: 219 milhes.
9 - Etipia: 174 milhes.
10 - Rep. Dem. Do Congo: 148 milhes.
Outros pases: 4 bilhes.
Revista Veja, 16/09/2009 baseada na ONU
Os aniversarios de casamento
Populao do mundo veja
381
Pesquizas de historico das capelas 25/05/2011
Senhoras
Elaine Aparecida Sheski
Maria Ins Ferreira Mendes Meira
Vernica Maria Ferreira
Ailton Jose Ferreira
Aparecida J. Proena
1 Capela de poo grande em madeira
fundada por Joo olivrto de Campos e Dna Rozilma Jezus de Campos
em 1976
Vizita da santinha 7 dias em cada capla em poo grande de 28/02 a
6/03/1998 Tudo ca s a lembrana a saudade destas pessoas uma parte
no eziste mais
de 17 de outubro de 2.011 uma segunda feira O pedreiro compadre
Amarildo de Lara comessou a fazer a minha gaveta no cemiterio de
poo Grande ao lado do tumulo de minha espoza Dna Rozilma Jezus de
Campos e proximo a capelinha de meus pai franscisco Assis de Campos e
Graciolina Alves de Campos saudoza memria e no dia 21 de outubro
2.011 ele terminou assino Joo Olivrto de Campos R$ 600,00
382
UM TIRO PELA CULATRA
H exatos 50 anos a poltica brasileira viveu um
grande abalo. O presidente da Repblica at ento
eleito com o maior numero de votos, depois de
apenas nove meses de governo, renunciou s
suas funes. Jnio Quadros escolheu o dia,
seguinte ao do trgico suicdio de Vargas, em
1954, no mesmo ms de agosto, para marcar o
tom dramtico de seu gesto. Na verdade, pensava
em ver seu pedido de deixar o governo recusado
pelo Congresso Nacional, permanecendo assim
como presidente com maiores poderes, para ter
mais fora para enfrentar as foras terrveis que,
segundo sua carta de renncia, atrapalhavam sua
administrao. Mas o tiro saiu pela culatra, seu
pedido foi aceito e o vice, Joo Goulart, depois de
alguma resistncia das foras mais conservadoras,
assumiu como presidente da Repblica.
Chico Alencar(RJ), autor de BR-500,
Um guia para a Redescoberta do Brasil, VOZES.
em dia 4 de novembro de 2.011
sexsta feira esteve aqui em
nossa capla 1 primeira veis
o Dr Edisson Crema trazido
por o gerente do posto mdico
do pinho sio paulo prste
Atendeu 1 consulta pela
1 veis um medico em nossa
cumunidade poo grandence
em 1999 esteve dentista por 6
mezes uma veis por meis //
de fevereiro 2.004 ESTEVE O
Encino fundamental CEEBJA
ATE 24 de 12 de 2.004 no dia
de sbado Assino Joo oliverto
de Campos 5-11-2011
O QUE SERIA UMA BOA
MORTE?
Ningum de ns deseja morrer. No entanto,
mais cedo ou mais tarde na vida seremos
tocados pela morte. Ela faz parte da nossa
vida. Estudos demonstram que para nos
despedirmos da vida com elegncia e
dignidade precisamos cuidar: 1) Alvio
da dor e sintomas (sofrimento); 2) Evitar
o prolongamento do morrer; 3) Manter
um senso de controle (autonomia), em
contexto de crescente vulnerabilidade; 4)
No se sentir um peso fsico e emocional
para os outros entes queridos; 5)
Oportunidade de fortalecer e aprofundar
o afeto com os familiares e amigos; 6)
Necessidade de concluir coisas pendentes
e inacabadas; 7) Conana e condncia
nos cuidadores; 8) Comunicao honesta;
10) Cuidado com a espiitualidade.
Leo Pessini, Camiliano
pessini@saocamilo-sp.br
Deveres do cazal
DIREITOS E DEVERES...
...do matrimnio. Muita gente no sabe, mas depois
do casamento alguns direitos e deveres surgem
com a nova unio. No Direito Civil, o casal, aps o
casamento, deve ser el e habitar sob o mesmo teto,
ter respeito e considerao mtua. Deve ainda, se um
dos dois est sob diculdades nanceiras, ampar-
lo e sustent-lo at cessar a diculdade. Tem que
sustentar, guardar e educar os lhos resultantes da
unio entre os dois. Para ns catlicos, alm destes
deveres e direitos civis, o Direito Cannico reza que
o casal tem que estar a servio da vida procriar
e deve educar os lhos na f crist com nfase nas
virtudes teologais: f, amor e caridade. Ensinar os
lhos a rezarem, estarem a servio do prximo e ter
reverencia para com as Coisas do Senhor.
Ana Vitria Wernke
Advogada especialista em Direito Pblico
anavitoriawernke@hotmail.com
JOC
7 MODOS DE ENFRENTAR AS DIFICULDADES DA VIDA
1. Tenha a convico de que Deus est no controle de tudo.
2. No tenha medo de situaes novas.
3. Tire proveito das diculdades.
4. No escute palavras de desnimo e dvida.
5. Lembre-se de que voc prprio uma soluo.
6. Esteja se fortalecendo interiormente cada manh.
7. Agradea a Deus pela oportunidade de lutar e vencer. Seleo de Regina Maria Munch
Petrpolis/RJ
383
As coizas vo mudando em nosso lugar poo Grande no passado ERA bom
de viver agora j no mais // Hoje j esto asartando cazas robando
criao queimando cazas e da por diante A policia de pinho no liga
nessa parte pode robar que nada acontece Muntos moradores bons j esto
saindo vendendo suas propiedades indo para as cidades mais l ainda
pior neste m de ano 2.011 j foi robado em muntas cazas e nada foi feito
pelas autoridades // 25-12-2.011 Joo olivrto Campos
Dizem que o mundo mudou
at que pde o mundo mudar o planeta terra mais se mudou por cauza
da distruiao da natureza o prpio homem destruiu a natureza e poluiu
e a natureza cobra.
Isso ai
Na vida moderna juventude moderna sem religio alguma no mais
cream em Deus cream s na teblologia Aumana quando a pessoa sai
do sitio do mato vai pra cidade grande ou pequena j mudou a pessoa J
no conhece mais os conhecidos se alguma veis te vi no te conheo O pai
no bem vindo pelos lios os conhecidos munto pior ainda chamam de
grosso jacu mal trapilho no comem qualquer comida os aliados no do
lovado para os padrinhos como ra dantes eu tenho muntos aliados mais
alguns que me da louvado Aqui no mato mezmo j aconteceu o mezmo
os vizinhos no mais se vizitam como ra no passado o preconseito est em
todo o lugar at nais igrejas seja a igreja que for s o nome de religio voce
vale o que voc tem si tem munto vale munto si tem um pouco vale um
pouco si nada tem no vale nada a pessoa idoza no vale nada s e visto
quando eu percizo fora disso nada eu sou regeitado perante a sociedade
fazer o que um dia alguem vem nss julgar ponto nal.
11/2/2012 JOC
A CARTEIRA DE TRABALHO
Em maro de 1932, o novo governo do Brasil,
cheado por Getlio Vargas, criou um pequeno
documento que mudou a vida de muita gente das
cidades: a carteira de trabalho. At ento, em
um pas sado da escravido h menos de cinco
dcadas, a desconsiderao pelos operrios
era imensa, e pelos camponeses ainda maior.
A carteira de trabalho, a ser obrigatoriamente
assinada pelos patres, tornou-se um registro
importante para que a massa trabalhadora
urbana, to explorada, pudesse reivindicar seus
diretos. H 80 anos, portanto, depois de muita
luta, comeava no Brasil o lento reconhecimento
da dignidade de quem trabalha. Anal, so os
trabalhadores que verdadeiramente produzem
as riquezas, ainda to mal distribudas entre ns.
Chico Alencar, autor de BR-500 Um guia
para a redescoberta do Brasil, Ed. Vozes
PROGRAMA DE NDIO?
Voc sabia que no sculo XXI ainda so
faladas 188 lnguas de origem indgena? Isso
pode parecer muito, mas quando da conquista
portuguesa, no sculo XVI, elas eram mais
de mil. A populao dos povos nativos,
dizimada, expulsa de suas terras e agredida em
suas culturas, hoje voltou a crescer, embora
ainda haja muito preconceito. A expresso
programa de ndio, para designar algo
negativo, um exemplo. Mas a Constituio
Cidad de 1988 garante, em seu artigo 231,
o respeito terra e cultura dos indgenas.
preciso fazer esse principio descer do papel
para a vida, garantindo reas onde os ndios
possam se reproduzir no apenas sicamente,
mantendo suas tradies e sua identidade.
Chico Alencar, autor de BR-500 Um guia
para a redescoberta do Brasil, Ed. Vozes.
384
INDEPENDNCIA A
CONQUISTAR
H 190 anos o Brasil constituiu-se como
nao independente, livre de Portugal. O
Sete de Setembro o Dia da Ptria. Deve
ser tambm um momento de reexo sobre
a consolidao da nossa independncia
denitiva. Devemos nos indagar se todos
os brasileiros j tm oportunidades iguais
para uma vida cidad. Devemos perguntar
se o abismo entre os muito ricos e os mais
pobres diminuiu. Devemos questionar o
individualismo, que nos leva a desconhecer
os nossos patrcios. Devemos nos interrogar
sobre o porqu de algumas rdios e tevs
desvalorizarem nossa prpria criao
artstica. Devemos, por m, superar o que
o escritor Nelson Rodrigues chamava de
complexo de vira-latas, sem vergonha de
sermos brasileiros!
Chico Alencar, autor de BR-500 Um guia
para a redescoberta do Brasil, Ed. Vozes
PESSOAS DE IDADE...
...so as que se encontram no alto da
montanha da vida. Na vida s h duas
possibilidades: morrer cedo ou envelhecer.
Infelizmente para muitos s este verbo
j causa arrepios. Acontece que h outra
maneira de compreender o envelhecimento.
Este um processo que pode conduzir a uma
etapa privilegiada da vida. Quem chega l,
chega ao topo da montanha. E quem chega ao
topo porque soube caminhar. A recompensa
no se faz esperar: l do alto da montanha
da vida que se descortinam as mais belas
paisagens. Montanhas e vales, nascer e pr do
sol, nuvens escuras e cu estrelado, silncio
e os mais diferentes rudos noturnos vo se
alternando para comporem uma sinfonia de
beleza incomparvel. Basta manter os olhos
e ouvidos abertos.
Frei Antnio Moser, OFM
moser@vozes.com.br
A AUTONOMIA DOS
MUNICPIOS
O que uma Repblica Federativa?
a unio de pessoas jurdicas de Direito
Pblico em uma s, coletiva, mas cada um
dos associados conserva sua autonomia
quando os assuntos so de interesse local.
Foi esta a forma de associao eleita
quando passamos do Imprio Repblica.
Parabns Constituio de 1988 que
retirou do ensaio a autonomia municipal
e colocou os municpios na condio de
associado federado. O municpio no pode
e no deve manter-se no rano deixado pelo
poder imperial ou, na histria mais recente
como ocorreu no perodo militar, de plena
obedincia ao poder central e nico, valendo-
se apenas das leis federais e estaduais para
regularem assuntos que dizem respeito ao
seu domnio de interesse.
Ana Vitria Wernke, advogada
anavitoriawernke@hotmail.com
25/08: DIA DO SOLDADO
O soldado o cidado fardado precursos
na defesa da sua ptria e das instituies.
O Exrcito, a Marinha, a Aeronutica e a
Polcia Militar so foras devotadas defesa
da ptria, da ordem e das instituies. O Dia
do soldado foi institudo em homenagem
a Lus Alves de Lima e Silva, patrono do
exrcito brasileiro, nascido em 25 de agosto
de 1803 na cidade de Estrela, RJ. Com
pouco mais de 20 anos tornou-se capito
e, aos 40, marechal de campo. Entrou para
a histria como o pacicador por ter
sufocado muitas rebelies contra o Imprio.
Comandou as foras brasileiras na Guerra
do Paraguai em janeiro de 1869. Depois da
guerra, Lima e Silva foi elevado condio
de Duque de Caxias o mais alto ttulo de
nobreza concedido pelo imperador. Caxias
morreu em 1880.
Voce ve esses os quadrinhos de
folhinhas nsta genda aonde
estiver um quadrinho no de ler ali EST um HISTORIA eu gsto
munto de historia No ano de 1989 apedido do Senhor Antonio Correia da
Silva e sua espoza professora Dna Cirdinei levisk da Silva eu ESCrevi um
livro Histria do poo Grande pedi a eles que me RZgatace documentos
antigos o qual resgataram o que puderam e eu entrevistei muntas pessoas
385
antigas da poca que hoje no mais ezistem o qual z o Livro Histria
do poo Grande pinho pr. Me dise eles que tem copia em varias escolas
do municipio e na biblioteca municipal de pinho o rascunho original
est com elles Sio Antonio e Dna Cirdinei Temos que escrever o passado
para car no futuro Muntas pessoas de pouca curiozidade no gostam de
histria e muntos gostam // Joo Oliverto de Campos 6/05/2012
IMPEACHMENT
A palavra, difcil, entrou no nosso
vocabulrio comum h exatos 20 anos. Ela
signica impedimento, afastamento. Foi o
que aconteceu com o primeiro presidente
eleito pelo voto popular depois do perodo
militar iniciado em 1964. Fernando Collor,
acusado de corrupo, sofreu processo de
cassao do seu mandato pelo Congresso
Nacional, apoiado por forte mobilizao
da populao, em especial da juventude:
os chamados cara-pintadas. Poucos
acreditavam ser possvel destituir um
presidente da Repblica pelos meios
legais e democrticos, sem gerar aguda
crise. Mas aconteceu assim: Collor saiu
e seu vice, Itamar Franco, assumiu,
concluindo o mandato presidencial para o
qual tambm tinha sido eleito. O Brasil, de
fato, estava mudando.
Chico Alencar
www.chicoalencar.com.br
03/10: Bv. MRTIRES DE CUNHA
E URUAU
Em 16 de julho de 1645, o Padre Andr de
Soveral e outros 70 is foram cruelmente
mortos por mais de 200 soldados holandeses e
ndios potiguares quando participavam da missa
dominical na Capela de Nossa Senhora das
Candeias, no Engenho Cunha, municpio de
Canguaretama, Rio Grande do Norte. Pagaram
com a prpria vida o preo pela crena, por
causa da intolerncia calvinista dos invasores.
Trs meses depois aconteceu outro martrio: 80
pessoas foram mortas por holandeses, entre elas,
o campons Mateus Moreira, que teve o corao
arrancado pelas costas, enquanto repetia a frase
Louvado seja o Santssimo Sacramento. Este
massacre aconteceu na Comunidade Uruau,
em So Gonalo do Amarante, a 18km de
Natal, litoral do RN. Os Protomrtires foram
beativicados no dia 5 de maro de 2000.
Adaptado da Tribuna do Norte, RN, 01/10/2009
Veja cada quadrinho que voce ve aqui Leia uma historia que ele tem se
voce ler voce sabe o que ele dis
O Brazil e seus
Encantos No ano de 1647 foi encontrado na praia da Jurema os ndios da
poca encontraram a famza image do Senhor Bom Jezus que deram o
titulo Bom Jezus de iguape foi trazido pelas onda do mar voce sabe quem
feis essa image eu no sei ais igreja protestante dizem que um barco que
navegava e afundou que trazia a image e como la saiu do barco voce
viu porque eu no vi // No dia 7 de maio de 1717 os 3 pescadores que
pescavam no Rio paraba so paulo para recepecionar o conde de Assumar
diz a historia encontraram a image de Na Sa Aparecida lansando a rede
pescaram a image sem cabea pela 2 veis lansaram a rede pescaram a
cabea pela 3. lansaram a rede a psca foi formidavel felipe pedrozo e o
lio e o vizinho voce viu quem feis essa image por que eu no vi /// em
uma ocazio eu li um Mapa Militar da Norte America traduzido em
portugueis que conta que no ceano tem uma imagem de No Sr Jezus Cristo
no mar no seguro em nada e no afunda tem altura de um hmem
386
o mar crece e baixa a mare e ele esta no mezmo lugar mergulador no
viram pilar algum deram o ttulo Senhor do Ceano foi voce que feis essa
imagem por que eu no fui /// Sim ais igreja protestante que se dizem
igrejas evangelicas negam a virgem Maria negam a crus de Cristo /// Na
verdade o sbado e santicado em Genes
Deus criador criou o mundo feis tudo em 6 dias e no 7 descanou
contemplando ais maravilhas que feis /// Na verdade no antigo testamento
os homens faziam um boi de ouro e diziam esse o noso Deus faziam um
homem de ouro ou prata ou qualquer outro material e diziam esse o
nosso Deus deixavam de adorar o nosso Deus verdadeiro para adorar e
prestar culto e oferecer Holucausto a essa imagem o que aconteceu veio o
diluvio e tudo acabou s se salvou No com a familia por que temia a Deus
criador e por ordem de Deus construiu a arca salvou as especie por orde
de Deus Deus mandou seu lio nacido da virgem Maria mais os homem
no quizeram e mataram crucicado mais se enganaram por que no
3 dia ele ressucitou no primeiro dia de servio do pai foi dado o nome
domingo dia do Senhor o domingo e santo pela Ressureio de Cristo Jezus
Jezus Cristo no deu placa de igreja alguma ele dise para o apstolo pedro
sobre sta pedra eu edicarei a minha igreja as prtas do inferno no
prevalecero contra la todo o que ligar sobre a terra sera ligado tambem
no ceu todo o que dezligar sobre a terra sera dezligado tambem no ceu ///
ele no falou em igreja catolica ou evangelica alguma /// os homem que
deram o nome mais si eu perguntar para um pastor da Acembleia qual
a melho igreja ele dis a minha mais se eu perguntar para um pastor da
igreja Quadrogular qual a melhor ele dis a minha /// A eu pergunto
onde esta a melhor a esta a duvida dais igrejas protestante outro sim
a muntas igreja mentindo que sabem que dia o mundo vai acabar ///
se Cristo dice a pedro pergunto quando era a volta ele dice nem os anjos
do ceu no sabem So o pai sim ele deu a parabola da gueira sim esta
acontecendo Amigo Leia a Biblia e conra o que eu escrevi poo Grande
pinho pr 6 de novembro de 2.012
Joo Olivrto de Campos
Veja o passado
ESTADO NOVO, VELHO AUTORITARISMO
Na noite de 10 de novembro de 1937 h 75 anos, portanto foi instaurada no Brasil uma ditadura
constitucional: o Estado Novo. O Presidente Vargas cancelou as eleies previstas para o ano
seguinte. E chamou um jurista, Francisco Campos, para outorgar ao pas uma nova Constituio,
inspirada nas leis fascistas da Itlia, da Alemanha, de Portugal e da Polnia. Ela dava plenos
poderes ao Executivo, que controlou todos os estados, instituiu a pena de morte e a censura prvia,
a ser feita por um rgo especial, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). O Estado Novo
durou 8 anos. Mas o autoritarismo se enfraqueceu quando Hitler e Mussolini comearam a perder
a guerra. Novos ventos de liberdade sopravam no mundo.
Chico Alencar
www.chicoalencar.com.br
387
A vlice quantos anos passam em nssa vida quantos relembramos o passado
como eu ja com 86 anos viuvo a 8 anos vivendo szinho em meu ranxo mais
sozinho no estou ao meu lado est alguem junto de mim que s eu sei o S.
C. J. com sua Me Maria eu gsto munto fazer o bem o mal no para mim se
fxe ais prtas de eu fazer o mal e se abra ais prta de eu fazer o bem. Os
anos passam as pessoas se vo s resta a saudade de quem j foi para o alem
hoje tudo mudou EZISTE munto preconseito discriminao principalmente
entre a juventude e a velice Antigamente eu saia em fstas bailes aproveitei
meu tempo hoje no saio mais no poo montar a cavalo no poo andar de
bicicleta se eu tenho que sair tenho que fretar uma conduo moro sozinho
no tenho quem me acompanhe para ir no banco arreceber Minha familia
moram loge de mim tenho apenas 2 lias moram em Guarapuava eu moro
aqui Bom Retiro poo Grande pinho pr Tenho um casal de compadre que
moram com migo j 9 anos eu pago o salario pra eles fazerem alguma coiza
para mim Azar meu se no fosse eles ainda trabalho um pouco cuido dais
minhas criao morar sozinho ele no munto bom como alguns penam
no tem quem de um cpo de agua em srta ocazio peo a Deus que ao
nal da minha vida tenha alguem ao meu lado a familia sempre no gosta
de gente vlho so serve para icomodar // Mais mezmo eu gsto da minha
familia Grassas a Deus todos so bem de vida eu cono em Deus e no co
iludido eu estou ao lado dele e ele esta ao meu lado em todo os tempos Amem
poo Grande pinho paran 2 de dezembro de 2.012 Domingo do Advento
Joo olivrto de Campos
Deus criou cu e terra e tudo o que nele EZISTE
Como vemo em Gens captulo 26 vs 29 da Sagrada Ecritura Deus criou
o homem e mulher como todos nss sabemos mais hoge o homem qer
dominar a Deus j mais domina os homem previam o m do mundo no
ano 2.000 / Nada aconteceu / muntas igrejas evangelicas ou protestantes
diziam que no ano 2000 Jezus vinha buscar eles e o diabo via buscar os
catlicos // sendo que s Jezus Cristo pde julgar no julgueis para no
ser julgado // Lgico os monarcas os governantes e os juzes da terra eles
julgam e por o dinheiro eles condenam o inocente e abessrvem o bandido
/ Nem todos fazem isso mais munto fazem
A vem os cientistas referindo aos maias e nostradamos armando
pozitivamente que no dia 21 de dezembro de 2.012 acabaria o mundo
acabou por acauzo at mezmo muntas pessoas sabido que no leiam
A Biblia acreditavam / Sim verdade Jezus falou do m dos tempos a
parabola da folha da gueira que lemos na Biblia vrdade o que est
acontecendo no Brazil e no Mundo podera est prto o ponto nal mais
quando o Apstolo pedro perguntou para Jezus quando ra a vlta o que
ele disse a pedro nem os anjo do ceu no sabem s meu pai vigiai e orai por
que no sabeis o dia e nem A HRA.
388
Na verdade o que esta acontecendo calamidades nais cidades // Sdoma
E Gomorra atraram o fogo do cu nais cidades anda to saturado da
impureza que quazi um milagre escapar do envenenamento secustro
violencia drga morticinio latroucinho todos os dias // e outras coizas o
dizmatamentos no planeta mudou munto o clima do mundo // Vamos
Rezar por o joelho no cho fazer o Bem e no o Mal nossa Alma sera salva
Amem // 24 de janeiro 2.013 poo grande pinho Joo olivrto de Campos
21
Da fria, roxo, missa pr, Pf da Q (comemorao
facultativa de S. Pedro Damio, bispo e doutor
da Igreja, or pr), / Leituras: Lv 19,1-2.11-18;
Mt 25,31-46. / Santos: Pedro Damio, Srvulo,
Severina.
1431 Foi aberto, em Rouen, Frana, o
processo que condenou Santa Joana DArc
fogueira.
A Quaresma tempo de reencontro com o Pai.
tempo em que o lho prdigo volta de sua
louca caminhada pelas estradas da vida para o
Pai.
S podemos estar com os pobres se somos
contra a pobreza. P. Ricoeur
FEVEREIRO . SEGUNDA
1983
LUA CHEIA A 27
Sempre
bom voce ler estes quadrinhos tem munta coiza importante que voce ca
sabendo de muntas histrias do passado que cou em escrito para recordar
GRhande Catastro
Na noite do dia 26 para 27 de janeiro de 2.013 domingo no Rio Grande
do Sul em Santa Maria uma boate caza no turno boate Qiss aonde se
divertiam centenas de jvem de varios Estado do Brazil s estudantes de
varias faculdade do Brazil ali se divertiam algremente a um momento
de segundos a boate pegou fgo sem sada de emergencia o que dis os jornais
no momento morreu 234 pessoas jovem de todos os cantos do Brazil centenas
foram hospitalizadas em vario hospital do Brazil ate este momento algus se
recuperaram e centenas em estado grave motivo a fumaa toxicas que levou
AHBITO esta quantidade de pessoa Todas as igrejas de todas as religio
zeram orao hecumenica aos eis no imprta qual seja a religio de
cada um ou sem batizmo ou sem religio todos so criatura de Deus eles
j passaram para o pulgatrio Deus ve tudo Deus ama a todos Jezus salva
GANDHI EM NS
Ns, do Ocidente, costumamos car bem
distantes das culturas e da histria da
sia. Mas aquela parcela mais populosa
da humanidade tem muito a nos ensinar.
H 65 anos, em um j longnquo 30 de
janeiro de 1948, era assassinado o lder da
Independncia da ndia e defensor da no
violncia ativa, Mahatma Gandhi. Ele,
com sua luta poltica coletiva exemplar,
elaborou tambm uma atualssima
verso do que chamava de Sete
Pecados Sociais: riqueza sem trabalho,
conhecimento sem sabedoria, prazer sem
escrpulo, comrcio sem moral, cincia
sem humanismo, poltica sem idealismo
e religio sem austeridade e sacrifcio. Se
cada um de ns, em todos os momentos de
nossas vidas, combater essas distores, o
Brasil, sem dvida, vai melhorar.
Chico Alencar, autor de Cntico das
criaturas: ecologia e
juventude do mundo, Ed. Vozes
389
a todos centenas de pai me ermos derramando suas lagrimas no pra
menos o cauzo horivel no comesso de 2.013 A lei proibiu em todo o Brazil a
caza no turno que no estiver regularizado dentro da lei FEXADO.
Vamos rezar por eles e seus familhares e por noss todos
31/01/2.013 Joo olivrto de Campos.
Vou contar
Minha vida / Joo Olivrto de Campos /
Naci em Guarapuava pr 6 de Maio 1926 Meu pai francisco Assis de
Campos natural de Guarapuava origem paraguai Minha me Graciolina
Alves de Campos natural de Sta Catarina Joivile origem alemo vieram
para o pinho em 4 de maio de 1932 lios ra s eu lio nico eu estudei
em escla particular em 1939 e 1940 me cazei com 31 anos de idade
com Dna Rozilma Jezus de Morais da familia Brais ela nacida em 11-11-
1937 ela com 20 anos pai dela Domingo Ramos de Morais me francelina
Maria de Morais cazemos em 29 de junho de 1957 nossa atividade
pecuaria e lavoura Tivemos 2 lias Adelair e Abegacir uma VIUVA
Adelair Abegacir e cazada Adelair naceu em 10/08/1953 Abegacir naceu
em 8/06/1961 Grassas a Deus so todos bem de vida moram todos em
Guarapuava pr e eu retornei a estudar de novo no ano 2.000 a 2.005 s
a 8 crie vivemos cazado com Dna Rozilma que passou acinar Rozilma
Jezus de Campos vivemos 47 anos e 4 mezes Dna Rozilma faleceu em 28
de outubro de 2.004 eu quei viuvo com 78 anos de idade meu pai faleceu
em 25-12-1965 Minha me faleceu em 9-12-1988 Hoje estou com 86 anos
vivo szinho no meio dos estranhos s tenho um cazar de compadre que
mram com migo a 20 Mtros do meu rancho eu pago o salario para eles
para eu no car sozinho eu sou deciente de nacimento tenho o Labio
lepurino sofro munto preconseito mais no peo nada a ninguem sou
catlico fundei a capla de So Sebastio e Sto Antonio em poo Grande
Na minha propiedade em 1976 sou ministro estraordinario da Sagrada
Eucaristia no passado tinhamos 50 vizinhos a minha parentesca do lado
materno morava todo aqui o lado paterno um pouco moravam aqui em
poo Grande e outros em Guarapuava Hoje no eziste mais ninguem da
quele povo s a lembrana hoje eziste apenas 10 vizinhos ainda longe um
do outro ninguem se vizita mais s se reune na igreja para o culto nos
domingos eu vivo s
Ninguem me vizita eu no vou em caza de ninguem motivo ser longe
no tenho conduo por eu no saber dirigir vendi minha conduo aqui
tudo tem carros mais ninguem me oferce uma carona qando eu vou pro
pinho vou de onibos passa na frente da minha propiedade 3 VZ a semana
ais vezes eu frto algum carro quando da crto mais mezmo pagando
ainda dice hoje tudo mudou eu vivo semiabandonado Mais no estou
abandonado de Deus Amem.
Joo olivrto de Campos poo Grande pinho 17/03/2.013
390
A Thellogia mudou a vida da humanidade
Antigamente os jvem trabalhavam com os pai e me na rssa na
tropiada na agricultura na pecuaria mais hoje ja mudou os jovem
ais jovem tem que estudar munto fazer faculdade fazer varios estudo
e formao para poder achar um emprego para trabalhar para sobre
viver os jovens tenha que sair do interior para vir para a cidade e
os pai me e apozentam e vendem a chacra ou o sitio e vem para a
cidade eziste um dizer no venham para as periferias da cidade por
que pde ser pior para voceis O interior esta sem gente e ais cidades
crecendo horrvel mente cidades e roubo drgas assaltos homicidios
estupros secuestros vandalizmos e por a eu vejo na televizo estudo
no tenho mais acompanho todos os noticiarios do radio e da televizo
sempre estou por dentro dos assuntos que ocrre ao dia a dia no Brazil
e no mundo em que vivemos vi o pssado estou vendo o prezente s
no sei do futuro como vai ser s Deus sabe pouco ate o momento do
lado bom 50% ao lado ruim 70% mais o menos no sei estou com
86 anos lembro munto bem do passado 1940 1950 1960 1970 a j foi
mudando desculpe se eu ofendi
IV-IV-MMXIII Joo olivrto de Campos
21/04: DIA DE TIRADENTES
Joaquim Jos da Silva Xavier lutou pela Independncia do Brasil num perodo em que o pas sofria
o domnio e a explorao de Portugal. O Brasil no tinha uma Constituio, o direito de desenvolver
indstrias em seu territrio e o povo sofria com os altos impostos cobrados. O movimento da
Incondncia Mineira pretendia transformar o Brasil numa repblica livre de Portugal. Para
conquistar tal xito Tiradentes e vrios componentes da aristocracia mineira integraram-se a esta
mobilizao. Em 1789, o movimento foi denunciado e interrompido pelas tropas ociais. Os
incondentes foram julgados, e alguns lhos da aristocracia ganharam penas brandas, como o
aoite em praa pblica; outros, porm, a forca. Tiradentes foi condenado morte, mas o sonho que
o impulsionou a lutar fruticou e transformou o Brasil em uma nao independente.
Tudo tem um sentido Leia Tiradentes
Os Grandes Fenominos que
A histria conta a 1 Gurra Mundial de 1914 a 1917 O que dizem que o
autor foi Napolio Bonaparte 3 anos de Guerra // de 13 de maio 1917 a
17 de outubro 1917 Apareceu N
a
S
a
a 3 pastorinho na cva de iria em
portugal Lucia francisco e jacinta Nossa Senhora de fatima a erm
Lucia faleceu em 11 de fevereiro 2.005
Dizem que em 1918 a fbre espanhla matou centenas de gente no Brazil
contado pelos antigos // A 2 Gurra Mundial de 1939 a 1945. 6 anos de
Guerra O autor foi o ditador alemo Adolfo Histler / dis o Almanaco
pensamento 2.011 O HISTLER 3 Anticristo.
391
Outros Fenominos
Que eu vi na minha vida em fevereiro de 1941 a Grande Ratada que
asolou o paran em outubro de 1946 A maro e abril de 1947 A Grande
gafanhotada que asolou o paran foi imeno os prejuizos no mantimento
e no vegetal em outubro de 1947 A pESTE suina no deixou prcos nas
cumunidades maio de 1947 o ECLIPE Solar escureceu o Brazil 1948 a
Fbre AFEtoza atacou os rebnhos bovinos caprinos e ouvinos e alguns
poucos de suinos na quela pocas no avia vacina alguma era curado
as criao com Ruirolin ou Livrolina em 1954 Grande Tempestade em
13 de maio 1965 deu 3 tempestade dentro da noite 13 para 14 de maio
1965 tudo isto eu vi Joo olivrto de Campos estou com quazi 87 anos //
naci em 6/05/1926 // Hoje 24 abril 2.013 JOC
Continuo me alembrei em 1963 no choveu meis de abril maio junho
julho em agosto incendiou o paran ate setembro choveu em 27 de
setembro a choveu uma semana Grassas a Deus apagou as fogueiras em
abril de 1983 comessou a chover choveu maio junho julio comessou a
dezmoronar as serras no cou ponte nem pingula em agosto voltou o
bom tempo melhorou a situao consertado as estradas e ponte bueiros e
pinguelas e por enquanto cheguei ao m dais historias reais que vi
Minas-Gerais
- Brazil -
Assistido pela televizo escutado pelo radio uma Historia Real 4 de
maio de 2.013 sbado em minas Gerais foi Beaticado pela igreja catlica
o corpo de Nh (Chica) francisca de paula conhecida por Nh Chica
decendente de escravo morreu com 84 anos no cculo passado solteira
nunca cazouce analfabeta no sabia ler nem escrever ra Benzedeira
Curadeira tinha uma imagem Na Sa da Conceio que ra de sua me
mandou fazer uma capla ao lado da sua simple caza e ali que la
fazia suas curas quazi milagrza aonde ela estava sentia se um suave
perfume de rzas encontravam Nha Chica J sentia o suave perfumes
de rzas moos e rapais perguntavam a ela onde a senhora compra esse
perfume de rza Nha Chica la dizia eu nunca uzei perfume na vida
j chamavam de santa pelo bem que fazia a todos ela ra munto simples
e la pediu que quando la morrece sepultaram dentro da capelinha e
assim foi e continuou os milagres na vida s dava bom conselho a todos
e no dia 4 de maio de 2.013 foi ezumado e beaticado o corpo de Nha
Chica os cardeais e bispos e padres // e o povo 4000 mil pessoa assistiram
a Beaticao
392
03:02: SO BRS DE SEBASTE
Sobre So Brs existem vrios relatos, alguns
deles baseados em lendas, sem base histrica.
Segundo a tradio mais verossmel, Brs, antes
de ser bispo de Sebaste, na Armnia, era mdico
cristo. Preso durante a perseguio do imperador
Licnio, aps sofrer as torturas mais cruis, foi
decapitado, no ano de 316. Sua venerao iniciou-
se tardiamente no Ocidente, depois do sculo IX,
mas foi um dos santos mais populares na Idade
Mdia. Narra a tradio que, sendo levado para
o martrio, no caminho realizou um milagre,
curando um menino que havia se engasgado com
uma espinha de peixe. Por isso invocado como
o protetor dos males da garganta. No dia dedicado
a ele, 3 de fevereiro, em muitas igrejas se mantm
o costume de dar a bno da garganta.
Frei Sandro Roberto da Costa, OFM
Petrpolis/RJ
Neste dia 2 de fevereiro de 2.009
segunda feira dia de N S do
Belem apresentao do menino
Jezus no templo eu expulsei
em nome de nosso Senhor Jezus
Cristo (um demonio) que estava
no corpo de uma aliada minha
Joo Olivrto de Campos Ministro
Extraordnario da St eucaristia
2/02/2.009
ENVELHECIMENTO FELIZ
Est se sentido envelhecido? timo!
Agradea a Deus por esta ddiva. Nada
de preocupao, porque o envelhecimento
um processo biolgico considerado
natural, pois a cada minuto estamos mais
envelhecidos e com a chance de atingirmos
a maturidade. Muitos fatos importantes
para o destino da humanidade, seus
autores so pessoas maduras, pois estas
sacricaram suas horas de repouso, sua
sade, renunciando a si mesmas, somente
por amor humanidade. Neste processo de
envelhecer vericamos perdas e igualmente
ganhos: perde-se gradativamente no
aspecto fsico, porm se ganha no aspecto
psicossocial. Assim, o valor do que se ganha
supera em muito aquilo que perdido.
Luiz Jarbas Godoy.
Florianpolis/SC
FAAMOS A REVOLUO, antes
que o povo a faa!
H exatos 80 anos aconteceu a Revoluo de 30:
os grandes fazendeiros, donos de gado e gente,
que dominavam a Repblica Velha, comearam
a perder fora. Formava-se uma opinio pblica
a partir das cidades que no aceitavam aquela
Repblica do Caf com Leite, com seu voto
de cabresto e seus currais eleitorais. Artistas se
revelavam na Semana de Arte Moderna, tenentes
se rebelavam nos 18 do Forte e na Coluna Prestes,
e operrios faziam as primeiras greves. Parte das
prprias oligarquias aliou-se a setores urbanos
para remodelar o sistema poltico. Com Getlio
Vargas frente, abria-se o caminho para acelerar
a industrializao e fortalecer o Poder Pblico. O
presidente (governador) de Minas deu o alerta:
Faamos a revoluo, antes que o povo a faa!
Chico Alencar, autor de BR-500, Um guia
para a redescoberta do Brasil, VOZES
- Direitos autora is
- Patente do livro
- Registro em nome do autor.
DIGNIDADE HUMANA
O conceito da dignidade humana foi o centro inspirador da Declarao Universal dos Direitos
Humanos (ONU 1948). Foi tambm central na elaborao de muitas das Constituies Nacionais.
Continua inspirando leis e resolues em todo o mundo. A pessoa humana digna de respeito pelo
fato de ser pessoa e ponto nal! A dignidade, no um atributo externo, mas inerente a todo
ser humano: no depende de seu estado de desenvolvimento, de sua sade, de suas qualidades e
capacidades, nem sequer de seus comportamentos. Todo ser humano em qualquer estado e condio
uma unidade de corpo e esprito, aberto a um horizonte transcendente, capaz de interrogar-se
sobre o sentido ltimo de sua existncia, de ir para alm de si mesmo e de se abrir a Deus. A
dignidade da pessoa no se atribui, se reconhece; no se outorga, se respeita.
Leo Pessini, Camiliano, pessini@scamilo.edu.br
393
10/07/2.012 Tera feira
Paulo e Liliana Curitiba
R. (...), (...) ap. (...)
Bacacheri
Curitiba/PR 82510-180
(XX) XXXX-XXXX
RECEBE, SENHOR
Recebe, Senhor, os meus medos e
transforme-os em conana.
Recebe, Senhor, meus sofrimentos e
transforme-os em crescimento.
Recebe as minhas crises e transforme-as
em maturidade.
Recebe as minhas lgrimas e transforme-as
em intimidade.
Recebe a minha raiva e transforme em
orao
Recebe o meu desnimo e transforme-o
em f.
Recebe a minha solido e transforme-a em
contemplao.
Recebe minhas amarguras e transforme-as
em calma interior.
Recebe minhas esperas e transforme-as em
esperana.
Recebe minhas perdas e transforme-as em
Ressurreio.
Pastoral da Sade
MEDICINA E SABEDORIA
POPULAR
Remdio para Sinusite
Ingredientes: 100ml de gua ltrada e fervida,
1 colher de ch de sal marinho, 1 pitada de
bicarbonato.
Modo de fazer e usar: Misturar tudo. Colocar em
vidro de conta-gotas e colocar uma gota em cada
narina, 4 vezes ao dia.
(...)heiro
(...) a inamao das pontas dos dedos geralmente
formando pus.
Como tratar: - Mergulhe os dedos em 1 xcara de
gua fervente com 5 gotas de hipoclorito (...) duas
vezes ao dia, durante 7 dias.
(...)locar os dedos envolvidos numa espessa
(...)ada de barro (argila) e enrole. Remo-(...)
frequentemente o barro at conseguir (...) hora.
(...)cina de Ervas Medicinais do Colgio Santa
Catarina
Petrpolis/RJ Tel: (24)2243-1606
O cazal leia e refrita esta
OS DEZ MANDAMENTOS DO CASAL
Nunca irritar-se ao mesmo tempo.
Nunca gritar um com o outro.
Tomar as decises de comum acordo.
Se for inevitvel repreender, faz-lo com amor.
Nunca jogar no rosto do outro os erros do passado.
Evitar e displicncia e a indiferena com o
cnjuge.
Nunca ir dormir sem ter chegado, mediante o
dilogo e o perdo, a um acordo.
Pelo menos uma vez ao dia, dizer um ao outro
uma palavra carinhosa.
Cometendo um erro, saber admiti-lo e pedir
desculpas.
Viver a vida a dois como eternos namorados.
Revista O Mensageiro de Santo Antnio
Junho/2004
prce pela familia
PRECE PELA FAMLIA
Olha, Senhor, uma vez mais, sobre nossa
famlia. Tu conheces nossas alegrias e
esperanas, nossos temores e medos, nossos
dramas e inquietudes. Queremos viver
profundamente unidos, acolhendo cada um
com suas diferenas. Nossa casa precisa ser
espao de acolhida da tua vontade, lugar de
encontro de partilha, asilo para todos os
que sofrem e que precisam de conforto.
Prepara nossos coraes para viver o dom
e o amor, a solidariedade e a justia, para
acolher teus desgnios e apelos. Olha todas
as famlias da terra: as bem constitudas
e aquelas que vivem na instabilidade; as
famlias sem pai e sem me e aquelas que
vivem dramas e dores. Queremos ser o sal
da terra, a luz do mundo e o fermento da
massa. Que a famlia de Nazar nos inspire
e nos ajude. Amm.
Este artgrafo foi escrito por os jornalistas que
estiveram aqui me entrevistando e rmando
a minha jenda e o Livro de Joo Maria de
Jezus e prometeram fazer um livro dais
minhas historias a ser publicado com minha
autorizao para o m do ano 2013
Joo olivrto de Campos
394
LAMPIO, BANDOLEIRO OU
JUSTICEIRO?
28 de julho de 1938: na fazenda Angico, no
interior de Sergipe, termina, aos 40 anos a vida
de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como
Lampio. A Polcia Militar alagoana matou
Lampio e todo o grupo de dez cangaceiros
que estava com ele, inclusive sua companheira,
Maria Bonita. Decapitados, suas cabeas foram
levadas para Macei e Salvador, como prova de
sua eliminao, aps duas dcadas de confrontos
com o bando que chegou a reunir mais de
cem rebeldes. A epopia do cangao no serto
do Nordeste brasileiro at hoje gera polmicas.
Seria ele uma mera ao violenta e sanguinria
de quem buscava sobreviver sem lei nem rei
ou uma reao marginalizao e injustias que
o povo pobre sofria constantemente, numa regio
dominada pelo coronelismo?
Chico Alencar, Autor de BR-500 Um guia
para a redescoberta do Brasil, VOZES
SANTOS PADROEIROS
So Paulo nasceu em Tarso, na atual
Turquia. De famlia judaica, converteu-
se ao cristianismo e tornou-se um de seus
principais divulgadores. Sebastio, mito da
religiosidade popular e com histria cheia
de lendas, era um soldado romano que se
recusou a perseguir os cristos. Ambos
sofreram martrio, e, no sculo XVI, os dois
tornaram-se padroeiros de importantes vilas
coloniais do Brasil: So Paulo foi fundada
em 25 de janeiro de 1554, data da converso
do apstolo, e os portugueses do Rio de
Janeiro conseguem, em 20 de janeiro, dia da
morte de So Sebastio, grande vitria sobre
os franceses. So Paulo e So Sebastio
tinham compromisso com a justia e com
a paz: que as cidades que carregam seus
nomes tambm busquem esses caminhos.
Chico Alencar, Autor de BR-500 Um guia
para a redescoberta do Brasil, VOZES
2.009 / 800 anos
ORDEM FRANCISCANA, 800 ANOS
Neste ano de 2009 completam-se os 800 anos
da fundao da Ordem Franciscana. Em 1209,
Francisco de Assis vai a Roma, com nove
companheiros, pedir a aprovao da sua Forma
de Vida. Leva um manuscrito que so fragmentos
escolhidos do Evangelho, valores vindos da vida
e pregao de Jesus que determinam a iluminao
da vida e prtica de Francisco e seus primeiros
seguidores. recebido pelo Papa Inocncio III. O
que apresentado para o Papa no uma Regra
de Vida segundo os padres da normalidade
e da canonicidade, falta o dedo de um redator
qualicado. Mas est ali a essncia do Evangelho.
O Papa abenoa e permite que aquele Projeto de
Vida Evanglico tome seu caminho. A Bno
sua verdadeira aprovao.
Frei Vitrio Mazzuco, OFM
So Paulo/SP
Direitos Humanos
DIRETOS PARA TODOS
H 60 anos, em 10 de dezembro de
1948, a Organizao das Naes Unidas
proclamou a Declarao Universal dos
Direitos Humanos. Seus trinta artigos so
considerados um ideal a ser atingido por
todos os povos do planeta, e armam que
os seres humanos, sem exceo, tm direito
vida digna, moradia, alimentao, estudo,
oportunidades e respeito liberdade de
opinio poltica, usos e costumes. Nascida
nos escombros da Segunda Guerra
Mundial, com seus 50 milhes de mortos,
e como reao opresso, a Declarao
reitera que as pessoas nascem livres e
iguais em dignidade e direitos, e devem
agir sempre com espirito de fraternidade.
Conhecer a Declarao o primeiro passo
para sermos, em nossa vida cotidiana,
cidados ativos, conscientes dos nossos
direitos e deveres.
Chico Alencar, Autor de Educar na
esperana em tempos de desencanto,
VOZES
Leia
395
REFORMAS DE BASE
O incio dos anos 60 do sculo
passado no Brasil foi marcado pelas
chamadas reformas de base.
O curto governo Joo Goulart
(1961-1964) tentou realizar uma
reforma agrria, para distribuir
terras e acabar com o latifndio
improdutivo. Uma reforma
educacional, para aumentar as
vagas nas Universidades Pblicas
e lanar um grande movimento
de alfabetizao de adultos. Uma
reforma urbana, para garantir
o direito moradia para mais
gente. Uma reforma politica, para
assegurar voto aos analfabetos
e diminuir a inuncia do poder
econmico nos pleitos. Foi feita
uma lei para impedir remessa
de lucros para o exterior. Mas
houve forte reao de setores
contrariados, o presidente Jango
foi derrubado e muitas dessas
questes continuam atuais.
Chico Alencar, Autor
de BR-500 Um guia para a
redescoberta do Brasil, VOZES
EPITFIO
Devia ter amado mais, ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais e at errado mais
Ter feito o que eu queria fazer
Queria ter aceitado as pessoas como elas so
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no corao
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar distrado
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar
Devia ter complicado menos, trabalhado menos
Ter visto o sol se pr
Devia ter me importado menos com problemas pequenos
Ter morrido de amor
Queria ter aceitado a vida como ela
A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar distrado
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar
S existem dois dias no ano em que nada pode ser feito.
Um se chama ontem e o outro se chama amanh,
portanto, hoje o dia certo para amar, acreditar, fazer e
principalmente viver.
(Dalai Lama)
D
iz o mestre:
Viva todas as graas que Deus te
deu hoje. A graa no pode ser
economizada. No existe um banco onde
depositamos as graas recebidas, para utiliz-
las de acordo com nossa vontade. Se voc
no usufruir estas bnos, ir perd-las
irremediavelmente.
Deus sabe que somos artistas da vida. Um dia
nos d formas para esculturas, outro dia nos
d pincis e tela, ou uma pena para escrever.
Mas jamais conseguiremos usar frmas em
telas ou penas em esculturas. A cada dia o seu
milagre. Aceite as bnos, trabalhe, e crie
suas pequenas obras de arte hoje.
Amanh voc receber mais.
C
omo posso saber a melhor maneira de agir
na vida? perguntou o discpulo ao mestre.
O mestre pediu que construsse uma mesa.
Quando a mesa estava pronta bastando apenas
cravar os pregos na parte de cima , o mestre
aproximou-se. O discpulo cravava os pregos com
trs golpes precisos. Um prego, porm, estava mais
difcil e o discpulo precisou dar mais um golpe.
O quarto golpe enterrou o prego fundo demais, e a
madeira foi atingida. Sua mo estava acostumada
com trs marteladas disse o mestre. Quando
qualquer ao passa a ser governada pelo hbito,
perde o sentido; e pode terminar causando danos.
Cada ao uma ao, e s existe um segredo:
jamais deixe que o hbito comande seus
movimentos.
396
13/05: DIA DA ABOLIO DA
ESCRAVATURA
Depois de muitas lutas pela libertao dos
escravos dos negros no Brasil, a Lei urea
foi nalmente assinada pela Princesa Isabel
em 13 de maio de 1888. Mas a escravatura foi
abolida, de fato, muito antes da assinatura da
lei. Em 1810, Dom Joo VI promete Gr-
Bretanha acabar com o comrcio de escravos.
Em 1850, o trco negreiro foi extinto pela
Lei Eusbio de Queirs. Alguns anos depois
so promulgadas a Lei do Ventre Livre e a Lei
dos Sexagenrios. Entretanto, a abolio no
signicou grande mudana para os escravos.
Isso porque no foram criadas condies
para a integrao do negro sociedade aps
a assinatura da lei. A verdadeira conquista da
liberdade tem sido um processo lento e ainda
atual, pois os negros continuam excludos da
sociedade e de seus direitos.
ANTONIO CONSELHEIRO
Uma das experincias comunitrias mais
impressionantes de nossa Histria foi o
Arraial de Canudos. A cidade divina foi
erguida no serto da Bahia, no nal do
sculo XIX. Seu lder, o beato Antonio
Conselheiro, rejeitava a Repblica e
conquistava, com seu discurso apaixonado,
adeptos para aquela vida despojada e
igualitria, anunciando esperanas: o
serto vai virar mar e o mar vai virar
serto. Quem vivia no abandono ou na
opresso do latifndio cava fascinado.
O povoado produzia muitos dos seus
alimentos e tecidos. O governo republicano
no aceitou aquela rebeldia. Depois de
vrias tentativas, mobilizando muitas
tropas, o Arraial foi destrudo, em 5 de
outubro de 1897, quando a defend-lo s
restavam trs adultos e uma criana.
Chico Alencar, autor de BR-500, Um guia
para a redescoberta do Brasil, VOZES
A BELEZA DA VELHICE
Todo aquele que se rebela contra a velhice,
no conseguindo ver a beleza que os anos
trazem, no est em sintonia com o Criador.
Sendo seus lhos diletos, recebemos tudo
na mesma proporo por Ele decidido.
Se nos compenetrarmos desta verdade,
temos, na velhice, o momento de liberdade
e sabedoria que os anos trazem. Renegar
o tempo vivido no ter sido digno dele.
A cada marca deixada pelo tempo est o
sinal de vivncias s quais nos foi dada
a oportunidade de realizaes. Devemos
nos reverenciar diante desta bno que
nos colocou neste planeta com o objetivo
de servir ao nosso prximo, servindo,
portanto, ao nosso Criador. Fazer de nossa
velhice bela e feliz s ns o podemos fazer.
Maria Augusta Christo de Gouva
Ipatinga/MG
AS PLULAS DE FREI GRALVO
Frei Galvo, pelo seu belo testemunho de vida,
fazia tudo para ajudar o prximo. A devoo a
este santo brasileiro foi difundida e propagada
pelas Irms do Mosteiro da Luz, em So Paulo,
sobretudo pela distribuio e divulgao das
famosas plulas de Frei Galvo. Fervoroso
devoto da Me Imaculada e ao ser procurado
pelos doentes, Frei Galvo escrevia num papel
a frase: Virgem Maria, que aps o parto
permaneceste intacta, Me de Deus, intercede
por ns. Enrolava em forma de uma plula e
dava para o doente tomar e o milagre acontecia.
Importante saber: as plulas de Frei Galvo no
so remdio de farmcia! So devocionais. O
que a Me pede a Jesus, a graa alcanada.
Frei Paulo Back, OFM Caixa postal 50470
CEP 0329-970 So Paulo SP
397
21/04: DIA DE TIRADENTES
Joaquim Jos Da Silva Xavier nasceu em
1746, na fazenda Pombal perto de So Joo
Del Rei, MG, e iniciara-se na prosso
de dentista, em que chegara ser hbil, de
onde lhe vinha o apelido de Tiradentes. A
Incondncia, porm, no passou dos planos.
Mas s Tiradentes morreu enforcado por
ter chamado a si toda a responsabilidade
de Conjurao Mineira, e por ser um bode
expiatrio e, pobre, teve sua condenao
com requintes de crueldade, sendo
sacricado em praa pblica. E a 21 de abril
de 1792, Joaquim Jos da Silva Xavier subia
ao patbulo. Com o mesmo nimo varonil
com que recebera a sentena, vestiu a alva
dos condenados. E ainda teve um gesto de
humildade, beijando as mos do carrasco que
o mataria, o negro Capitania. Suas ultimas
palavras passaram histria: Morto pela
liberdade.
O Jornal de Pinhal, 20/04/2002
CELAM: A V Conferncia
Celebra-se, em Aparecida, SP, entre ns
de abril e incio de maio deste ano, a V
Conferncia Geral do CELAM (Conselho
Episcopal Latino-Americano). O tema do
encontro : Discpulos e missionrios de
Jesus Cristo, para que nele nossos povos
tenham vida. Assim como ocorreu nas
conferncias anteriores do CELAM: Rio
(1955), Medelln (1968), Puebla (1979) e
Santo Domingo (1992), esta assemblia
vai estudar os problemas que aigem
nossos povos violncia institucionalizada,
corrupo poltica, pobreza crescente, a
crise da famlia e buscar aplicar-lhes os
remdios do Evangelho. Cada discpulo(a) de
Cristo tem a misso de espalhar as sementes
do Evangelho para transformar as estruturas
de pecado e que todos tenham vida em Cristo,
vida em abundncia.
Ephraim F. Alves
Petrpolis/RJ
09/07: DIA DA REVOLUO
CONSTITUCIONALISTA
A Revoluo Constitucionalista estourou em
So Paulo no dia 9 de julho de 1932. Formou-
se um grande exrcito de voluntrios,
composto de pessoas da classe mdia e da
aristocracia, que contava com o apoio do povo
e dos empresrios. Os homens se alistaram
para lutar nos campos de batalha, as mulheres
costuravam o fardamento, cozinhavam e
se preparavam para atender os feriados.
At crianas participaram, arrecadando
dinheiro, alimentos e cobertores e entregando
correspondncias. A Estrada de Ferro
Sorocabana construiu um trem blindado e
a fbrica de ao da Fazenda Ipanema foi
reativada para a produo de munio. Durou
trs meses, terminando em outubro, com a
vitria do governo. No entanto, seu ideal
concretizou-se em 1934, com a eleio de uma
Assemblia Constituinte e a promulgao de
uma Constituio.
ESTADO NOVO, VELHO PODER
H exatos 70 anos o mundo assistia,
preocupado, a escalada do nazi-fascismo:
uma Segunda Grande Guerra j era previsvel.
Em nossa terra, os integralistas se animavam
e socialistas e comunistas eram perseguidos.
Getlio Vargas, que liderara a Revoluo
de 30, cancelou as eleies previstas para
1938, promulgou uma nova Constituio
apelidada de Polaca, por se inspirar na
Carta autoritria da Polnia e determinou
que ele mesmo continuaria na presidncia da
Repblica. O autodenominado Estado Novo
durou at 1945, e nesse perodo, ao lado de
medidas positivas como a Consolidao das
Leis do Trabalho, e a criao do SENAI e do
SENAC, Vargas controlou o pas com mo de
ferro, perseguindo opositores, censurando a
imprensa e cultivando a idia de que s com
um regime de fora o pas progrediria.
Chico Alencar
Rio de Janeiro/RJ
eu Joo oliverto de Campos toda vida fui f do prezidente Getulio Coronelis
Vargas a quem eu dei meu 1 voto 1947 estou com 81 anos de idade e
votando s desistirei quando morrer fui prezidente de Mezas eleitoral
trabalhei entudo o que a meza receptora de votos por 30 anos
398
O Senhor Juvenal de assis Machado (Machadinho)
foi morador de poo Grande Era propietario era criador e
agricultor foi o homem que trouce a 1 escola no poo Grande em
1939 e 1940 era pago pelos pai cinco mil reis por criana os lios
dele comessaram a estudar Valdomiro Abegacir Alair Evanir
/ sua espoza Dna Balbina Mendes Machado Machadinho era
comprador de prcos gados cavalos mulas e outros se mudou para
o pinho vila nova na epoca e se mudou para Guarapuava /
foi tenente do Ezecito e revolucionario em 1930 e em 1950 foi
prefeito de Guarapuava Mais tarde mudouce para Curitiba com
sua famlia l faleceu Dna Balbina sua espoza e as lias dis
que so advogadas e o Valdomiro e fazendeiro em Mato Grosso
e Rondonia e a eu sube Machadinho faleceu 25 de janeiro de
1995 calcula se 95 anos de idade faleceu em Curitiba a caza
grande que quimaram em um poo Grande era delle.
Fotos Morro da Cruz
399
Fotos da propriedade de Joo Oliverto de Campos
Este livro foi composto em fontes ITC Ofcina
Sans e ttulos em ITC Ofcina Serif, textos 9 a
22 e impresso para o ITCG-PR em 2013.
Fotos, cartas, documentos, memria local e objetos antigos revelaram
a contribuio de comunidades quilombolas e posseiros na formao do
estado do Paran. Contamos algumas novas e muitas velhas histrias a
partir do olhar daqueles que delas fizeram parte. "Memrias dos Povos do
Campo no Paran Centro-Sul" faz o relato desses grupos sociais e das
suas organizaes na luta pela terra.
A partir da pluralidade de organizaes sociais do campo, estudos
antropolgicos, histricos e sociolgicos foram realizados para analisar o
processo de ocupao territorial e conhecer a realidade social e cultural
dos moradores do interior paranaense.
Durante as pesquisas tambm foi imprescindvel a busca por solues
permanentes de problemas de comunidades tradicionais, em especial
quando se referem aos direitos de uso de terra, sendo a regularizao
fundiria de territrios uma via indispensvel de acesso ao
desenvolvimento para essas famlias.
Este livro resultado de muito trabalho e dedicao do Instituto de
Terras, Cartografia e Geocincias atravs de parceria com o Ministrio da
Cultura Minc e a participao de pesquisadores de diversas
universidades e instituies pblicas.
Agradecemos a todos os moradores que nos receberam muito bem e nos
auxiliaram neste trabalho. Podemos, por meio desta publicao, conhecer
e preservar o patrimnio cultural imaterial no Estado do Paran.
Amilcar Cavalcante Cabral
Diretor-Presidente do Instituto de Terras, Cartografia e Geocincias
Ministrio da
Cultura
9 7 8 8 5 6 4 1 7 6 0 4 1
ISBN: 978-85-641-760-41
Você também pode gostar
- Construindo o Estado Do Brasil (Fichamento) - História Do BrasilDocumento5 páginasConstruindo o Estado Do Brasil (Fichamento) - História Do BrasilKaio CavalcanteAinda não há avaliações
- Sesmarias PDFDocumento5 páginasSesmarias PDFSheyla FariasAinda não há avaliações
- D1 O Império Português, o Poder Absoluto, A Sociedade de Ordens e A Arte No Século XVIIIDocumento5 páginasD1 O Império Português, o Poder Absoluto, A Sociedade de Ordens e A Arte No Século XVIIIAndreia Teixeira67% (3)
- E Sônia Maria Dos Santos MarquesDocumento404 páginasE Sônia Maria Dos Santos MarquesAirsonAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento20 páginas1 PBFranklandia SousaAinda não há avaliações
- Evolução e Histórico Do Direito AgrárioDocumento18 páginasEvolução e Histórico Do Direito AgrárioSara Hellen100% (2)
- Sesmarias e Apossamento de Terras No Brasil ColôniaDocumento3 páginasSesmarias e Apossamento de Terras No Brasil ColôniaKAROLAYNE CRISTINA GOMES DA FONSECAAinda não há avaliações
- História Do Direito - 7 - Instituições Jurídicas No Brasil-Colônia - Nota de AulaDocumento6 páginasHistória Do Direito - 7 - Instituições Jurídicas No Brasil-Colônia - Nota de AulaMariana PinheiroAinda não há avaliações
- Política e Sociedade No Brasil ColonialDocumento22 páginasPolítica e Sociedade No Brasil ColonialDenis Carlos FreitasAinda não há avaliações
- Organização Do Estado BrasileiroDocumento10 páginasOrganização Do Estado Brasileiroandreilson.oliveiraAinda não há avaliações
- Legislação E Política Fundiária No Estado Do Paraná: Angelo PrioriDocumento16 páginasLegislação E Política Fundiária No Estado Do Paraná: Angelo PrioriRubens Gomes CorreaAinda não há avaliações
- Aula CRF - AULA 03Documento75 páginasAula CRF - AULA 03xicu bentuAinda não há avaliações
- 8º Congresso de Pós-Graduação Sistema Sesmarial No Brasil: Autor (Es)Documento4 páginas8º Congresso de Pós-Graduação Sistema Sesmarial No Brasil: Autor (Es)ANA BEATRIZ AMARAL DE SOUSAAinda não há avaliações
- A Apropriação Das Terras Brasileiras Anotações Preliminares - José Luís Marasco C. LeiteDocumento16 páginasA Apropriação Das Terras Brasileiras Anotações Preliminares - José Luís Marasco C. LeiteMorane De Oliveira TávoraAinda não há avaliações
- Trabalho Completo Mayara Ferreira e Louyse Silva - S02Documento14 páginasTrabalho Completo Mayara Ferreira e Louyse Silva - S02Tahuantinsuyu UnBAinda não há avaliações
- Aula 17 - 7º HIS - Capitanias - OKDocumento18 páginasAula 17 - 7º HIS - Capitanias - OKIvone Coelho100% (2)
- A Revolta Dos Posseiros No Sudoeste No Paraná em 1957Documento17 páginasA Revolta Dos Posseiros No Sudoeste No Paraná em 1957allan_andreassa100% (1)
- ProvedoriaDocumento18 páginasProvedoriaBruno Sousa Silva GodinhoAinda não há avaliações
- Colonização Portuguesa - Organização PolíticaDocumento4 páginasColonização Portuguesa - Organização PolíticaGabriel MoraesAinda não há avaliações
- Sobre As SesmariasDocumento21 páginasSobre As SesmariasAndressa Villar StuchiAinda não há avaliações
- Sesmarias PDFDocumento5 páginasSesmarias PDFCarlos NeryAinda não há avaliações
- Artigo 04 - Volume 09Documento29 páginasArtigo 04 - Volume 09Francisco CarvalhoAinda não há avaliações
- 19 Lucila Reis Brioschi-LidoDocumento26 páginas19 Lucila Reis Brioschi-Lidojose brigatoAinda não há avaliações
- 8914 34101 1 PBDocumento9 páginas8914 34101 1 PBGabriela MaiumyAinda não há avaliações
- Revolta Do Posseios - Angelo PrioriDocumento17 páginasRevolta Do Posseios - Angelo PrioriBrunaAinda não há avaliações
- Artigo Legitimacao de Posse-LibreDocumento33 páginasArtigo Legitimacao de Posse-LibreritasednemAinda não há avaliações
- Osório, Apropriação Da Terra Na Fronteira MeridionalDocumento25 páginasOsório, Apropriação Da Terra Na Fronteira MeridionalLuiz Paulo Nogueról100% (1)
- O Cacique Condá e A Política Indigenista Imperial Nos Campos de Palmas e GuarapuavaDocumento13 páginasO Cacique Condá e A Política Indigenista Imperial Nos Campos de Palmas e GuarapuavaRafael BenassiAinda não há avaliações
- História Do Uso Da Terra No BrasilDocumento6 páginasHistória Do Uso Da Terra No Brasilpaulo gutemberg vasconcellosAinda não há avaliações
- Curso Direito Agrario - UCG - Milton Inacio HeinenDocumento72 páginasCurso Direito Agrario - UCG - Milton Inacio HeinenHanna CeciliaAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Jorge CaldeiraDocumento12 páginasResenha Crítica Jorge CaldeiraMaria DinizAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre Alguns Aspectos Históricos Da Construção Da Capela Nossa Senhora Aparecida em IvinhemaDocumento9 páginasEnsaio Sobre Alguns Aspectos Históricos Da Construção Da Capela Nossa Senhora Aparecida em IvinhemaFernando LorenzAinda não há avaliações
- Resumo - Brasil ColoniaDocumento6 páginasResumo - Brasil ColoniaLARISSA LIMA SILVAAinda não há avaliações
- 16 11 2016 Regularização de Imóveis Públicos Porto Velho Ro 1Documento176 páginas16 11 2016 Regularização de Imóveis Públicos Porto Velho Ro 1Layane RodriguesAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa. DOUTORADO. UFBA, 2018Documento20 páginasProjeto de Pesquisa. DOUTORADO. UFBA, 2018Anna KellyAinda não há avaliações
- Artigo Sobre AgriculturaDocumento23 páginasArtigo Sobre AgriculturagabiAinda não há avaliações
- Resenha Brasil VDocumento3 páginasResenha Brasil VKaren Kristina VasconcelosAinda não há avaliações
- Aula 01 Agrário PDFDocumento11 páginasAula 01 Agrário PDFjanetepirigueteAinda não há avaliações
- 05 GeografiaDocumento106 páginas05 GeografiaGenivaldo Alexandre SantosAinda não há avaliações
- Da Diáspora Negra ao Território de Terra e Águas: Ancestralidade e Protagonismo de Mulheres na Comunidade Pesqueira e Quilombola Conceição de Salinas-BANo EverandDa Diáspora Negra ao Território de Terra e Águas: Ancestralidade e Protagonismo de Mulheres na Comunidade Pesqueira e Quilombola Conceição de Salinas-BAAinda não há avaliações
- Aula 3 - História Do Período ColonialDocumento13 páginasAula 3 - História Do Período ColonialEloah BernardoAinda não há avaliações
- Por trás dos senhorios: Senhores e camponeses em disputa por terras, corpos e almas na América portuguesa (1500-1759)No EverandPor trás dos senhorios: Senhores e camponeses em disputa por terras, corpos e almas na América portuguesa (1500-1759)Ainda não há avaliações
- Desigualdade de Gênero e Trabalho Na Agricultura Familiar Entraves e PossibilidadesDocumento17 páginasDesigualdade de Gênero e Trabalho Na Agricultura Familiar Entraves e Possibilidadesvvictor.hugo.gynAinda não há avaliações
- Portal NetEscolaDocumento1 páginaPortal NetEscolaceciliaavitoria170210Ainda não há avaliações
- ENTRE O PATRIMONIALISMO CIVILISTA E A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA (Sem Autoria)Documento17 páginasENTRE O PATRIMONIALISMO CIVILISTA E A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA (Sem Autoria)vvictor.hugo.gynAinda não há avaliações
- Renilda Vicenzi Texto PDFDocumento19 páginasRenilda Vicenzi Texto PDFortopediahbdfAinda não há avaliações
- Capitanias HereditáriasDocumento2 páginasCapitanias HereditáriasDoris BrezolinAinda não há avaliações
- Apostila Direito AgrarioDocumento53 páginasApostila Direito AgrarioSuelicherie83% (6)
- A Expansão Das Fronteiras Da América PortuguesaDocumento2 páginasA Expansão Das Fronteiras Da América PortuguesaRamsés Eduardo Pinheiro100% (1)
- Zenha CorrigidaDocumento6 páginasZenha CorrigidasordadinAinda não há avaliações
- Direito Agrário - Aula 1Documento50 páginasDireito Agrário - Aula 1Jéssica PaulinoAinda não há avaliações
- Texto Do Livro Do Engels-HistoriaDocumento8 páginasTexto Do Livro Do Engels-HistoriaLaura Teixeira BorgesAinda não há avaliações
- Capitanias HereditáriasDocumento3 páginasCapitanias Hereditáriaslarissa arianeAinda não há avaliações
- Ud Ii - Colonização A Partilha Das AméricasDocumento8 páginasUd Ii - Colonização A Partilha Das AméricascarlosgfmAinda não há avaliações
- Processo de Conformação Das Fronteiras Da Capitania de Minas GeraisDocumento20 páginasProcesso de Conformação Das Fronteiras Da Capitania de Minas GeraisViniciusAinda não há avaliações
- 04 HistoriaDocumento101 páginas04 HistoriaCris GonzagaAinda não há avaliações
- Administração Portuguesa - Capitanias Hereditárias - Governo Geral - Linhas Gerais Do Sistema ColonialDocumento9 páginasAdministração Portuguesa - Capitanias Hereditárias - Governo Geral - Linhas Gerais Do Sistema ColonialRogênio CordeiroAinda não há avaliações
- Território, poder e litígio: conflitos territoriais entre Parambu (CE) e Pimenteiras (PI)No EverandTerritório, poder e litígio: conflitos territoriais entre Parambu (CE) e Pimenteiras (PI)Ainda não há avaliações
- Autoridades coloniais e o controle dos escravos: Capitania do Espírito Santo, 1781-1821No EverandAutoridades coloniais e o controle dos escravos: Capitania do Espírito Santo, 1781-1821Ainda não há avaliações
- Covest 2009Documento18 páginasCovest 2009Aguinaldo JuniorAinda não há avaliações
- O Ensino de Ofícios Manufatureiros em Arsenais, Asilos e Liceus PDFDocumento45 páginasO Ensino de Ofícios Manufatureiros em Arsenais, Asilos e Liceus PDFOrgoneSkiesAinda não há avaliações
- A Escola Portuguesa o Ensino Da Historia No Estado Novo PDFDocumento23 páginasA Escola Portuguesa o Ensino Da Historia No Estado Novo PDFTojo SerraAinda não há avaliações
- RIBEIRO Vilas Do Planalto Paulista PDFDocumento351 páginasRIBEIRO Vilas Do Planalto Paulista PDFCarlos Eduardo Valencia VillaAinda não há avaliações
- Tese A Província Do Paraná (1853-1889)Documento505 páginasTese A Província Do Paraná (1853-1889)Miriam SilvaAinda não há avaliações
- Mobiliário Na América:Imperio e ShakerDocumento10 páginasMobiliário Na América:Imperio e ShakerSonia SiqueiraAinda não há avaliações
- Analfabetismo No Brasil PDFDocumento22 páginasAnalfabetismo No Brasil PDFJonas VargasAinda não há avaliações
- Minas GeraisDocumento47 páginasMinas GeraisdanielAinda não há avaliações
- Desmilitarização Da Polícia: Um Debate Inadiável Sobre Segurança PúblicaDocumento45 páginasDesmilitarização Da Polícia: Um Debate Inadiável Sobre Segurança PúblicaWENDEL BATOCHI REINATTOAinda não há avaliações
- Educação No BrasilDocumento14 páginasEducação No BrasilMaria EduardaAinda não há avaliações
- Enem140808 Vestibular PDFDocumento802 páginasEnem140808 Vestibular PDFLais Ferreira DuarteAinda não há avaliações
- Coelho - A Reforma Monetária Portuguesa de 1688 Seu Impacto No Brasil e As Ideias MercantilistasDocumento17 páginasCoelho - A Reforma Monetária Portuguesa de 1688 Seu Impacto No Brasil e As Ideias MercantilistasDécio GuzmánAinda não há avaliações
- Curso Noções Básicas Do Direito PDFDocumento97 páginasCurso Noções Básicas Do Direito PDFSergio MirandaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - História Do DireitoDocumento8 páginasPlano de Ensino - História Do DireitoJúlia Monteiro PereiraAinda não há avaliações
- ListaExercicios UFU2019 IVDocumento13 páginasListaExercicios UFU2019 IVwolf felipeAinda não há avaliações
- Vquem Foi Joaquim Teotônio SeguradoDocumento9 páginasVquem Foi Joaquim Teotônio SeguradoKátia Maia Flores100% (1)
- O Império e As Primeiras Tentativas de Organização Da Educação NacionalDocumento2 páginasO Império e As Primeiras Tentativas de Organização Da Educação NacionalMário De Almeida PyanellyAinda não há avaliações
- A Questão PiraraDocumento696 páginasA Questão PiraraGuilherme de PaulaAinda não há avaliações
- João Rafael Chio Serra CarvalhoDocumento7 páginasJoão Rafael Chio Serra CarvalhoTiago XiwãripoAinda não há avaliações
- Programa Do Curso - Brasil MonárquicoDocumento9 páginasPrograma Do Curso - Brasil MonárquicoCristiane MariaAinda não há avaliações
- Ceja - Historia - Unidade - 4 - O Brasil Império o Surgimento de Uma NaçãoDocumento40 páginasCeja - Historia - Unidade - 4 - O Brasil Império o Surgimento de Uma NaçãoWilliams Andrade De SouzaAinda não há avaliações
- Seduc Prova Historia PDFDocumento12 páginasSeduc Prova Historia PDFdanielphb_historiaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Escravidão em Vassouras No Século XIX Com Foco Na Fazenda Do SecretárioDocumento25 páginasArtigo Sobre Escravidão em Vassouras No Século XIX Com Foco Na Fazenda Do SecretárioDine EstelaAinda não há avaliações
- TCC-Improbidade FinalDocumento54 páginasTCC-Improbidade FinalSWATDANTASAinda não há avaliações
- Segundo ReinadoDocumento24 páginasSegundo ReinadoLuis SilvaAinda não há avaliações
- Cidadania Tipos e Percursos Jose MuriloDocumento24 páginasCidadania Tipos e Percursos Jose MuriloandressaframomAinda não há avaliações
- Liceu Nilo Peçanha Prova de História Do 4o BimestreDocumento4 páginasLiceu Nilo Peçanha Prova de História Do 4o BimestreSavio ferreiraAinda não há avaliações
- Vou Passar Na Esa - Simulado 30 - História Do BrasilDocumento2 páginasVou Passar Na Esa - Simulado 30 - História Do BrasilRyan SousaAinda não há avaliações
- 16 SNHCT - Caderno de Resumos PDFDocumento284 páginas16 SNHCT - Caderno de Resumos PDFAnderson AntunesAinda não há avaliações