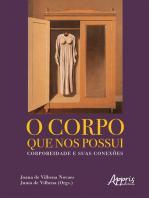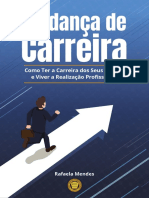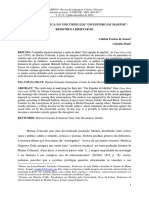Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corpos de Passagem - Resenha PDF
Corpos de Passagem - Resenha PDF
Enviado por
Gustavo Marchetti0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações3 páginasTítulo original
corpos de passagem_resenha.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações3 páginasCorpos de Passagem - Resenha PDF
Corpos de Passagem - Resenha PDF
Enviado por
Gustavo MarchettiDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
Resenhas
Corpo: objeto de estudo
Corpos de passagem: ensaios
sobre a subjetividade
contempornea.
SANTANNA, Denise Bernuzzi de.
So Paulo: Estao Liberdade, 2001.
127 p.
Na dcada de 1990, Denise B. de SantAnna
publicou dois livros problematizando o corpo,
alm de diversos artigos. A obra Corpos de
passagem, ainda um desdobramento dessa
reflexo, rene dez ensaios que foram escritos
na mesma dcada e publicados ou
apresentados, integralmente ou parcialmente,
em diferentes meios (jornal, revista, mesa-redonda
e, certamente, rascunhos do debate
acadmico). Historiadora da PUC-SP, doutorada
pela Universidade de Paris VII, Denise B. de
SantAnna vem ampliar os questionamentos que
a sociedade e, em especial, a academia tm
feito sobre o corpo, que passa a ser objeto de
estudo a partir da dcada de 1970.
A explorao comercial do corpo, questo
levantada por Denise SantAnna, trouxe,
paradoxalmente, a desertificao da vida.
Quanto mais se explora o corpo, mais ele se torna
infinito, rompem-se as fronteiras territorias. O corpo
no mais uma unidade, mas um elo entre os
corpos. As pesquisas genticas esto criando
transgnicos e seres ps-gnero, no entanto as
desigualdades sociais permanecem. Essas so
discusses especialmente presentes no stimo e
no oitavo ensaio.
O corpo como equivalente de riqueza e
explorado pelo mercado a tnica das reflexes
da autora. A esttica aerodinmica suavizando
as linhas, a tecnologia virtualizando a pessoa viva,
cria um abismo entre os nossos, diz ela. O
deslocamento valorizado: viagens de frias,
spas ou resorts, esportes radicais... Prometeu
reaparece como aquele que vence suas prprias
limitaes ou conquista seu prprio
empreendimento. Ou seja, o indivduo domina a
si mesmo ou os espaos, transformando a
natureza, recriando cidades onde passeia sem
medo a indstria da alegria , temas tratados
no terceiro e no quarto ensaio.
A velocidade tambm passa a ser condio
de sucesso, poder e riqueza, mostra a autora no
primeiro ensaio. Aquele que se quer desvencilhar
do peso de tudo teme carregar muito corpo,
muita memria, muita identidade. E se v
ameaado constantemente pela vertigem da
compulso e pela depresso aniquiladora
(p.25), conclui Denise. E faz pensar que os apelos
do mercado colocam a vida na moda. Ento,
envelhecer ou morrer tambm se comercializa,
pois a imortalidade aqui, nesta vida.
Enquanto a exposio do corpo ganha
publicidade, o interior do corpo provoca nuseas.
At bem pouco tempo, doentes eram tratados
em casa, bem como galinhas e porcos que alm
de serem tratados eram mortos em casa. Os
penicos ficavam em baixo da cama. A
menstruao passava pelas mos que lavavam
as toalhinhas. Sangue, fezes e urina faziam parte
da rotina. Na medida em que o corpo ganha
direito de exposio, ele conquista o dever de
ser civilizado e fotognico (p. 69), coloca a
autora, no quinto ensaio. No segundo, mostra
como o hospital deixa o corpo paciente aos
cuidados e especialidades de estranhos. Estar
doente no mais natural. A dor, que no sculo
XIX era sinnimo de coragem e persistncia, deve
ser banida. A vida do doente como se no fosse
vida, passa a ser um momento intervalar.
O nono ensaio polemiza a idia que deu
origem ao ttulo do livro: o corpo-passagem. A
idia de possesso como um lugar de passagem.
Aquela mxima feminista, da dcada de 1960,
nosso corpo nos pertence,1 que pretendia ser
um contraponto da dominao do homem sobre
a mulher, no s se esvazia como nos remete a
pensarmos que nossos corpos no pertencem a
ningum, nem a ns mesmos. Na metfora
utilizada pela prpria autora, o corpo parodoxal
ESTUDOS FEMINISTAS
509
2/2002
medida que no algo pronto mas tambm
no um rascunho. Somos e temos um corpo
sempre de passagem. No no sentido cristo de
passagem para o cu, embora para alguns
tambm possa ser, mas no sentido de que um
mesmo corpo possa assumir formas (plasticidades
e comportamentos) em diferentes momentos ou
em um mesmo momento. O corpo pode estar em
um determinado local e em outro ao mesmo
tempo, pode estar parado e em movimento... As
polaridades j foram superadas pelas reflexes
contemporneas da subjetividade. E Denise
SantAnna coloca essas questes nesse livro,
embora avise dos riscos de cair na areia
movedia da valorizao do corpo que carrega
a universalidade do indivduo, onde habita sua
ptria, seus sucessos e fracassos. Os conceitos
universais de Deus, Nao podem, e tm sido
transferidos para a noo de indivduo. O
mercado e a publicidade mostram que a
felicidade pode ser comprada, que as coisas e
os bichos podem ser humanizados (nos falam, nos
incitam, os animais conversam, fazem
companhia...). Valores como liberdade,
democracia e cidadania so definidos como
conseqncias do consumo. As sutilezas
provocam outras palavras, histrias, personagens
e corpos, conclui a autora.
Denise no quer ser definida como uma
historiadora do corpo, embora os corpos e suas
relaes tenham historicidade. Ela no se
preocupou com as relaes de gnero, talvez
porque no quisesse problematizar a
sexualidade, que vem sendo objeto de amplos
debates acadmicos e, seguramente, j
extrapolam as questes do sexo. Afinal, se a
sexualidade passou a ser objeto de estudo
porque a sociedade contempornea est
preocupada com as relaes de gnero e est
desconstruindo os conceitos universais de ser
homem e de ser mulher. Ento, podemos ler nas
entrelinhas a questo do gnero que est
diretamente relacionada ao corpo.
Corpos de passagem, um conjunto de
ensaios, no tem um carter propriamente
acadmico. Os textos que compem a obra no
aprofundam as discusses tericas das categorias
envolvidas: corpo, subjetividade, indivduo, por
exemplo. Muitas reas do conhecimento foram
exploradas, e o elenco de autores/as franceses
apresentados significativo se comparado a
poucos autores/as americanos (James Clifford,
citado pelo seu trabalho etnogrfico sobre
comunidades sedentrias, e Donna Haraway,
ANO 10
510
2 SEMESTRE 2002
citada na sua abordagem sobre tecnocincia e
seres ps-gnero) e outros poucos/as
pesquisadores/as brasileiros/as, como Heloisa de
Farias Cruz, que aparece quando o assunto a
convivncia entre pessoas e animais nas cidades
(mostrando a utilizao dos animais de carga na
So Paulo das primeiras dcadas do sculo
passado); Beatriz Sarlo, quando se fala do modo
de vida zapping dos dias atuais; e Celia M. T.
Serrano e Heloisa T. Bruhns quando o assunto
turismo, cultura e ambiente. Entre os/as autores/
as em lgua francesa, aparecem: Monique Sicard,
sendo referenciada quando o assunto imagens;
Peter Handke, Alain Ehrenberg e Jean-Luis Chrtier,
na discusso sobre o charme da lentido quando
a contrapartida a fatiga; Henri Braud e Claude
Fiscler, inspirando as fala sobre obesidade;
Vladimir Janklevitch, Jean-Pierre Peter, MarieChristine Pouchelle e Timothy Lenoir discutindo
sobre morte, dor, hospitais e cirurgias; Bernand
Edelman, sobre a publicidade da privacidade;
Marc Guillaume e Pascal Bruckner, com seus
respectivos trabalhos sobre a fbrica do riso e a
euforia da felicidade; Dora Valayer, com o tema
turismo; Michel Serres, com a idia de pantopia;
Andre Pichot e Vandana Shiva, quando a
discusso gira em torno de cincia, gentica e
tica; Claude Olievenstein, que aborda o
envelhecimento; e Francis Ponge, que apia a
autora quando trata da viso do homem no
animal.
No campo da Histria, o tema do corpo,
envolto pela subjetividade, preocupao
recente. As evidncias com o corpo, bem como
a sexualidade, tornaram-se debate freqente na
sociedade e fizeram emergir as problemticas
sobre o mesmo. Os historiadores esto se
perguntando sobre o corpo porque a sociedade
est colocando esse tema em evidncia. No se
tm muitas respostas, ou talvez no tenhamos que
t-las. Todavia, a contribuio de Denise
SantAnna, especialmente no campo da Histria,
muito importante. At mesmo para
percebermos o quanto os historiadores precisam
discutir tanto com a Antropologia, a Psicologia e
a Filosofia quanto com a Medicina, o Direito e
outras reas que cientificizaram o corpo e as
relaes humanas. Nesse momento, o trabalho
de arquelogo sugerido por Foucault 2
pertinente, no para trazer os monumentos
mudos, mas transform-los em documentos
tomados de sentidos pelo historiador.
O corpo foi dado a ler naturalizado nas
manifestaes sobre doena, morte e velhice no
sculo XIX e incio do sculo passado, ou na
busca de sade e prazer infinitos
contemporneos. Esses contrapontos da
natureza dos corpos, como mostra a autora, so
historicizados, mesmo que as temporalidades
sejam efmeras por no ter uma datao precisa
ou presa no calendrio de determinada cultura.
Desconstruir as formas discursivas, como faz
Denise SantAnna, evitar o perigo de transformar
o corpo em lugar dos universais.
autonomia das mulheres, associada a uma concepao
de conhecimento e reapropriao do prprio corpo.
SCAVONE, Lucila. Anticonceptin, aborto y tecnologas
conceptivas: entre la salud, la tica y los derechos. In:
SCAVONE, Lucila (Org.). Gnero y salud reproductiva en
Amrica Larina. Cartago: Libro Universitario Regional,
1999. p. 25-31.
2
FOUCAULT, Michel. A arquelogia do saber. 3. ed. Rio de
Janeiro: Forense-Universitria, 1987.
Lucila Scavone traz essa discusso do primeiro
momento do movimento feminista, baseado na noo
de diferena e criando uma idia de liberdade e
ANA MARIA MARQUES
Universidade do Vale do Itaja
A construo da natureza feminina no
discurso mdico
Uma cincia da diferena: sexo
e gnero na medicina da
mulher.
ROHDEN, Fabola.
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2001,
223 p.
Produto de uma tese de doutorado em
Antropologia Social, o livro de Fabola Rohden
analisa a temtica da diferena sexual nos
escritos mdicos do sculo XIX e incio do sculo
XX, a partir das representaes, das imagens que
esto na base da criao da medicina da
mulher. Inicialmente, diz a autora, a investigao
visava a produzir uma histria sobre a sexualidade
e a reproduo. O exame da documentao,
entretanto, revelou que, em boa parte do sculo
XIX especialmente, a medicina da sexualidade
e reproduo era a medicina sobre a mulher,
expressa sobretudo na criao de uma
especialidade, a ginecologia, que se definia
como a cincia da mulher (p.31).
Rohden persegue os caminhos tortuosos da
construo de uma determinada concepo de
diferena sexual entre homens e mulheres,
demonstrando o empenho de mdicos e
cientistas europeus da poca em estabelecer
claras diferenas de carter biolgico e
predeterminado entre os sexos. Essas diferenas
no seriam apenas fsicas, mas eram tambm
psicolgicas e morais. No discurso mdico do
sculo XIX, o sexo era entendido como um
elemento natural e biolgico, responsvel pelo
destino social de homens como provedores e
de mulheres como esposas e mes. Apesar dessa
crena de que o sexo determinaria o destino,
Rodhen chama a ateno para o que entende
ser um paradoxo presente nos textos mdicos: a
diferena sexual era vista como natural e, ao
mesmo tempo, como sendo instvel e perigosa.
Conseqentemente, seria necessrio monitorar o
processo de diferenciao sexual de homens e
mulheres, em particular no incio da puberdade,
fase na qual as influncias do meio poderiam
prejudicar ou impedir que se chegasse ao
resultado esperado, de amadurecimento sexual
e reprodutivo de homens e mulheres (p. 204).
Valendo-se da bibliografia existente sobre
o assunto, transita por vrias problematizaes
sobre a questo da diferena biolgica e
discusses tericas elaboradas por autores/as
como Thomas Laqueur, Londa Schiebinger, Michel
Foucault, Ornella Moscucci, Cynthia E. Russet, Jill
L. Matus, entre outros. No dilogo estabelecido
com Laqueur, recupera a discusso sobre os dois
modelos de interpretao do corpo feminino em
relao ao masculino. O primeiro, herdado dos
gregos, que admitia apenas uma estrutura bsica
do corpo humano, a do macho, teria prevalecido
ESTUDOS FEMINISTAS
511
2/2002
Você também pode gostar
- Homens de Verdade - Richard Phillips PDFDocumento181 páginasHomens de Verdade - Richard Phillips PDFgabriel pereira88% (48)
- Que corpo é este que anda sempre comigo? corpo, imagem e sofrimento psíquicoNo EverandQue corpo é este que anda sempre comigo? corpo, imagem e sofrimento psíquicoNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- A espécie que sabe: Do Homo Sapiens à crise da razãoNo EverandA espécie que sabe: Do Homo Sapiens à crise da razãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Alfredo Bosi - Narrativa e Resistencia in Literatura e Resistencia Aulo CIA Das Letras 20a02 Pp. 118-135Documento18 páginasAlfredo Bosi - Narrativa e Resistencia in Literatura e Resistencia Aulo CIA Das Letras 20a02 Pp. 118-135Anonymous u80JzlozSDAinda não há avaliações
- Antropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de AlmeidaDocumento21 páginasAntropologia-E-Sexualidade Miguel Vale de Almeidatorugobarreto5794Ainda não há avaliações
- O Corpo que nos Possui: Corporeidade e Suas ConexõesNo EverandO Corpo que nos Possui: Corporeidade e Suas ConexõesAinda não há avaliações
- Uma Análize Usos e CostumesDocumento50 páginasUma Análize Usos e CostumesRomildo Alves Dos SantosAinda não há avaliações
- Lilia Momplé - Literatura Moçambicana - Os Olhos Da Cobra Verde PDFDocumento5 páginasLilia Momplé - Literatura Moçambicana - Os Olhos Da Cobra Verde PDFhokaloskouros9198100% (1)
- Ebook Mudança de CarreiraDocumento69 páginasEbook Mudança de CarreiraRafaelAinda não há avaliações
- Aula FichamentoDocumento30 páginasAula FichamentoGenivaldo Santos0% (1)
- Perspectivismo Literário e Neotenia: Axolotl e Outras ZoobiografiasDocumento221 páginasPerspectivismo Literário e Neotenia: Axolotl e Outras ZoobiografiasAna Carolina CernicchiaroAinda não há avaliações
- Fichas de Coesão e CoerênciaDocumento8 páginasFichas de Coesão e CoerênciaSérgio AlvesAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - ARTE GREGADocumento2 páginasLista de Exercícios - ARTE GREGAMarianna Alice88% (17)
- Guacira Genero e Sexualidade PDFDocumento8 páginasGuacira Genero e Sexualidade PDFPatrícia GrilloAinda não há avaliações
- Fichamento Antropologia Estrutural - Levi StraussDocumento3 páginasFichamento Antropologia Estrutural - Levi StraussLucas Rodrigues SouzaAinda não há avaliações
- Andressa de Freitas RibeiroDocumento24 páginasAndressa de Freitas RibeiroJander NogueiraAinda não há avaliações
- Avaliação Final de ARTESDocumento3 páginasAvaliação Final de ARTESLilianne FonteneleAinda não há avaliações
- Mulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNo EverandMulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Leituras Do Prazer Literatura Pornográfica NDocumento13 páginasLeituras Do Prazer Literatura Pornográfica NJ. FerreiraAinda não há avaliações
- O Que É Magia DivinaDocumento2 páginasO Que É Magia DivinaCristina TanakaAinda não há avaliações
- Resenha - A Cidade Na História - Cap 1Documento3 páginasResenha - A Cidade Na História - Cap 1franksheik100% (3)
- Geertz - Transição para A Humanidade PDFDocumento6 páginasGeertz - Transição para A Humanidade PDFThaysi de PaulaAinda não há avaliações
- Seis Propostas para Os Corpos Deste Milênio - Danilo PatzdorfDocumento19 páginasSeis Propostas para Os Corpos Deste Milênio - Danilo PatzdorfDanilo PatzdorfAinda não há avaliações
- Seis Ensaios Da Quarentena SiteDocumento177 páginasSeis Ensaios Da Quarentena SiteRejane NogueiraAinda não há avaliações
- Descobrindo Historicamente Gênero - Revista PaguDocumento6 páginasDescobrindo Historicamente Gênero - Revista PaguDirce SokenAinda não há avaliações
- As Infinitas Descobertas Do CorpoDocumento15 páginasAs Infinitas Descobertas Do CorpoannamarzocchiAinda não há avaliações
- Caminhos para A Diversidade - A AntropologiaDocumento35 páginasCaminhos para A Diversidade - A AntropologiaMarcia Vanessa SouzaAinda não há avaliações
- A Tessitura Do Fio Da Vida - Reflexões Sobre Mulheres ContemporâneasDocumento4 páginasA Tessitura Do Fio Da Vida - Reflexões Sobre Mulheres ContemporâneasLídia SilvaAinda não há avaliações
- A Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeDocumento13 páginasA Imagem Simbólica Do Unicórnio em Um Espinho de Marfim - Resistir e Libertar-SeRafael DiasAinda não há avaliações
- A Questão Da Alteridade No Encontro Do Europeu Com o Novo MundoDocumento20 páginasA Questão Da Alteridade No Encontro Do Europeu Com o Novo MundoLara FeriottoAinda não há avaliações
- Traduzindo o Debate - o Uso Da Categoria Gênero Na Pesquisa HistóricaDocumento22 páginasTraduzindo o Debate - o Uso Da Categoria Gênero Na Pesquisa HistóricaJurema AraujoAinda não há avaliações
- Fichamento - o Espetaculo Das RaçasDocumento5 páginasFichamento - o Espetaculo Das RaçasDiego TavaresAinda não há avaliações
- Alteridade e História (Cicero Vital)Documento10 páginasAlteridade e História (Cicero Vital)Marcus William SuzanoAinda não há avaliações
- O Que É Etnocentrismo?Documento3 páginasO Que É Etnocentrismo?Viviane ViAinda não há avaliações
- Trabalho IgorDocumento11 páginasTrabalho Igorneli freireAinda não há avaliações
- Formas de Existir e Sentido de Vida PDFDocumento6 páginasFormas de Existir e Sentido de Vida PDFMarcelo Vial RoeheAinda não há avaliações
- Resenha AntropologiaDocumento5 páginasResenha AntropologiaGlaiscy FelixAinda não há avaliações
- Conceitos Basilares Das Ciencias Sociais Unidade IIIDocumento30 páginasConceitos Basilares Das Ciencias Sociais Unidade IIIEmanuel santosAinda não há avaliações
- Epistemologias Do Sul - EBP - Escola Brasileira de PsicanáliseDocumento7 páginasEpistemologias Do Sul - EBP - Escola Brasileira de PsicanáliseIvana Carvalho MarinsAinda não há avaliações
- As Artes Do Corpo PDFDocumento20 páginasAs Artes Do Corpo PDFGuilherme ZufelatoAinda não há avaliações
- O Homem É Um Animal RacionalDocumento30 páginasO Homem É Um Animal Racionalfrancielle maniniAinda não há avaliações
- Mireya Suárez - Enfoques Feministas e Antropologia PDFDocumento12 páginasMireya Suárez - Enfoques Feministas e Antropologia PDFCaetano SordiAinda não há avaliações
- O corpo gordo e o grotesco: gênero, política e transgressão na arte contemporâneaNo EverandO corpo gordo e o grotesco: gênero, política e transgressão na arte contemporâneaAinda não há avaliações
- A Transição Paraa Humanidade Geertz PDFDocumento6 páginasA Transição Paraa Humanidade Geertz PDFpougyAinda não há avaliações
- PALMEIRA, Francineide Santos. Escritoras Negras e Representações de Insurgência. (2010) PDFDocumento13 páginasPALMEIRA, Francineide Santos. Escritoras Negras e Representações de Insurgência. (2010) PDFluaneAinda não há avaliações
- Homo Modernus para Uma Ideia Global de Raa 1nbsped 9786556910048 9786556910031 CompressDocumento606 páginasHomo Modernus para Uma Ideia Global de Raa 1nbsped 9786556910048 9786556910031 CompressIsabel AmoraAinda não há avaliações
- Fichamento Caminhos para A Diversidadade: Antropologia - Roberto Donato Da Silva JR - FichamentoDocumento15 páginasFichamento Caminhos para A Diversidadade: Antropologia - Roberto Donato Da Silva JR - FichamentoMirian RotherAinda não há avaliações
- Anotações Sobre o Universal e A Diversidade - Renato OrtizDocumento12 páginasAnotações Sobre o Universal e A Diversidade - Renato OrtizzedmetalAinda não há avaliações
- Livro UA1Documento13 páginasLivro UA1Marcelo FelipeAinda não há avaliações
- Interpretação de CorbinDocumento14 páginasInterpretação de CorbinMoacyAinda não há avaliações
- O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente MedievalDocumento5 páginasO Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente Medieval O Corpo No Ocidente MedievalEmerson MacêdoAinda não há avaliações
- A Filosofia Da ExistênciaDocumento7 páginasA Filosofia Da Existênciapereirafabiany165Ainda não há avaliações
- Resenha - O Que É Etnocentrismo. Levi RamosDocumento3 páginasResenha - O Que É Etnocentrismo. Levi RamosLevi Ramos100% (1)
- A Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesNo EverandA Natureza Sociológica da Diferença: Meta-Alteridade, Medo e Preconceito nas cidadesAinda não há avaliações
- Volume 02 Apostila Filosofia e Sociologia Educando para SempreDocumento68 páginasVolume 02 Apostila Filosofia e Sociologia Educando para SempreDeva MaharaAinda não há avaliações
- A Constituição e o Ser Da AntropologiaDocumento28 páginasA Constituição e o Ser Da AntropologiaDani WolfAinda não há avaliações
- Seeger - Matta - Castro - 1979 - A Construção Da Pessoa Nas Sociedades Indígenas Brasileiras PDFDocumento18 páginasSeeger - Matta - Castro - 1979 - A Construção Da Pessoa Nas Sociedades Indígenas Brasileiras PDFHeather WoodAinda não há avaliações
- A Compreensao Do OutroDocumento15 páginasA Compreensao Do OutroSamuel FerreiraAinda não há avaliações
- Teoria Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, MestizasDocumento5 páginasTeoria Queer. Políticas Bolleras, Maricas, Trans, MestizasDani KellerAinda não há avaliações
- O ExistencialismoDocumento21 páginasO ExistencialismogustavoparreiraaAinda não há avaliações
- Antropologia Da SexualidadeDocumento17 páginasAntropologia Da Sexualidadejaircrispim879Ainda não há avaliações
- 03.-Juno-NedelDocumento26 páginas03.-Juno-NedelM. MendesAinda não há avaliações
- Interseccionalidade e AutorepresentaçãoDocumento20 páginasInterseccionalidade e AutorepresentaçãoNatashaKareninaAinda não há avaliações
- Resenha Vidas e Grafias PDFDocumento8 páginasResenha Vidas e Grafias PDFaxiomatizadorrAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento8 páginas1 PB PDFaxiomatizadorrAinda não há avaliações
- Psi Cult Gen CliDocumento12 páginasPsi Cult Gen CliJefersonAinda não há avaliações
- Sônia Maluf - Corpo e Corporalidade Nas Culturas ContempDocumento15 páginasSônia Maluf - Corpo e Corporalidade Nas Culturas ContempIana Lopes AlvarezAinda não há avaliações
- SZANIECKI, Barbara - Outros Monstros Possíveis PDFDocumento9 páginasSZANIECKI, Barbara - Outros Monstros Possíveis PDFDouglas EvangelistaAinda não há avaliações
- Biopolíticas Espaciais Gentrificadoras e As Resistências Estéticas Biopotentes - Natacha Rena e Paula Berquó e Fernanda ChagasDocumento18 páginasBiopolíticas Espaciais Gentrificadoras e As Resistências Estéticas Biopotentes - Natacha Rena e Paula Berquó e Fernanda ChagasDouglas EvangelistaAinda não há avaliações
- Kasper Christian PierreDocumento226 páginasKasper Christian PierreDouglas EvangelistaAinda não há avaliações
- Cenas Da Vida Pó-Moderna - Beatriz SarloDocumento78 páginasCenas Da Vida Pó-Moderna - Beatriz SarloLuísa Chacon50% (2)
- PDF Edmund Leach Sistemas Politicos Da Alta Birmania Introducao 3 6 7 9 CoDocumento98 páginasPDF Edmund Leach Sistemas Politicos Da Alta Birmania Introducao 3 6 7 9 CoDani WolfAinda não há avaliações
- CíceroDocumento11 páginasCícerosimao finoAinda não há avaliações
- Gadotti, 2017Documento18 páginasGadotti, 2017Rhuann TaquesAinda não há avaliações
- 1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720Documento14 páginas1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720Luciano SerafimAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e CidadaniaDocumento10 páginasDireitos Humanos e CidadaniaAndré Luiz Schurkim DiasAinda não há avaliações
- Missao CumpridaDocumento29 páginasMissao CumpridaCristian BampiAinda não há avaliações
- Faq - ProacadDocumento6 páginasFaq - ProacadWesleton FreitasAinda não há avaliações
- Pequeno Dicionário de Escritores ParaibanosDocumento146 páginasPequeno Dicionário de Escritores ParaibanosJon SousaAinda não há avaliações
- A História Das Políticas Públicas No BrasilDocumento16 páginasA História Das Políticas Públicas No Brasildaraujo_15Ainda não há avaliações
- CV PortDocumento2 páginasCV PortEd Echigardo BandetiniAinda não há avaliações
- Projeto de PesquisaDocumento15 páginasProjeto de PesquisaGabi SantosAinda não há avaliações
- Indústria Cultural e SociedadeDocumento10 páginasIndústria Cultural e Sociedadebrunno duarteAinda não há avaliações
- Filosofia A Crise Da Razão (2º Bimestre)Documento3 páginasFilosofia A Crise Da Razão (2º Bimestre)HelenadelMastroAinda não há avaliações
- Critérios para Avaliar em ArteDocumento3 páginasCritérios para Avaliar em ArteThiago Rodrigues NascimentoAinda não há avaliações
- A Obsessão Pela CulturaDocumento17 páginasA Obsessão Pela CulturaBernardo MarquesAinda não há avaliações
- Bíblia - Traduções 2. Bíblia. N. T. - EvangelhosDocumento4 páginasBíblia - Traduções 2. Bíblia. N. T. - EvangelhoshélioAinda não há avaliações
- Estácio de Sá Simulado Didática Avaliando o Aprendizado Avaliaçao Parcial 3Documento5 páginasEstácio de Sá Simulado Didática Avaliando o Aprendizado Avaliaçao Parcial 3André Luís Ferreira0% (1)
- Claudia DiasDocumento119 páginasClaudia DiasJoão LimaAinda não há avaliações
- Resenha - Razoes Práticas - Sobre A Teoria Da Ação - Cap II o Novo CapitalDocumento3 páginasResenha - Razoes Práticas - Sobre A Teoria Da Ação - Cap II o Novo CapitalRoddox100% (4)