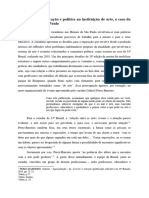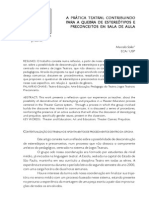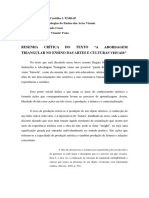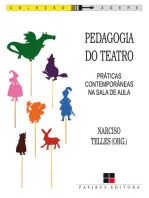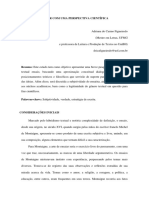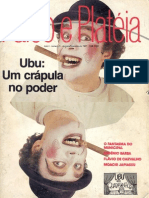Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Espaã o Da Pedagogia Na Investigaã Ã o Da Recepã Ã o Do Espetã¡culo PDF
O Espaã o Da Pedagogia Na Investigaã Ã o Da Recepã Ã o Do Espetã¡culo PDF
Enviado por
Maria GabiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Espaã o Da Pedagogia Na Investigaã Ã o Da Recepã Ã o Do Espetã¡culo PDF
O Espaã o Da Pedagogia Na Investigaã Ã o Da Recepã Ã o Do Espetã¡culo PDF
Enviado por
Maria GabiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O
espao da pedagogia
n a i n v e s t i g a o d a rree c e p o d o e s p e t c u l o
B iange
Diversidade e pluralidade
complexidade da recepo teatral reside na
polaridade entre sua dimenso coletiva
(um grupo de pessoas assistindo a um espetculo) e a singularidade das percepes
individuais, uma vez que aqui se inter-relacionam distintas reas do conhecimento: tica, psicologia, sociologia, filosofia (as mais comuns a qualquer processo/produto artstico).
A dificuldade da interao entre produo e recepo reside tanto em receber a crtica quanto em realiz-la. O aspecto sensvel que
envolve a relao entre o artista e a avaliao
de seu trabalho no se restringe ao teatro profissional est presente na sala de aula, quer
em disciplinas prticas ou tericas. Existe uma
similaridade entre as questes postas formao do espectador e avaliao do desempenho
do aluno.
A questo o que o aluno aprendeu e
no se ele aprendeu o que o professor ensinou.
Seguindo o mesmo princpio, no caso da for-
Cabral
mao do espectador, a pergunta seria o que ele
percebeu ou como ele leu a cena, e no se ele
captou a inteno do autor1.
A aproximao das funes do professor
e do diretor, na contemporaneidade, refora a
oportunidade de investigar a recepo. Se no
campo do ensino do teatro crescente a nfase
na necessidade do professor assumir a funo de
diretor, no campo do teatro profissional aumenta a demanda por uma contrapartida aos apoios
financeiros recebidos pelos grupos profissionais,
em termos de oferecimento de oficinas e cursos
para a comunidade. Professor e diretor so ambos mediadores, entre a produo e a recepo
do espetculo. Mas, para que haja mediao
necessrio explicitar a concepo de ensino do
trabalho a ser desenvolvido em parceria, o que
implica considerar a dimenso esttica e poltica do processo ou produto em foco.
esta concepo do espetculo ou da investigao cnica que pode ficar explcita atravs de um questionrio, e permitir que sejam
identificadas formas distintas de percepo dos
Biange Cabral professora do Centro de Artes e do Programa de Ps-Graduao em Teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, e da UFSC.
1
Uma investigao da recepo de processos de ensino, no contexto da sala de aula, revelou uma maioria
silenciosa que no explicita sua opinio em pblico, a no ser quando questionada. Nestes casos, contemporiza ou modifica sua opinio, para se adequar aos parmetros do grupo.
41
R1-A5-BiangeCabral.PMD
41
15/04/2009, 08:24
s ala p reta
mesmos. O ator e o espectador, ao respond-lo,
estaro visualizando o cruzamento dos objetivos estticos e artsticos do trabalho. Em processos de criao de mdio ou longo prazo, o
dilogo entre encenador e atores (e outros parceiros) acontece no decorrer da montagem.
Em trabalhos em um contexto curricular fragmentado, ou em oficinas de curta durao com
expectativas de apresentao dos resultados, esta
concepo dificilmente percebida.
Hoje possvel observar um crescente interesse pela recepo, como parte da tendncia
das cincias humanas de privilegiar a auto-reflexo e reconhecer a relevncia do contexto.
Em termos pedaggicos isto representa uma
maneira segura para focalizar as repostas individuais em trabalhos de grupo: a percepo individualizada do aluno; a proteo que o foco
na leitura oferece ao envolvimento emocional
com a ao dramtica; o espao do contexto
na interpretao.
O foco na recepo emergiu como uma
reao contra o papel exclusivo do texto no processo de construo de significados em arte.
Na dcada de 1960, a teoria crtica estava sob a
hegemonia do New Criticism o significado de
um texto estava estruturado dentro do prprio
texto, e qualquer influncia quer da inteno do
autor, quer da resposta do leitor poderiam
apenas invalidar este significado 2. Os anos
1970 testemunharam uma mudana em direo ao receptor.
Esta inflexo na interpretao est apoiada nos modelos interativos de leitura da Psicologia Cognitiva. Segundo Harker (1992,
p. 33), apesar das diferenas entre seus mtodos
de investigao, as Teorias da Responsividade
(Reader-Response Theories) e da Psicologia Cognitiva compartilham dois princpios que so
particularmente importantes para a rea da pedagogia do teatro:
1. ambas concebem o significado como resultante do engajamento ativo do leitor com o texto.
2. ambas afirmam que o entendimento ocorre
no momento do engajamento do leitor com o
texto, sem negar a importncia de seus encontros prvios com o mesmo ou com outros textos.
Umberto Eco argumenta em The Limits
of Interpretation (Eco, 1990, p. 109), que ao selecionar convenes e signos e ao estabelecer
relaes co-textuais os atores esto lidando com
ambigidades e oferecendo uma srie de conotaes, isto , sugerindo mais do que realmente falado ou demonstrado. Uma vez que cada
elemento no palco torna-se significante, o texto ser sempre ideologicamente denso dado seu
aspecto coletivo e multiplicidade de signos e
convenes. Por outro lado, a leitura dos espectadores ser sempre mediada pelo seu ngulo de
viso, o qual permite interpretar os signos verbais e visuais, e fazer inferncias juntando as
novas informaes com seu conhecimento anterior. De acordo com Eco, o vis ideolgico
do leitor vir tona, e ir ajudar a desnudar ou
ignorar a estrutura ideolgica do texto (Eco,
1979, p. 22). Em A Theory of Semiotics (Eco,
1976), Eco distingue contexto (o ambiente onde
uma dada expresso ocorre paralelamente a outras expresses pertencentes ao mesmo sistema
sgnico) de circunstncia (a situao externa
onde a expresso ocorre).
Na vida cotidiana, contexto e circunstncias esto usualmente implcitos ns sabemos com quem estamos falando e a situao
que estamos vivenciando. Cada vez que encontramos estranhos em locais no usuais, ns
nos apresentamos.
No decorrer de um processo de fico,
contexto e circunstncias precisam ser criados e
desenvolvidos. Da a necessidade da mediao.
O New Criticism (preponderante dos anos 30 aos 60) enfatizou a autonomia do texto, negando tanto o
autor quanto o leitor como consideraes na determinao dos significados literrios.
42
R1-A5-BiangeCabral.PMD
42
15/04/2009, 08:24
O espao da pedagogia na investigao da recepo do espetculo
A maioria dos desempenhos pobres no ensino
de teatro se relaciona com a carncia de informaes as referncias se esgotam, os alunos
passam a se repetir, ou desistem de participar.
O mesmo acontece com relao recepo; para ler a cena, os espectadores precisam
perceber o contexto e as circunstncias em que
ela ocorre. Alm disso, h outra interferncia
na percepo e fruio artstica ambas dependem tambm do gosto e experincias pessoais.
Assim sendo, a formao do espectador requer
que sejam ouvidas as percepes individuais e
evitadas as interpretaes por parte tanto dos
alunos quanto do professor.
As consideraes acima deixam evidente
que a interpretao no neutra, ela reflete os
valores operando no campo em que realizada.
Ao focalizar o leitor, privilegiando o espectador,
os argumentos sobre valores antagnicos so
abertos a todos os participantes no processo.
Portanto, considerar a recepo e a interpretao como processos baseados em valores estticos e polticos, traz conseqncias importantes
para a formao do espectador, uma vez que no
se pode mais alegar uma natureza a-histrica do
conhecimento, nem contar com um modelo
fixo a ser seguido para valorizar algo.
O espao da recepo na interpretao
aponta para aquilo que tem sido considerado
como papel produtivo do leitor. Produtivo no
sentido de leitura como construo, expresso cunhada por Tzvetan Todorov como uma
peculiaridade dos textos de fico (cf. Suleiman
& Crosman, 1980). Pode-se dizer que na esfera
da pedagogia a noo de leitura como construo tem um significado quase literal, pois a
funo real dos leitores-participantes.
O mesmo se poderia afirmar em relao
ao pblico. Susan Bennet acentua que no teatro de oposio ps-brechtiano que a platia
atingiu um papel gradualmente mais produtivo (Bennett, 1990, p. 21). O teatro de Brecht
se concentrou na mudana dos modos tradicionais de produo e recepo atravs da introdu-
o daquilo que Elizabeth Wright chamou recursos simblicos planejados para interromper
a unidade imaginria entre produtor e texto,
ator e papel, espectador e palco, tais como: efeito de estranhamento, foco no gesto, apelo ao
espectador (Wright, 1989, p. 2).
A ltima fase de Brecht, por ele denominada Teatro Dialtico, enfatiza as contradies
presentes nos sentimentos, opinies, atitudes e
interaes humanas. Seu objetivo era promover
a observao crtica e estimular a atividade na
esfera social. De acordo com Benjamin, seu esforo em tornar o pblico interessado no teatro
como especialista no por razes culturais
uma expresso de seu propsito poltico (Benjamin, 1973, p. 16).
Se as contradies esto no centro do
engajamento ativo do espectador, este para ser
eficaz depende da capacidade dos participantes
em decodificar o texto coletivo. Uma tarefa
oferecida ao espectador e este deve possuir ou
obter as ferramentas para realiz-la. Esse modo
ativo de decodificar convenes e signos se
aproxima do desafio e do estmulo proporcionado por um jogo. O prazer teatral o prazer
do signo, argumenta Anne bersfeld, o mais
semitico de todos os prazeres (...) Acima de
tudo este prazer deriva da atividade; do envolvimento do espectador na interpretao de uma
multiplicidade de signos. O objetivo no encontrar a verdade, mas perceber que o mundo
est l para ser interpretado (bersfeld, 1982,
p. 127-35).
Segundo Susan Suleiman, a preocupao
com o espectador e a interpretao representa
tambm um sintoma da evoluo recente das
cincias humanas em direo autoreflexo e
ao reconhecimento da relevncia do contexto.
Suleiman analisa as principais abordagens tericas voltadas ao espectador e ao pblico, e
enfatiza que sua combinao no deveria ser
considerada de forma negativa, como ecletismo,
mas positivamente, como necessidade (Suleiman, 1980, p. 3-45).
43
R1-A5-BiangeCabral.PMD
43
15/04/2009, 08:24
s ala p reta
O impacto cultural
e a investigao da rrecepo
ecepo
Pesquisas sobre a recepo teatral, que realizei
entre 1997 e 2006, revelaram que o impacto
cultural de um espetculo est relacionado quer
com sua ressonncia com o contexto social do
espectador, quer com a transgresso das formas
usuais e/ou cotidianas do uso do espao e texto.
A primeira investigao foi efetivada durante um intercmbio com a Universidade de
Exeter/UK, entre 1997 e 2001 (Programa de
Intercmbios CAPES/Conselho Britnico),
onde foi priorizado o o olhar estrangeiro os
tipos de estranhamento que o contexto local
provocou no pesquisador visitante.
A partir de 2002 um projeto de pesquisa
sobre teatro em comunidade passou a usar um
questionrio, como roteiro para entrevistar atores e espectadores de espetculos realizados atravs da parceria entre estudantes de teatro e moradores locais. O nmero e a heterogeneidade
dos participantes destes eventos, alm do carter de sua produo3, dificultariam a anlise da
recepo, e o questionrio foi visto como uma
possibilidade de pontuar os aspectos da esttica
teatral priorizados na encenao, delimitando
assim o campo de observao. Isto permitiu coletar informaes sobre os aspectos da montagem que foram mais significativos e tiveram
maior repercusso.
A anlise dos resultados surpreendeu em
dois aspectos. Em primeiro lugar, no correspondeu s expectativas da equipe de produo
o que foi priorizado pelos atores havia sido
previsto como aquilo que seria priorizado pelo
espectador comum, e vice-versa. Em segundo
lugar, os atores, formandos de uma Licenciatura em Artes Cnicas, foram unnimes na constatao de que o questionrio os fez perceber a
extenso do trabalho realizado, em termos da
identificao dos elementos trabalhados.
A constatao de que a expectativa do
professor-diretor no se confirmou no levantamento de opinies realizado atravs desta investigao, levou experimentao do uso de questionrios em contexto e circunstncias diversas:
Mostras de Teatro Educao, espetculos de
grupos profissionais, disciplinas de graduao,
laboratrios experimentais, oficinas. Nestas experincias, a ampliao da percepo dos participantes sobre o trabalho que acabaram de realizar foi considerada mais importante do que
o resultado quantificado da pesquisa.
A investigao do impacto cultural causado pelo envolvimento com uma experincia
teatral (quer como ator ou espectador), passou
ento a focalizar o uso de questionrios como
forma de apresentar ao espectador uma cartografia do campo investigado. Este procedimento amplia o campo de percepo do espectador,
que identifica o que lhe foi mais significativo; o
ponto de partida passa a ser o reconhecimento
de percepes distintas, em vez da busca de um
consenso em termos de interpretao (procedimento comum no contexto do ensino).
Ao mediar a interao do espectador com
a cena atravs de um questionrio que represente uma cartografia do campo a ser investigado,
o professor/diretor est por um lado, observando o que foi mais significativo para um determinado grupo de espectadores, e por outro
lado, ampliando o significado da cena ao re-direcionar o olhar destes espectadores.
Ocasies em que um questionrio foi distribudo antes do evento revelaram que os espectadores leram o mesmo enquanto aguardavam o incio do espetculo e que este fato
ampliou sua percepo de sutilezas da cena, e
em conseqncia, seu prazer. Ocasies em que
O espetculo, Santo Antnio de Lisboa na virada do milnio, por exemplo, incluiu cinco cenas
concomitantes, em locais distintos da comunidade, levando o pblico a transitar entre elas.
44
R1-A5-BiangeCabral.PMD
44
15/04/2009, 08:24
O espao da pedagogia na investigao da recepo do espetculo
o questionrio foi entregue aps o espetculo
provocaram o retorno de vrios espectadores,
para assisti-lo novamente, a fim de suprir algumas lacunas de sua percepo que consideraram
essenciais fruio do mesmo. Subjacente a ambas as situaes est o prazer do conhecimento.
Implicaes pedaggicas
Denis Gunoun, ao questionar a natureza do
prazer esttico, cita Aristteles: se gostamos de
ver imagens, porque olhando-as, aprende-se a
conhecer. O prazer, diz Gunoun, , portanto, proporcionado pelo conhecimento, pela representao como conhecimento (cf. Gunoun,
2004, p. 27).
Para Hans-Robert Jauss, a comunicao
literria s conserva o carter de uma experincia esttica se mantiver o carter do prazer.
O prazer por meio da experincia esttica permeia um acontecimento que deve provocar um
deslumbramento, tirando o contemplador da
percepo automatizada ou habitual do cotidiano e o conduzindo dimenso esttica.
Se o horizonte de expectativas examina a
recepo pela perspectiva do desejo e da viso
de mundo do espectador, os vazios do texto (os
gaps) apontam para a apropriao do texto pelo
leitor. Um texto aberto permite diferentes leituras, como tal, sua atualizao pelo espectador
requer coerncia interna e, em trabalhos de grupo, seu enquadramento ou contextualizao.
O argumento central de Wolfgang Iser
que no podemos achar um significado fixo no
texto literrio nem projetar nosso significado no
mesmo. Devemos construir o significado com
a ajuda do texto. Um trabalho de criao, segundo Iser, tem dois plos: o artstico (o texto)
e o esttico (a realizao do texto pelo leitor).
Mas, a obra de arte que dele decorre, no idntica ao texto nem sua realizao pelo leitor
ela se situa no meio das duas. No pode ser
idntica porque cada texto tem uma parte no
escrita, os vazios do texto (seus gaps) que precisam ser preenchidos pelo leitor. So eles que
permitem as diferentes leituras de uma obra, o
que requer um enquadramento para que estas
possam ser associadas. Mas, o enquadramento
da obra no implica identificar seu significado.
Assim como o autor seleciona partes da realidade para incorporar no texto, o leitor seleciona
partes do texto para priorizar na sua interpretao. O papel do professor, alm de identificar
um texto aberto para o trabalho em grupo, est
tambm em dirigir a ateno dos participantes
para estes vazios do texto (mesmo que ele resulte da criao coletiva do grupo).
Entretanto, o vazio do texto se refere a
algo de importncia vital (Iser, 1974, p. 33).
O gap no uma falta de detalhes; os romances
atuais, por exemplo, possuem excesso de detalhes, e justamente isto que faz com que se observem tantos vazios. Estes correspondem falta de avaliao do relacionamento entre os
personagens, ou falta de clareza entre dois
pontos de vista, ou negao de algum valor
que promova uma substituio positiva. Em
outras palavras, diz o autor, o gap algo que prejudica o bom desenvolvimento de um texto
(Iser, 1978, p. 124). Embora Iser tenha se posicionado contra o desconstrucionismo psmoderno, a nfase no jogo do leitor com o texto est presente. Em Stepping Forward (1998),
ele investiga a natureza e objetivos da interpretao hermenutica, afirmando que o que
decisivo para a interpretao no a autoridade (do autor, do texto ou do leitor), mas o
liminal space entre o texto e o resultado da interpretao: ... cada ato de interpretao cria
um espao liminar entre a matria a ser interpretada e sua traduo para um registro diferente (...) a mudana da autoria causada pelo espao liminar, cuja indeterminao bsica flutua
entre o cnone, a leitura e o registro (1998,
p. 19-21).
As noes de horizonte de expectativas e
vazios do texto permitem repensar o ensino no
contexto contemporneo da pedagogia ps-crtica. Henri Giroux introduz a noo do professor como intelectual, para propor uma perspectiva pedaggica centrada na democratizao do
45
R1-A5-BiangeCabral.PMD
45
15/04/2009, 08:24
s ala p reta
ensino. Para o autor os intelectuais transformadores precisam compreender como as subjetividades so produzidas e reguladas atravs de formas historicamente produzidas e como estas
formas levam e incorporam interesses particulares (1997, p. 31).
Tomaz Tadeu da Silva prope a pedagogia como cultura, a cultura como pedagogia,
como forma de mobilizar uma economia afetiva
que tanto mais eficaz quanto mais inconsciente. precisamente a fora deste investimento das pedagogias culturais no afeto e na
emoo, diz o autor, que tornam seu currculo um objeto to fascinante de anlise (2005,
p. 140). Nestas perspectivas, tica e possibilidade caminham juntas e fundamentam a expanso cultural do aluno; o prazer de aprender se
associa ao rompimento de barreiras na rea do
conhecimento. No seria aqui o local de desestabilizar o horizonte de expectativas de um determinado grupo de espectadores? O papel do
professor como intelectual no poderia ser associado sua mediao na identificao dos vazios do texto?
As noes de horizonte de expectativas e
vazios do texto permitem repensar a recepo
teatral no mbito da pedagogia, uma vez que
ampliam possibilidades para compreender a relao entre a funo da linguagem e o papel do
leitor. Ao selecionar e incluir alternativas para
preench-las em um questionrio, o professor
recebe informaes que permitem identificar
tanto a quebra de expectativas, quanto o cruzamento de fronteiras culturais.
A investigao da recepo pode ser articulada em diferentes direes:
Pela perspectiva do questionrio como instrumento de pesquisa, a incluso dos gaps entre as
alternativas de resposta permite captar a recepo do pblico ou dos participantes, ao nvel
da concepo do trabalho.
Pela perspectiva do espectador, a transparncia dos procedimentos de trabalho e de investigao garante a ampliao do repertrio artstico atravs das indicaes tericas e cnicas sobre
o espetculo.
Pela perspectiva do professor-diretor, a construo do questionrio representa uma mediao
entre produo e recepo; ao delimitar o campo de observao, ele oferece ao espectador uma
cartografia do processo de investigao cnica.
A atuao do professor no espao da investigao da recepo teatral assim caracterizada como mediao ao nvel da configurao
do horizonte de expectativas do aluno e da sua
interpretao, uma vez que a identificao dos
vazios do texto influenciar sua percepo. A
contribuio de uma investigao quantitativa
sobre a percepo da esttica do espetculo pelos espectadores reside, por um lado, na possibilidade de incorporar as opinies de uma vasta
maioria silenciosa, a qual por razes distintas e
muitas vezes opostas, no participam dos debates. Por outro lado, como etapa anterior a uma
anlise qualitativa, contribui para um olhar distanciado do pesquisador em relao ao objeto
pesquisado. No caso aqui focalizado, os resultados obtidos foram contrrios s expectativas
criadas pelo grupo de pesquisa, e isto favoreceu
um novo olhar sobre a cena e o projeto. Outro
aspecto relevante no mbito desta investigao
que os resultados obtidos atravs da anlise da
recepo do espetculo e dos processos de experimentao metodolgica foram semelhantes.
Na fronteira entre a pedagogia e o teatro,
o estudo da recepo permite explorar formas
de inserir o espectador no espao espetacular e
incluir sua voz na construo da narrativa teatral. Uma investigao em processo aponta tanto para uma avaliao diagnstica quanto para
um planejamento que promova travessias estticas, pedaggicas e tericas.
46
R1-A5-BiangeCabral.PMD
46
15/04/2009, 08:24
O espao da pedagogia na investigao da recepo do espetculo
Referncias bibliogrficas
BARTHES, R. Barthes on Theatre. In: Theatre Quarterly, 1979, Vol. IX, n. 33, p. 25-30.
BATTYE, S. e CABRAL, B. Crossing the Borders intercultural perspectives in multicultural
contexts. In: Special Interest Fields of Drama, Theatre and Education. (Ed. Hannu Heikkinen).
Finlndia: Jyvskyl, 2003.
BENNETT, S. Theatre Audiences A Theory of Production and Reception. London: Routledge, 1990.
BENJAMIN, W. Versuche uber Brecht. Frankfurt: Suhrkamp, 1981.
CABRAL, B. Signs of a Post-modern, yet Dialectic, Practice. In: Research in Drama Education,
Vol. 1, n. 2, 1996, p. 215-20.
_______. Interconnected scenarios for ethical dialogues in drama. In: RASMUSSEN, Bjorn &
OSTERN, Anna-Lena (Eds.). Playing Betwixt and Between the IDEA Dialogues 2001. Bergen/Noruega, IDEA Publications, 2002.
CABRAL, B. & OLSEN, D. Framing the Aesthetic Response to a community Theatre Project.
In: Applied Theatre Researcher, n. 6, Austrlia, 2005.
ECO, U. A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1976.
_______. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press, 1979.
_______. The Limits of Interpretation. Bloomington: Indiana University Press, 1990.
GADAMER, H-G. Verdade e Mtodo. Petrpolis: Vozes, 1997.
GUNOUN, D. O teatro necessrio? So Paulo: Perspectiva, 2004.
HARKER, J. W. Reader Response and Cognition: Is there a Mind in this Class?. In: Journal of
Aesthetic Education, 1992, Vol. 26, n. 3, p. 27-39.
HORNBROOK, D. Education in Drama. Londres: The Falmer Press, 1991.
ISER, W. The Implied Reader. Baltimore: John Hopkins UP, 1974.
_______. The Act of Reading. Baltimore: John Hopkins UP, 1978.
ISER, Range & ISER, W. Stepping Forward. Kidderminster: Crescent Moon, 1998.
JAUSS, H-R. Towards an Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
_______. A Histria da Literatura como Provocao Teoria Literria. So Paulo: tica, 1994.
LIMA, L. (Org.). A literature e o leitor textos de Esttica da Recepo. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2002.
SILVA, T. T. Documentos de Identidade uma introduo s teorias do currculo. Belo Horizonte:
Autntica, 2005.
SULEIMAN, S. & CROSMAN, I. The Reader in the Text Essays on Audience and Interpretation.
New Jersey: Princeton University Press, 1980.
47
R1-A5-BiangeCabral.PMD
47
15/04/2009, 08:24
s ala p reta
BERSFELD, A. The Pleasure of the Spectator. In: Modern Drama, 1982, Vol. 25, n. 1,
p. 127-39.
WRIGHT, E. Post-Modern Brecht: a Re-Presentation. Londres: Routledge, 1989.
RESUMO: Esta reflexo parte do pressuposto que o espao pedaggico da recepo teatral reside
na prpria ao de investig-la. Abrir o campo de investigao para o espectador significa facilitar
que este identifique aspectos da cena e os relacione com seu processo de criao.
As perspectivas de Hans-Robert Jauss e Wolfgang Iser so os principais subsdios tericos
desta abordagem, como ser visto frente. Ambos permitem repensar a questo da mediao a
noo de horizonte de expectativas (Jauss, 1982, 1994), que desafia o professor a contrapor as esferas
do coletivo e do individual a fim de focalizar a diversidade no contexto escolar; e a noo de gaps
(Iser, 1974, 1978, 1998), que permite focalizar aspectos de interveno do professor, no mbito da
mediao, uma vez que ao estruturar a atividade, selecionar estratgias, convenes, textos ou fragmentos de texto, o professor est direcionando ou redirecionando a construo da narrativa teatral.
PALAVRAS-CHAVE: recepo teatral, pedagogia, formao do espectador, horizonte de expectativas, vazios do texto.
48
R1-A5-BiangeCabral.PMD
48
15/04/2009, 08:24
Você também pode gostar
- Modelo de Estudo Social para o Campo Sociojurídico IIDocumento5 páginasModelo de Estudo Social para o Campo Sociojurídico IIMarco Aurelio Romar90% (50)
- PCC 1 Ao 4 Semestre 2017 Artes VisuaisDocumento18 páginasPCC 1 Ao 4 Semestre 2017 Artes VisuaisJuliano Cesar86% (7)
- Um Bonde Chamado Desejo Tennessee WilliamsDocumento90 páginasUm Bonde Chamado Desejo Tennessee WilliamsGel AndradeAinda não há avaliações
- PLNM B1 B2Documento117 páginasPLNM B1 B2rita_psiAinda não há avaliações
- Arte Participativa - para Uma Curadoria ExpandidaDocumento14 páginasArte Participativa - para Uma Curadoria ExpandidaChristiane MartinsAinda não há avaliações
- 33bienal - Relações Entre Educação e Política Na Instituição de Arte, o Caso Da 33a Bienal de São PauloDocumento14 páginas33bienal - Relações Entre Educação e Política Na Instituição de Arte, o Caso Da 33a Bienal de São PauloelainefontanaAinda não há avaliações
- ROCHELLE, H. Operação e Comunicação Da Crítica de Dança. MORINGA - Artes Do Espetáculo, v. 12 N. 2, 2021, Pp. 95-115Documento21 páginasROCHELLE, H. Operação e Comunicação Da Crítica de Dança. MORINGA - Artes Do Espetáculo, v. 12 N. 2, 2021, Pp. 95-115rochelle.hrqAinda não há avaliações
- Estetica Da RecepçãoDocumento6 páginasEstetica Da RecepçãoantraxmasterAinda não há avaliações
- Oficinas de Literatura No Ensno MédioDocumento22 páginasOficinas de Literatura No Ensno MédioHélio SouzaAinda não há avaliações
- A Imagem em Sala de AulaDocumento12 páginasA Imagem em Sala de AulaAna Maria LimaAinda não há avaliações
- Ingrid Koudela - O PROTOCOLO DO TRABALHO ALEGREDocumento5 páginasIngrid Koudela - O PROTOCOLO DO TRABALHO ALEGREtalesAinda não há avaliações
- SP04 - 019 A Pedagogia Do Espectador Por Celso FavaretoDocumento4 páginasSP04 - 019 A Pedagogia Do Espectador Por Celso FavaretoMaria De MariaAinda não há avaliações
- Galoa Proceedings Compos 2012Documento13 páginasGaloa Proceedings Compos 2012Théo de FigueiredoAinda não há avaliações
- A Prática Teatral para A Quebra de EstereótiposDocumento15 páginasA Prática Teatral para A Quebra de EstereótiposCláudio de MoraesAinda não há avaliações
- 6 BRITES Blanca TESSLER Elida Org.. O Meio Como Ponto Zero 37 52Documento16 páginas6 BRITES Blanca TESSLER Elida Org.. O Meio Como Ponto Zero 37 52Isaac CostaAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO E PSICODRAMA Possíveis Práticas de SingularizaçãoDocumento13 páginasEDUCAÇÃO E PSICODRAMA Possíveis Práticas de SingularizaçãoaparecidalopesAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - Abordagem TriangularDocumento3 páginasResenha Crítica - Abordagem TriangularBruna CozacAinda não há avaliações
- Do Íntimo No Trabalho Do AtorDocumento73 páginasDo Íntimo No Trabalho Do AtorAndreia Ribeiro da SilvaAinda não há avaliações
- NECKEL, N.R.M. Análise de Discurso e o Discurso ArtísticoDocumento8 páginasNECKEL, N.R.M. Análise de Discurso e o Discurso ArtísticoDenilson LopesAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Arte e Vigotski José RicardoDocumento21 páginasArtigo Sobre Arte e Vigotski José RicardoJosé Ricardo CarvalhoAinda não há avaliações
- A Ética em Processos Coletivos de Teatro ContemporâneoDocumento4 páginasA Ética em Processos Coletivos de Teatro ContemporâneoTiago VargasAinda não há avaliações
- Trabalho Final Flora - Investigações Conc em Teoria Do TeatroDocumento10 páginasTrabalho Final Flora - Investigações Conc em Teoria Do TeatroMARCELO APARECIDO DA CRUZ PRATESAinda não há avaliações
- Adrianovaladao, A16Documento16 páginasAdrianovaladao, A16Winnie C.Ainda não há avaliações
- Pedagogia Do Teatro e Teatro Como PedagogiaDocumento4 páginasPedagogia Do Teatro e Teatro Como PedagogiaÍcaroCostaAinda não há avaliações
- Didáticai Importância Das Artes VisuaisDocumento16 páginasDidáticai Importância Das Artes VisuaisJoana MatosAinda não há avaliações
- Artigo Instalação DançaDocumento12 páginasArtigo Instalação DançaRoberto BasílioAinda não há avaliações
- Resumo - Seminário em EducaçãoDocumento2 páginasResumo - Seminário em EducaçãoIsabela VieiraAinda não há avaliações
- A Metafisica Do Ensino Da Arte - Agruras, Caminhos e IdentidadeDocumento23 páginasA Metafisica Do Ensino Da Arte - Agruras, Caminhos e Identidadeadrianogentil.pesquisadorAinda não há avaliações
- Lampert, Jociele - Deambulacoes Sobre o Ensino de ArtesDocumento11 páginasLampert, Jociele - Deambulacoes Sobre o Ensino de ArtesArcanjoEdisonAinda não há avaliações
- A Compreensão Crítica Da Obra de ArteDocumento4 páginasA Compreensão Crítica Da Obra de ArteCida AlvesAinda não há avaliações
- 4389 20192 1 PBDocumento18 páginas4389 20192 1 PBMelinoe PandAinda não há avaliações
- Família Enferma - Lasar SegallDocumento11 páginasFamília Enferma - Lasar SegallnalarapaulaAinda não há avaliações
- Um Filme E Seus Diálogos Com A História.: 1492 - A Conquista Do ParaísoDocumento8 páginasUm Filme E Seus Diálogos Com A História.: 1492 - A Conquista Do ParaísoSamyla SantiagoAinda não há avaliações
- ENSAIO Objetos Relacionais de Lygia ClarkDocumento12 páginasENSAIO Objetos Relacionais de Lygia ClarkjlabartaAinda não há avaliações
- Pedagogia do teatro: Práticas contemporâneas na sala de aulaNo EverandPedagogia do teatro: Práticas contemporâneas na sala de aulaAinda não há avaliações
- 186418-Texto Do Artigo-533254-1-10-20211220Documento22 páginas186418-Texto Do Artigo-533254-1-10-20211220Gustavo BoninAinda não há avaliações
- Questoes Multiculturais para o Ensino de ArteDocumento22 páginasQuestoes Multiculturais para o Ensino de Artekelly9bianca9c9valenAinda não há avaliações
- CARDOSO FILHO-GUTMAN - Performances Como ExpressoesDocumento17 páginasCARDOSO FILHO-GUTMAN - Performances Como ExpressoesIvaaliveAinda não há avaliações
- Palavras-Chave: Ensino de Artes Visuais, Educação Estética, Compreensão EstéticaDocumento23 páginasPalavras-Chave: Ensino de Artes Visuais, Educação Estética, Compreensão EstéticaIvan OlivenAinda não há avaliações
- Pré PesquisaDocumento21 páginasPré PesquisaNina BalbiAinda não há avaliações
- Ensaio Cientifico PDFDocumento14 páginasEnsaio Cientifico PDFAiuba Jose FerroAinda não há avaliações
- Conhecimento, Curriculo e Ensino - MoreiraDocumento9 páginasConhecimento, Curriculo e Ensino - MoreiraromilsonlsAinda não há avaliações
- Estetica e Discurso VisualDocumento42 páginasEstetica e Discurso VisualAline de JesusAinda não há avaliações
- Afectos PictóricosDocumento20 páginasAfectos PictóricosLucas MurariAinda não há avaliações
- Arte Educacao Livro MediacaoDocumento12 páginasArte Educacao Livro MediacaoYandraAinda não há avaliações
- Cultura Visual, Cinema e EducaçãoDocumento10 páginasCultura Visual, Cinema e EducaçãoLuciana BritoAinda não há avaliações
- 13449-Texto Do Artigo-47438-1-10-20181105Documento13 páginas13449-Texto Do Artigo-47438-1-10-20181105Bulldog GamesAinda não há avaliações
- Mediação em Artes Cênicas e A Criação de Laços Amorosos Com o MundoDocumento7 páginasMediação em Artes Cênicas e A Criação de Laços Amorosos Com o MundoRaimundo Kleberson de Oliveira BenicioAinda não há avaliações
- MemóriaHistóriaCultura InterpretaçãoDocumento10 páginasMemóriaHistóriaCultura InterpretaçãoSandro FélixAinda não há avaliações
- O Filme Contextualizado - Diálogos Entre Sociologia e CinemaDocumento12 páginasO Filme Contextualizado - Diálogos Entre Sociologia e CinemapedroarteAinda não há avaliações
- 47719-Texto Do Artigo-57820-1-10-20121211Documento21 páginas47719-Texto Do Artigo-57820-1-10-20121211Eveline OliveiraAinda não há avaliações
- Arte É Conhecimento, É Construção, É ExpressãoDocumento9 páginasArte É Conhecimento, É Construção, É ExpressãoAndré CarreiroAinda não há avaliações
- Formação, práticas e técnicas do artista teatralNo EverandFormação, práticas e técnicas do artista teatralAinda não há avaliações
- Estetica para Educação MusicalDocumento97 páginasEstetica para Educação MusicalRaffaell FerreiraAinda não há avaliações
- Beatriz A. V. Cabral - Ação Cultural e Teatro Como PedagogiaDocumento10 páginasBeatriz A. V. Cabral - Ação Cultural e Teatro Como PedagogiaLeonardo AlvesAinda não há avaliações
- A Estetica Nas Artes VisuaisDocumento21 páginasA Estetica Nas Artes VisuaisCris PagotoAinda não há avaliações
- Admin,+1 +Adilson+Florentino (Pronto)Documento12 páginasAdmin,+1 +Adilson+Florentino (Pronto)Flávio GonçalvesAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre Estética e o Ensino de Artes Na Educação InfantilDocumento13 páginasReflexões Sobre Estética e o Ensino de Artes Na Educação InfantilMarcio CamposAinda não há avaliações
- Arte e Educação: Perspectivas Ético-EstéticasDocumento16 páginasArte e Educação: Perspectivas Ético-EstéticasNicole MarcquesAinda não há avaliações
- V 24 N 4 A 12Documento12 páginasV 24 N 4 A 12Willian PereiraAinda não há avaliações
- Arte e MusicalizaçãoDocumento7 páginasArte e MusicalizaçãoWanne KellyAinda não há avaliações
- Pedagogia Do TeatroDocumento9 páginasPedagogia Do TeatroRenata WeberAinda não há avaliações
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 04, Ago. 1928 PDFDocumento9 páginasRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 04, Ago. 1928 PDFclownmunidadeAinda não há avaliações
- Palco e Platéia, N. 5, Jan.-Fev. 1987Documento90 páginasPalco e Platéia, N. 5, Jan.-Fev. 1987clownmunidadeAinda não há avaliações
- 060013-18 CompletoDocumento2 páginas060013-18 CompletoTazio ZambiAinda não há avaliações
- Revista de Antropofagia, Ano 2, N. 07, Maio 1929 PDFDocumento2 páginasRevista de Antropofagia, Ano 2, N. 07, Maio 1929 PDFclownmunidadeAinda não há avaliações
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 08, Dez. 1928 PDFDocumento9 páginasRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 08, Dez. 1928 PDFclownmunidadeAinda não há avaliações
- 060013-15 CompletoDocumento2 páginas060013-15 CompletoTazio ZambiAinda não há avaliações
- 060013-25 CompletoDocumento2 páginas060013-25 CompletoMelissa LoureiroAinda não há avaliações
- WILLIAMS, Tennessee. O Quarto EscuroDocumento7 páginasWILLIAMS, Tennessee. O Quarto EscuroclownmunidadeAinda não há avaliações
- ESSAPROPRIEDADEDocumento8 páginasESSAPROPRIEDADECarlos Alberto MorenoAinda não há avaliações
- Revista de Antropofagia, Ano 1, N. 05, Set. 1928 PDFDocumento9 páginasRevista de Antropofagia, Ano 1, N. 05, Set. 1928 PDFclownmunidadeAinda não há avaliações
- WILLIAMS, Tennessee. Obrigada, Bom EspíritoDocumento8 páginasWILLIAMS, Tennessee. Obrigada, Bom EspíritoclownmunidadeAinda não há avaliações
- WILLIAMS, Tennessee. FugaDocumento5 páginasWILLIAMS, Tennessee. FugaclownmunidadeAinda não há avaliações
- WILLIAMS, Tennessee - O Grande JogoDocumento33 páginasWILLIAMS, Tennessee - O Grande JogoDaniel AurelianoAinda não há avaliações
- WILLIAMS Tennessee. A Mulher Do GordoDocumento13 páginasWILLIAMS Tennessee. A Mulher Do GordoRicardo Augusto Cioni Engracia GarciaAinda não há avaliações
- WILLIAMS, Tennessee. E Contar Tristes Histórias Da Morte Das BonecasDocumento19 páginasWILLIAMS, Tennessee. E Contar Tristes Histórias Da Morte Das BonecasclownmunidadeAinda não há avaliações
- PINTER, Harold. Um para o CaminhoDocumento7 páginasPINTER, Harold. Um para o CaminhoclownmunidadeAinda não há avaliações
- Vozes de Família (Harold Pinter)Documento17 páginasVozes de Família (Harold Pinter)argentronicAinda não há avaliações
- Como Evitar PlagioDocumento14 páginasComo Evitar PlagioMarta IrinaAinda não há avaliações
- Educacao - Fisica 9oano Ijg 11092020Documento3 páginasEducacao - Fisica 9oano Ijg 11092020ALCEU DOMINGUES ALVESAinda não há avaliações
- Desenvolvendo A Identidade Filipina Nas ArtesDocumento47 páginasDesenvolvendo A Identidade Filipina Nas ArtesScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Gestão Participativa SlidesDocumento11 páginasGestão Participativa SlidesDara SantosAinda não há avaliações
- Livro Teorias Da EducaçãoRevisadoNTEDocumento97 páginasLivro Teorias Da EducaçãoRevisadoNTEHeidimar França MachadoAinda não há avaliações
- HERSCHMANN KROPF NUNES - Missionários Do Progresso - CompletoDocumento113 páginasHERSCHMANN KROPF NUNES - Missionários Do Progresso - CompletoKARINE LOPESAinda não há avaliações
- Hermenêutica e Exegese BíblicasDocumento9 páginasHermenêutica e Exegese Bíblicascleiton0729Ainda não há avaliações
- Estação Cultural Comunitária Do Guarapes - JESSYCA ALENCARDocumento96 páginasEstação Cultural Comunitária Do Guarapes - JESSYCA ALENCAREliezer JustoAinda não há avaliações
- Gohn - Novas Teorias Mov Sociais PDFDocumento18 páginasGohn - Novas Teorias Mov Sociais PDFLuciano Bezerra Agra Filho AgraAinda não há avaliações
- 3º Ano - Ensino ReligiosoDocumento31 páginas3º Ano - Ensino ReligiosoDoralice PereiraAinda não há avaliações
- Mini MonografiaDocumento16 páginasMini MonografiaKaique Silva OliveiraAinda não há avaliações
- As Teorias Contemporâneas Da Justiça - Artigos JusBrasilDocumento11 páginasAs Teorias Contemporâneas Da Justiça - Artigos JusBrasilClaudio ChagasAinda não há avaliações
- Visagens e Assombracoes de Belem de Walcyr MonteiroDocumento117 páginasVisagens e Assombracoes de Belem de Walcyr MonteiroBiel CostaAinda não há avaliações
- Relatório ILANUD JR PDFDocumento158 páginasRelatório ILANUD JR PDFmarinaapAinda não há avaliações
- O Contador e A Ética Profissional 02Documento28 páginasO Contador e A Ética Profissional 02DaviAinda não há avaliações
- Aula Sobre Teoria Da LiteraturaDocumento8 páginasAula Sobre Teoria Da Literaturaclaudia100% (1)
- Fichamento Bell HooksDocumento6 páginasFichamento Bell HooksFelipe UzedaAinda não há avaliações
- Seguindo o Rabino JesusDocumento4 páginasSeguindo o Rabino JesusGilney SoaresAinda não há avaliações
- Os Objetivos e Conteudos de EnsinoDocumento15 páginasOs Objetivos e Conteudos de EnsinoElizabete Rosa50% (2)
- Aprendizagem Ao Longo Da VidaDocumento13 páginasAprendizagem Ao Longo Da VidaLuisa LopesAinda não há avaliações
- Helio OiticicaDocumento137 páginasHelio OiticicaBeavisKiller50% (2)
- Linguagem e Histórias em Quadrinho (Avaliação 1)Documento3 páginasLinguagem e Histórias em Quadrinho (Avaliação 1)Katiele Naiara HirschAinda não há avaliações
- O Papel Do Lider Educador - Wellidy Almeida - 2009Documento27 páginasO Papel Do Lider Educador - Wellidy Almeida - 2009Wellidy AlmeidaAinda não há avaliações
- Fichamento 1 - O Que É LiteraturaDocumento4 páginasFichamento 1 - O Que É LiteraturaRosy Ribeiro100% (1)
- Sonia BrochadoDocumento31 páginasSonia BrochadojulybritoAinda não há avaliações
- Importância Da Identificação Precoce Da Ocorrência Do Bullying Uma Revisão de LiteraturaDocumento9 páginasImportância Da Identificação Precoce Da Ocorrência Do Bullying Uma Revisão de LiteraturaRosi GiordanoAinda não há avaliações
- QUESTÕES Filosofia AntigaDocumento11 páginasQUESTÕES Filosofia AntigaMarceloAinda não há avaliações
- Revista Unan #4Documento20 páginasRevista Unan #4Carlos ContrerasAinda não há avaliações
- Guita Lvovna Vigodskaia (1925-2010) - Filha de Vigotski - EntrevistaDocumento9 páginasGuita Lvovna Vigodskaia (1925-2010) - Filha de Vigotski - EntrevistaVirgínia MachadoAinda não há avaliações