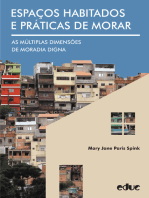Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
7 25 1 PB PDF
7 25 1 PB PDF
Enviado por
carolina_ptiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
7 25 1 PB PDF
7 25 1 PB PDF
Enviado por
carolina_ptiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
REFLEXES SOBRE O ESPAO,
O URBANO E A URBANIZAO
ESTER LIMONAD
Universidade Federal Fluminense
nossa inteno discutir se a urbanizao passvel de ser compreendida como
parte integrante do processo geral de estruturao da sociedade e do territrio. Um
processo onde as desigualdades geogrficas, econmicas, sociais etc... conjugadas
mobilidade espacial e setorial do trabalho contribuem para alterar o territrio,
subordinadas s necessidades de reproduo geral das relaes sociais e espaciais
de produo e ao desenvolvimento do meio tcnico-cientfico. Este processo que
gera fixos e fluxos tem uma resultante que se expressa espacialmente em duas
escalas: a cidade, na escala dos lugares; e a rede urbana, enquanto a manifestao
espacial da cooperao entre lugares (LOJKINE, 1981), na escala territorial. Isto
no significa dizer que a urbanizao em si seja um determinante maior ou menor,
mas sim um elemento que interage com outros na construo do espao, do urbano, que tende a ir alm das cidades.
Trataremos, portanto, da estruturao do territrio sob um olhar particular, especfico, todavia, ao mesmo tempo, amplo, concernente urbanizao enquanto
necessidade histrica para a reproduo das relaes sociais de produo numa
formao social e econmica especfica.
Para uma concepo ampliada da urbanizao
A negligncia com o espao, enquanto categoria de anlise, por parte da teoria
social em geral, e pelas cincias sociais em particular (exceto por raras excees
das contribuies dos leninistas, de Gramsci e da Escola de Chicago) e o desinte-
71
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
resse da Geografia para com as relaes sociais de produo e com a anlise dos
fenmenos sociais e econmicos, at a dcada de 60, deveu-se em boa parte
herana positivista de estanquizao do conhecimento em diferentes competncias.
Portanto, se as cincias sociais, a economia e outros ramos do conhecimento no
se preocuparam com a espacialidade das relaes sociais de produo, foi porque
no fazia parte das atribuies destes campos de conhecimento.
Algumas correntes de anlise, todavia, no deixaram o espao completamente
de lado. Entre elas a ecologia urbana da Escola de Chicago; as proposies de planejamento urbano e regional que despontaram entre 1930/50; a historiografia
regional e a produo dos Annales, que deu continuidade s tradies de Vidal de
La Blache; as teorias marxistas do imperialismo e os trabalhos de Gramsci sobre a
questo regional.
As abordagens que tentavam articular as categorias espao-tempo questionavam
as anlises historicistas e economicistas vigentes. Estas abordagens encaravam o
espao apenas como um elemento cultural, e portanto integrante da superestrutura
de uma sociedade e o urbano enquanto um mero somatrio de elementos ou um
espao marginal produo. Entre os pioneiros da articulao do tempo/espao,
em relao urbanizao, temos Henri Lefebvre, para quem o espao no se resumiria a um reflexo das relaes sociais de produo e a urbanizao, por sua vez,
enquanto processo de disseminao do urbano, que ampliava-se e generalizava-se
em escala mundial - deveria ser entendida enquanto expresso das relaes sociais
ao mesmo tempo em que incidiria sobre elas (LEFEBVRE, 1972).
O significado dos termos urbano e urbanizao para Lefebvre ia alm dos limites das cidades. Em seu entender a urbanizao seria uma condensao dos processos sociais e espaciais que haviam permitido ao capitalismo se manter e reproduzir
suas relaes essenciais de produo e a prpria sobrevivncia do capitalismo estaria baseada na criao de um espao social crescentemente abrangente, instrumental e mistificado (LEFEBVRE, 1991), na compreenso de que neste espao dialectizado (conflitual) que se realiza a reproduo das relaes de produo. este
espao que produz a reproduo das relaes de produo, introduzindo nela contradies mltiplas, vindas ou no do tempo histrico. (LEFEBVRE, 1973)
Pelo fato de Lefebvre colocar num mesmo plano o espao social e as relaes
sociais de produo, muitos interpretaram isto como uma tentativa de atribuir um
papel transformador ao espao. Lefebvre, todavia, no confere ao espao um papel
transformador, mas condicionador, regulador como fica claro na seguinte passagem:
As prticas espaciais regulam a vida - no a criam. O espao no tem poder em si
mesmo, nem o espao enquanto tal determina as contradies espaciais. Estas so contradies da sociedade - contradies entre uma coisa e outra no interior da sociedade, como por
72
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
exemplo entre as foras e as relaes de produo - que simplesmente emergem no espao, ao
nvel do espao, e assim engendram as contradies do espao (LEFEBVRE, 1974)
Para ele, assim, o espao socialmente produzido assume um papel interativo com as relaes sociais de produo. E a que relaes sociais de produo
Lefebvre se refere?
deve-se tomar como referncia no a produo no sentido restrito dos economistas - isto
, o processo de produo das coisas e de seu consumo -, mas a reproduo das relaes de
produo. Nesta ampla acepo, o espao da produo implicaria, portanto, e encerraria em
seu seio a finalidade geral, a orientao comum a todas s atividades dentro da sociedade
neocapitalista. Trata-se da produo no mais amplo sentido da palavra: produo das relaes sociais e reproduo de determinadas relaes . (LEFEBVRE, 1976)
Com isso sua proposio conquista uma amplitude maior do que a proposio
de Castells, que reduziu o urbano a uma ideologizao ao nvel do consumo,
enquanto um espao marginal produo.
A vinculao do espao em geral e do espao urbano em particular apenas
produo, segundo Lefebvre, implicaria apenas na reproduo dos meios de produo concernentes fora de trabalho e seria adequada a uma anlise do capitalismo
competitivo do sculo XIX e no atual etapa. Por outro lado, desde ento as condies gerais se transformaram, e hoje o sistema capitalista deve garantir sempre
alm da reproduo dos meios de produo, a reproduo das relaes sociais de
produo, efetivada atravs da totalidade do espao, na medida em que compreendem a reproduo do cotidiano em novos e antigos espaos, perpassados por diferentes tempos histricos - simultaneidades.
Para Lefebvre a reproduo ampliada e as novas condies materiais do capitalismo estariam intimamente relacionadas aos processos pelos quais o sistema capitalista como um todo consegue ampliar sua existncia atravs da manuteno e
disseminao scio-espacial de suas estruturas. Tanto a nvel da reproduo do
cotidiano, da reproduo da fora de trabalho e dos meios de produo quanto a
nvel da reproduo das condies gerais e das relaes gerais sociais de produo,
onde a organizao do espao passa a desempenhar um papel fundamental. Seria
no espao socialmente produzido, o espao urbano do capitalismo mesmo no
campo, onde se reproduziriam as relaes dominantes de produo atravs de um
espao social concretizado, criado, ocupado e fragmentado conforme as necessidades da produo e do capitalismo.
Nossa inteno trabalhar a compreenso do espao conjugada urbanizao, a
qual sugere um corte analtico onde a tradicional distino entre abordagens disciplinares ser absorvida por uma diferenciao epistemolgica. Esta ltima mais
73
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
genrica e fundamental e abriga uma discusso que ultrapassa o recorte disciplinar,
pois se a discusso sobre a urbanizao terica, o debate sobre o espao situa-se
no campo epistemolgico, por este no se constituir em um conceito, mas em uma
categoria do conhecimento.
No nossa inteno, todavia, proceder a uma discusso exaustiva e aprofundada. Isto j foi feito de diferentes maneiras, com distintos recortes por diversos
autores (Castells, Harvey, Soja e Lefebvre entre outros). Iremos, outrossim, selecionar exemplos representativos das diversas concepes para explicitar porque
entendemos a urbanizao enquanto parte do processo de estruturao do territrio, enquanto um processo histrico-espacial com desdobramentos scio-econmicos.
A vertente crtica
Elaborada desde o sculo XIX a partir da obra de Marx, a abordagem crtica
viu-se perante um desafio na medida em que a ampliao do capitalismo resultou
no surgimento de novas condies de reproduo das sociedades capitalistas no
sculo XX. A cidade e a urbanizao tornaram-se um enigma a ser desvendado e
um desafio para o paradigma crtico de filiao marxista; tratava-se de encontrar
uma resposta poltica apropriada a uma urbanizao crescente da economia e da
vida social e poltica em todos os aspectos e escalas.
At a dcada de 70 pouca ateno se deu, no mbito da teoria crtica, questo
do espao propriamente dito. O espao era visto como um continente ou um reflexo externo da dinmica social, que seria neutralizado em termos de sua interao
com os processos sociais e histricos.
A produo terica a partir da dcada de 70, sobre o espao e a urbanizao,
tanto a estruturalista quanto a de reao ao positivismo estruturalista, corporificouse em uma economia poltica da urbanizao e do desenvolvimento. A interdisciplinaridade epistemolgica levou a diferentes conceituaes e definies do espao
e do urbano e percepo das mudanas da urbanizao conforme o capitalismo se
ampliava e avanava, num constante processo de reestruturao e globalizao.
A cidade foi descoberta, inicialmente, como locus, espao, de reproduo da
fora de trabalho, da troca e do consumo. O planejamento urbano foi criticamente
examinado como instrumento de coero e normatizao do espao pelo Estado. A
ateno dos analistas transferiu-se dos locais de trabalho (fbricas) para os conflitos nos locais de reproduo e sobrevivncia da fora de trabalho (meio urbano,
habitao e equipamentos coletivos e servios de infra-estrutura) que se consolidaram em diversos estudos sobre os movimentos sociais urbanos reificados como a
nova forma de luta poltica por diversos estudiosos. Isto contribuiu para ampliar o
74
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
campo da anlise urbana em diversos segmentos preocupados principalmente com
a reproduo da fora de trabalho e o consumo coletivo.
Trajetria e principais contribuies
O historicismo na cincia social tradicional assumiu muitas verses distintas e
em todas a questo do espao permanecia como um apndice ou complicao. A
postura historicista tendia a bloquear o papel do espao social na estruturao do
territrio e a transform-lo no lugar do processo histrico. Igualmente, na vertente
crtica, os trabalhos de cunho historicista centraram-se na dinmica temporal e
ignoraram a dinmica espacial da modernizao e do modernismo, a despeito das
contribuies de Lenin (1913-1916), Luxemburgo (1972), Trotski (1978) para uma
teoria do desenvolvimento histrico e geograficamente desigual e combinado.
Os trabalhos de cunho economicista contriburam para minimizar tanto a reificao espacial fascista, inspirada num hipottico determinismo geogrfico de
Ratzel, quanto a reificao do espao proposta por Le Corbusier. Propiciaram,
tambm, que toda formulao que procurasse associar a dimenso espacial teoria
social crtica fosse descartada enquanto um fetichismo do espao e privilegiamento
de uma falsa conscincia, prpria do idealismo hegeliano, postura que se manteve
at os anos 70.
De certa forma a recuperao da discusso do espao na teoria crtica deve-se
em parte s contribuies do existencialismo marxista de Sartre e do estruturalismo de Althusser, ambas abertas para a questo do espao e que por seu antagonismo no concernente relao estrutura-sujeito contriburam para cindir o marxismo
francs aps 1945.
A abordagem estruturalista inspirou diversos estudos sobre o espao no mbito
de vrios corpos disciplinares, por fornecer um corpo epistemolgico que permitia
discutir as razes dos fenmenos e efeitos espaciais nas relaes sociais de produo, em particular por seus ataques ao historicismo e por sua abertura para a questo espacial. Esta abordagem contribuiu para as formulaes de Castells, para a
geografia marxista nascente se contrapor aos estudos positivistas e para abrir brechas no arcabouo anti-espacial elaborado pelos adeptos do historicismo e do economicismo.
Aps analisar a produo terica relativa urbanizao Castells define-a
enquanto uma noo ideolgica (CASTELLS, 1978);1 por partir da proposio que
1 ...a noo ideolgica de urbanizao refere-se ao processo atravs do qual uma proporo significativamente importante da populao de uma sociedade se concentra em um certo espao, no qual
se constituem aglomeraes funcional e socialmente interdependentes do ponto de vista interno, e em
relao de articulao hierarquizada (rede urbana). (CASTELLS, 1978)
75
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
esta refere-se tanto a formas espaciais quanto a um sistema cultural especfico, de
onde conseqentemente no haveria uma problemtica especificamente urbana.
Descarta-a, assim, enquanto objeto de estudo e prope que mais que falar de
urbanizao, trataremos do tema da produo social de formas espaciais
(CASTELLS, 1978), e reduz o urbano ao espao funcional onde se concentra uma
populao.
Atribuir uma especificidade ao urbano, em seu entender, equivaleria a recair na
ideologia da escola de Chicago, base de sua crtica a Lefebvre. Pois isto significaria tanto estabelecer a correspondncia entre formas ecolgicas e contedo cultural quanto sugerir uma ideologia da produo de valores sociais a partir de um
fenmeno natural de densificao e hetereogeneidade sociais (CASTELLS,
1978).
Ao reduzir a anlise da cidade esfera do consumo concentra-a na poltica
urbana do consumo coletivo e na mobilizao dos movimentos sociais urbanos, e
para tanto a situa em uma linha comum desde o ideo-eco-logismo da Escola de
Chicago at a obra de Lefebvre, a quem equipara aos culturalistas.
Para Castells admitir o urbano como um estilo de vida seria admitir o papel da
cultura, da superestrutura, na conformao das relaes sociais e obscureceria os
problemas sociais que se manifestavam nas cidades. Ao faz-lo, no entanto, deixou
de lado a possibilidade de considerar a existncia do urbano no no-urbano. Por
outra parte, admitir o papel da cultura iria contra as posturas epistemolgicas do
marxismo ortodoxo e do estruturalismo althusseriano, pois o econmico seria o
determinante em ltima instncia, ou seja, em ltima anlise isto representaria um
embate contra o primado do economicismo e do historicismo, to criticados por
Lefebvre. Anos mais tarde Touraine (1980) destacaria o papel da cultura na sociedade contempornea ao contestar o primado do econmico.
Aps a publicao da Questo Urbana de Manuel Castells (1972), Jean Lojkine
(1977) define, em contraposio a Castells, o urbano enquanto o lugar da produo
e da circulao necessrio para a reproduo das relaes sociais de produo onde
interviriam diversos agentes, em particular o Estado. As definies de ambos,
todavia a partir de um certo ponto de vista, podem ser vistas como complementares, alm de partilharem a perspectiva economicista.
Em decorrncia das proposies destes dois autores o urbano passou a ser visto
enquanto o produto do capital que requer uma organizao espacial e o lugar onde
os fatores de reproduo e demanda se concentram. Nesta perspectiva o espao foi
reduzido a mero suporte da circulao de capital, mercadorias e informao
enquanto o desenvolvimento das cidades estaria subordinado s necessidades da
circulao e subordinao do trabalho ao capital.2 (HARVEY, 1978)
A reduo da anlise marxista afirmao das determinaes estruturais ltimas
pode ser interpretada como a eliminao de toda especificidade histrica e geogrfica, o que conduz supresso da cidade e dos processos espaciais, entre eles a
urbanizao, como objeto de anlise. Muitos analistas chegaram a esta concluso
76
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
nos anos setenta. Nem teorica, nem empiricamente, a cidade era considerada um
objeto, mas a expresso de estruturas societrias mais amplas e profundas.
Enfim, Castells chega a colocar que necessrio substituir a dicotomia
rural/urbana por uma diversidade descontnua de formas espaciais e por uma pluralidade diferenciada de unidades de reproduo da fora de trabalho (CASTELLS,
1972). Porm permanece sua identificao com o urbano enquanto local de reproduo da fora de trabalho, por relacionar e identificar o modo de vida a uma instncia cultural e no ao quadro e condio de vida dos trabalhadores, definidos por
sua insero no processo produtivo.
Apesar de Castells, na dcada de setenta, no ver no urbano um objeto terico
especfico, no deixou de captar a nova problemtica urbana que emergia. Foi
Harvey, todavia, quem contribuiu para abrir uma nova fase na anlise da interao
entre o espao, o urbano e o processo de produo:
Primeiro, ao entrelaar o trabalhar e o viver e apontar que o capital domina o
trabalho no s no local de trabalho, mas tambm no espao de viver, atravs da
definio da qualidade e dos padres de vida da fora de trabalho (HARVEY,
1982), ou seja a luta entre capital e trabalho extrapola os locais de trabalho, sem
que as lutas nos locais de viver extrapolem as lutas nos locais de trabalho, elas
ocorrem simultaneamente.
Segundo, ao propor, com base nos Grundrisse de Marx, que a criao de novas
estruturas espaciais no seria um processo isento de contradies. Para Marx, o
capital no intuito de superar barreiras espaciais impostas pela propriedade fundiria e para suprimir o espao pelo tempo, procura criar graas ao avano tecnolgico novas estruturas mveis e fixas, meios de transportes, instalaes, meios de produo, as quais acabam por atuar, elas mesmas, como barreiras a serem superadas
num momento posterior. De onde Harvey conclui que:
O capital assim chega a representar-se a si mesmo na forma de uma paisagem fsica criada
a sua imagem, criada como valores de uso para aumentar a progressiva acumulao de capital
em uma escala crescente. A paisagem geogrfica que abarca o capital fixo e imvel simultaneamente a glria do desenvolvimento pretrito do capital e uma priso que inibe o avano
posterior da acumulao, porque a prpria construo desta paisagem antittica da destruio das barreiras espaciais e, enfim, inclusive da eliminao do fator espao pelo fator tempo
(HARVEY, 1978).
Em sociedades industriais e capitalistas, as cidades desenvolvem-se de acordo com as necessidades da circulao de capital e mercadorias, e com a subordinao do trabalho ao capital. Apresentamse a si mesmas como o lugar no qual os fatores de reproduo e demanda esto concentrados. Em tal
contexto, como foi claramente assinalado por Freitag, difcil falar de relaes sociais urbanas.
(LAMARCHE, 1977).
77
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
Ao inserir o meio urbano na paisagem geogrfica do capital como parte integrante do processo geral de reproduo das relaes sociais e condies gerais de
produo em escala ampliada, Harvey aponta para a constante construo e dissoluo de estruturas mveis e fixas, de espaos socialmente construdos, e conferelhes uma espacialidade complexa e contraditria - uma dimenso espacial em perptua transformao num processo dialtico e contraditrio, onde, apesar de necessrios, novos espaos tornam-se obstculos para espaos futuros.
Terceiro, ao situar a importncia da mobilidade espacial do capital e do trabalho
na conformao do territrio, no reduz a formao da paisagem apenas ao capital
mas aos movimentos do trabalho em sua luta contra os avanos do capital. O fato
do capital criar uma paisagem no pressupe que o trabalho a aceite passivamente,
isto portanto no significa dizer que o trabalho no pode vencer em aspectos particulares, nem implica a existncia de uma e apenas uma definio de valores de
uso para o trabalho, que se adapte aos interesses da acumulao (HARVEY,
1982).
A cidade, o espao urbano, assim passa a integrar a paisagem geogrfica do
capital enquanto parte necessria de um espao social complexo e pleno de contradies que simultaneamente estimula e obstaculariza o desenvolvimento e reproduo das relaes sociais de produo a nvel geral, num movimento de construo de novos espaos e destruio / apropriao de espaos pretritos.
A ampliao da temtica urbana, entre 1970/80, com nfase, ainda que limitada
nas relaes espaciais, constituiu uma ameaa ao primado do econmico e da produo em si, conjugada ao receio de se resvalar para o determinismo espacial.
Em conseqncia em uma parte dos estudos urbanos e regionais da dcada de
70 manifestou-se uma reafirmao do historicismo e economicismo onde o espao
passou a ser considerado como um produto das relaes sociais mais fundamentais de produo e das leis de movimento a-espaciais (mas, mesmo assim, histrica) do capital (SOJA, 1993), e um apndice interessante a ser considerado na anlise.
Muitos estudiosos reviram mais tarde suas posies e retornaram do historicismo teorizao do espao como Massey, Harvey e Smith. Se a defesa da perspectiva espacial no teve xito ao menos a anlise espacial marxista prosperou como
um adendo e nfase metodolgica.
Balano do debate da vertente crtica
A controvrsia entre gegrafos, socilogos, economistas polticos e tericos do
planejamento mobilizados para elaborar uma anlise crtica da urbanizao capitalista, sobre a possibilidade das formas sociais e espaciais urbanas constituirem-se
num objeto adequado de teorizao e anlise alimentou diversas discusses nas
duas ltimas dcadas. Parece-nos que este debate tem sua raiz exatamente no con78
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
fronto disciplinar com distintos vises analticos de um mesmo objeto, a partir de
uma mesma base terica, que procuravam enfatizar e privilegiar o que lhes parecia
crucial.
O althusserianismo de Castells levou-o a rechaar Lefebvre e atribuir-lhe uma
fetichizao do urbano. Porm, parece-nos que Lefebvre ao invs de fetichizar o
urbano desenvolvia uma tese mais geral, no compreendida ento por Castells, de
que as lutas contemporneas, sociais ou no, eram intrinsecamente disputas pela
produo social do espao, ao propor que se o espao se torna lugar da re-produo (das relaes de produo), torna-se tambm lugar de uma vasta contestao
no localizvel, difusa, que cria o seu centro s vezes num stio e logo noutro.
(LEFEBVRE, 1973).
Esta contestao, conforme Lefebvre, estaria ligada s necessidades de ocupao do mundo pelo crescimento econmico, pelo mercado e pelo Estado (capitalista
ou socialista) (LEFEBVRE, 1973). Nesta perspectiva os movimentos sociais
urbanos, definidos por Castells como uma nova forma de luta poltica, constituam
apenas uma parte da problemtica espacial mais ampla de Lefebvre, que manteve-se
como a nica voz discordante ao salientar a necessidade de uma problemtica espacial no marxismo contemporneo, por considerar que a transformao do capitalismo estaria relacionada a uma luta simultaneamente espacial e social, numa dialtica
horizontal e vertical, sem se poder aceitar a priorizao ou determinao de uma
sobre a outra.
Algumas destas anlises tendiam a reduzir a urbanizao a um fenmeno do
modo de produo capitalista, e esqueciam que antes do surgimento do capitalismo
j havia cidades e urbanizao, desde que existe uma diviso social e territorial do
trabalho. No se trata, obviamente, sempre da mesma urbanizao. No decorrer do
processo histrico ela muda de qualidade e significado conforme se transforma o
meio tcnico-cientfico. Ou seja, a estruturao do territrio, da qual a urbanizao
parte integrante, no esttica, mas muda de carter em termos de peso e significado/qualidade.
O que no se percebia que a urbanizao, longe de ser um processo autnomo,
era parte integrante e essencial da produo do espao pelo capitalismo, ao mesmo
tempo em que obstacularizava seu desenvolvimento num movimento dialtico.
Se, durante o capitalismo competitivo, pouca importncia foi atribuda, ao contexto urbano, isto mudou de figura com a reproduo ampliada, globalizao da
economia e desenvolvimento do meio tcnico-cientfico, que intensificou a concentrao de capital nos centros industriais e criou uma presso crescente por parte
do capital e da fora de trabalho por investimentos em infra-estrutura, melhoria da
habitao, servios, etc... Era necessrio reorganizar o espao urbano e tornar os
sistemas urbanos eficazes tanto para implementar a acumulao de capital quanto
para apaziguar a inquietao social. Neste sentido, o Estado desempenhou um
papel chave no (re)planejamento das cidades e em sua adequao s novas necessidades que se antepunham ao desenvolvimento do capitalismo.
79
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
A discusso da propriedade da insero do espao na teoria social crtica prosseguiu com novas contribuies de gegrafos (Harvey, Soja, Santos e outros), a despeito da controvrsia gerada por Castells, criticado por Lojkine e outros autores. O
espao enquanto categoria de anlise acabou por ser incorporado, ainda que parcialmente, por alguns socilogos como Giddens, Urry e mesmo Castells. Este, no
seu trabalho sobre a cidade e os movimentos de base (grassroots) quase acolhe as
proposies de Lefebvre, ao colocar que o espao no um reflexo da
sociedade, ele a sociedade; e a ao social sobre o espao ser exercida numa
forma espacial j herdada, produto da histria anterior e sustentculo de novos
interesses, projetos e sonhos (CASTELLS, 1983). .
Harvey e Castells convergem em sua crtica a Lefebvre e ao procurarem delimitar a anlise espacial enquanto uma reao aparente excessiva centralidade e
autonomia conferida por Lefebvre problemtica do espao urbano, a qual lhes
parecia relegar a um segundo plano as relaes sociais de produo (produo e
circulao, reproduo) e do capital industrial, submersas pelas relaes sociais
espaciais da produo e do capital financeiro. Ambos, todavia, reconhecem a contribuio de Lefebvre para a compreenso da organizao do espao como produto
material e do contedo ideolgico do espao social. Ou seja, conforme Soja, em
sua conceituao do urbanismo, Lefebvre lhes parecia estar substituindo o conflito
de classes pelo conflito espacial / territorial como fora motivadora da transformao social radical (SOJA, 1993).
Lefebvre em sua obra sobre a produo do espao, entretanto, no coloca a luta
de classes e as relaes de produo num plano secundrio em relao s relaes
espaciais de produo, mas num mesmo plano, e no limita a reproduo geral das
relaes sociais de produo apenas a uma esfera (da produo, da circulao ou do
consumo). Para Gottdiener (1993) o problema residiria no fato de Harvey e Castells
haverem trabalhado com obras de Lefebvre anteriores Produo do Espao, onde
Lefebvre delineia melhor suas proposies. A raiz do equvoco segundo Soja, estaria na incapacidade dos analistas marxistas de avaliarem o carter essencialmente
dialtico das relaes sociais e espaciais, bem como de outras esferas estruturalmente ligadas, como a produo e o consumo. (SOJA, 1993).
A discusso, assim, ao invs de trabalhar a nvel de uma dialtica scio-espacial, atravs da oposio, unidade, contradio e complementariedade, voltou-se
para um debate de categorias relativas primazia do social sobre o espao. Neste
sentido a dialtica scio-espacial, conforme Soja, no se enquadraria nem na alternativa da organizao do espao (no contexto do urbanismo) ser uma estrutura
separada, com suas leis prprias de transformao interna e construo nem a
expresso de um conjunto de relaes inserido numa estrutura mais ampla (como
as relaes de produo), ambas propostas por Harvey (SOJA, 1993).
80
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
Urbanizao e estruturao do territrio
A partir da trajetria examinada podemos reafirmar que as relaes sociais de
produo no se processam no vazio, mas em espaos determinados e assumem
um carter espacial; as relaes espaciais de produo (horizontais) so vazias de
significado sem relaes sociais de produo (verticais) que as qualifiquem. H
que se perceber o carter dialtico destas relaes onde uma pressupe a outra,
ambas dialeticamente inseparveis interdependentes e contraditrias.
Para superar a tendncia da postura historicista, em bloquear o papel do espao
social no territrio e reduzi-lo ao papel do lugar do processo histrico, h que se
considerar uma srie de premissas, conforme Soja, nas quais operamos algumas
modificaes:
1. O espao social produto de uma sociedade; como tal ao mesmo tempo
meio e resultado das aes e relaes sociais, o que lhe confere um carter dialtico. A estruturao espao-temporal da vida cotidiana interfere e condiciona
a concretizao e constituio das aes e relaes sociais.
2. A constituio do espao socialmente produzido plena de contradies e
lutas, muitas rotinizadas no cotidiano, decorrentes do carter dialtico de sua
produo, atravs da atividade social e econmica, por ser simultaneamente
suporte, meio, produto e expresso da reproduo das relaes sociais de produo em escala ampliada, o que confere a estas relaes um carter espacial
necessrio.
3. O espao socialmente produzido simultaneamente fruto das tenses entre
capital e trabalho e de estratgias de luta pela reproduo do capital e do trabalho, bem como de prticas sociais organizadas que visam antagonicamente
quer a manuteno do espao social existente, quer uma transformao radical
deste espao.
4. O espao socialmente produzido condensa em si desde a quotidianeidade do
viver at a histria, nele se mesclam marcas de tempos passados e persistem e
coexistem, conforme o caso, formas capitalistas e pr-capitalistas de produo.
Neste sentido no h como realizar uma interpretao materialista da histria
sem uma concomitante interpretao do espao social e vice-versa.
A produo do espao social e os processos histricos e sociais no se desenrolariam alheios entre si, mas num jogo de interao, oposio, contradio. Por conseguinte, a estruturao do territrio poderia ser definida dialeticamente como um
elemento substantivo das relaes gerais de produo simultaneamente sociais e
espaciais, necessria para o prprio processo de produo no arranjo dos territrios
e na distribuio desigual e hierarquizada das classes sociais e das atividades produtivas no espao que levam a uma diferenciao social e espacial que contribui
81
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
para um desenvolvimento desigual e combinado em diferentes escalas, a nvel
espacial e de relaes de dominao.
Neste sentido a urbanizao seria uma forma de estruturao do territrio, onde
o peso dos lugares varia historicamente em funo dos condicionantes e processos
sociais, econmicos, polticos, e por vezes culturais que tomam corpo. E a rede
urbana seria a expresso cristalizada de diferentes estruturaes do espao em diferentes tempos histricos.
Isso nos leva a adotar a concepo ampliada de urbanizao, proposta por
Giddens (1989), que a partir da compreenso de que o espao no deve ser entendido apenas como algo (um continente) a ser preenchido por populaes organizadas social, econmica e politicamente, define a urbanizao enquanto o processo
social de maior significncia na estruturao do territrio. Soja amplia esta proposio ao afirmar que
A urbanizao pode ser vista como uma de vrias grandes aceleraes do distanciamento
espao-tempo ... A especificidade do urbano definida, pois, no como uma realidade separada, com suas prprias regras sociais e espaciais de formao e transformao, ou meramente
como um reflexo e uma imposio da ordem social. O urbano uma parte integrante e uma
particularizao da generalizao contextual mais fundamental sobre a espacialidade da vida
social... Em sua...especificidade social, o urbano permeado por relaes de poder, relaes
de dominao e subordinao, que canalizam a diferenciao regional e o regionalismo, a
territorialidade e o desenvolvimento desigual, e as rotinas e revolues, em muitas escalas
diferentes. (SOJA, 1993).
A escala territorial da urbanizao
A maioria das concepes de urbano e urbanizao enfocadas converge para
duas vises polares: o urbano enquanto lugar da reproduo da fora de trabalho e
das relaes sociais no cotidiano que se expressam atravs do consumo; e o urbano
enquanto lugar da reproduo das relaes sociais de produo na perspectiva da
reproduo dos bens de produo.
Lefebvre, por sua vez, chama a ateno para o fato de que o urbano o espao
onde se processam estas duas esferas de reproduo, que historicamente se concatenam em diferentes graus e intensidades conforme o estgio de desenvolvimento
das foras produtivas, concernente principalmente ao desenvolvimento do meiotcnico-cientfico. O territrio, todavia, no apenas o continente destas relaes;
para Lefebvre o carter espacial destas relaes cria historicamente um espao
social que condiciona o desenvolvimento futuro destas relaes.
82
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
Durante o capitalismo competitivo o espao urbano condensou e concentrou
estas duas esferas de reproduo, dadas as limitaes do meio tcnico-cientfico
em termos de transportes e comunicaes. Hoje, entretanto, pode-se observar a
tendncia separao crescente entre as localizaes espaciais destas duas esferas
de reproduo. (CASTELLS e HALL, 1994).
As transformaes em curso e seus desdobramentos para a anlise urbana
O problema que se impe no presente o teor das transformaes na matriz
espacial - temporal da organizao social, empresarial e territorial decorrentes das
revolues informacional, gentica e energtica, que tendem a tornar nosso instrumental analtico obsoleto e contribuem para gerar um novo paradigma que nos
leva a considerar o urbano em escala territorial.
A resultante fragmentao espacial de empresas e de grupos sociais articulados
mediante a formao de novas redes d margem ao surgimento de novas solidariedades e territorialidades, as quais incidem diretamente sobre a distribuio das atividades produtivas e da populao no territrio.
No mbito da distribuio das atividades produtivas, conduzem a uma reestruturao horizontal e vertical da produo que resulta em uma reestruturao territorial, com uma abrangncia da escala global local.
No mbito da distribuio da populao, contribuem para alterar substancialmente as condies de vida de diferentes assentamentos em diversos pontos do territrio, em funo seja de sua localizao estratgica frente s novas redes de
comunicao e transportes, seja pela integrao e/ou no integrao aos fluxos
empresariais e da produo.
Pode-se dizer que as transformaes em curso representam novas estratgias
para a acumulao e criam novas condies para a mobilidade do capital e novos
obstculos mobilidade espacial da fora de trabalho.
Anlises recentes (Storper, Walker, Scott, Lipietz, entre outros) caracterizam a
nova distribuio das atividades produtivas enquanto um dos fatores da reestruturao territorial. Seu recorte analtico leva-as a privilegiar os aspectos e efeitos da
reestruturao vertical (escala hierrquica de produo) e horizontal (amplitude
espacial) da produo nas empresas, nas relaes de trabalho e seus desdobramentos espaciais (territoriais) atravs da terciarizao, da formao de novas redes
empresariais e das novas localizaes. Dada sua nfase na esfera da produo e
circulao, a maior parte destes trabalhos desconsidera o que acontece em termos
da distribuio da populao (trabalhadores urbanos, agrcolas, empresrios, etc.).
83
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
Condicionantes da estruturao territorial
As transformaes scio-espaciais na distribuio das atividades produtivas e da
populao, materializadas espacialmente enquanto formas de desenvolvimento
urbano, em diferentes nveis e escalas, seriam resultantes tanto da lgica da ao
do Estado, de distintos capitais (empresas), entre eles o industrial, agro-industrial e
em particular o imobilirio, quanto das estratgias de localizao e distribuio da
fora de trabalho.
H que se considerar que na estruturao territorial - distribuio das atividades
produtivas e da populao (diferentes classes sociais) - interferem, alm da ao
das empresas e das diferentes classes sociais, de distintas maneiras, trs lgicas
ligadas ao: do Estado, do setor imobilirio e da capitalizao da agricultura,
entre outras.
A ao destas lgicas isoladas ou combinadas, conforme a conjuntura e as especificidades de cada lugar, tende a gerar um novo padro de liberao da fora de
trabalho, que foge ao esquema clssico de proletarizao total, caracterstico das
etapas anteriores do capitalismo.
Os pequenos proprietrios e trabalhadores liberados das relaes tradicionais
de produo ao invs de se dirigir, conforme o processo clssico, para as cidades e
se assalariar em atividades urbanas, tendem a se ocupar em atividades rurais e
urbanas e tornar-se uma fora de trabalho sazonal dedicada tanto a atividades urbanas quanto primrias. Contribuem, assim, para alterar o padro de assentamento
nas pequenas, mdias e grandes aglomeraes urbanas seja ao manter suas pequenas propriedades seja ao tender a se localizar nas periferias urbanas ou em pequenos aglomerados. (SANTOS, 1993).
A lgica do setor imobilirio acirra estes movimentos. A perspectiva de usos
potenciais propicia a valorizao do solo em reas urbanas e rurais o que leva a
uma expulso dos trabalhadores urbanos das cidades e dos trabalhadores rurais das
reas agrcolas. Resulta da tanto um aumento da populao rural em reas urbanas
situadas em reas onde a produo agrcola se capitaliza, quanto uma tendncia a
trabalhadores urbanos se radicarem em reas rurais3
Tais movimentos estariam ligados a estratgias de sobrevivncia e a mobilidade
espacial da fora de trabalho. Isto vai ao encontro da hiptese alternativa ao modelo
clssico marxista de proletarizao total e liberao repentina dos meios de produo
e conformao de um exrcito industrial de reserva tipicamente urbano proposta por
Becker (1988) a partir da anlise dos processos espaciais na fronteira. Na atual etapa
do capitalismo e de conformao de complexos agroindustriais a mobilidade espacial
e setorial do trabalho passaria a ser uma condio necessria para a constituio de
Processos descritos por BECKER (1982) e MACHADO (1982, pp. 182-183) para reas de fronteira
e por SANTOS, (1993) com relao s agrovilas.
84
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
um mercado de trabalho regional na fronteira. Oliveira (1977) j assinalara a tendncia fluidez do exrcito industrial de reserva entre as atividades rurais e urbanas.
O estudo da urbanizao no atual momento, portanto, deve contemplar o papel
da mobilidade do capital e do trabalho, na medida em que sua intensificao contribui para alterar a distribuio das atividades produtivas e das diversas classes
sociais no territrio.
A mobilidade do trabalho constitui-se, segundo Gaudemar (1976), em condio
necessria, seno suficiente da gnese do capital e indcio de seu crescimento;
expressa na (re)produo da fora de trabalho, em sua utilizao no processo produtivo, em sua circulao espacial e ocupacional, e em sua liberao que compreenderia tanto a transformao do campesinato em trabalhadores assalariados
rurais e/ou urbanos quanto a constituio de camadas intermedirias. Configura-se,
portanto, como fruto das estratgias de diversos agentes sociais, entre eles o
Estado e as empresas, para moldar mercados de trabalho regionais.
A livre mobilidade espacial da fora de trabalho e sua fcil adequao constituise em condio necessria circulao do capital no espao. Paradoxalmente, por
preferirem uma parcela da fora de trabalho estvel num territrio delimitado, os
capitalistas individuais tendem a apoiar aes estatais que restrinjam a livre mobilidade da fora de trabalho (HARVEY, 1985).
As transformaes recentes, a reengenharia industrial, acompanhada da modernizao da agricultura aumentaram a mobilidade setorial e espacial do trabalho e
fragmentaram a estrutura de classes com uma ampliao da margem de pobreza.
Na atual conjuntura a existncia de uma fora de trabalho polivalente coloca um
limite proletarizao total e torna-se condio necessria para a organizao de
um mercado de trabalho regional. A mobilidade espacial e setorial da fora de trabalho, concretizada em ocupaes sazonais possibilita a complementao da renda
dos trabalhadores e permite compatibilizar a contradio entre a necessidade de
atrair fora de trabalho sem lhe dar legalmente a terra e a necessidade de dar a terra
para produo de alimentos (subsistncia) e diminuir as tenses sociais.
Os trabalhadores para melhorar seus salrios e condies de vida e trabalho
podem se organizar coletivamente, construir suas prprias infra-estruturas sociais e
fisicas, lutar pelo controle do aparato de estado, e conforme obtenham sucesso vemse em condies de suportar restries livre mobilidade geogrfica da fora de trabalho. Caso contrrio, tendero a buscar maximizar sua mobilidade espacial atravs
de migraes. Em caso de sucesso das reivindicaes dos trabalhadores em espaos
delimitados, o capital tende a se evadir gradativamente e migrar para outras reas.
Em sntese, frente s novas condies espaciais da produo os diversos capitais
buscam maximizar suas respectivas mobilidades e tornar-se quase que independentes do espao, enquanto os trabalhadores procuram maximizar sua mobilidade
espacial atravs de diferentes estratgias no mbito das relaes de trabalho e de
sobrevivncia no cotidiano. Temos, assim, movimentos antagnicos, entre capital e
trabalho e entre diferentes capitais, para maximizar suas respectivas mobilidades,
85
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
mediados pela ao do Estado em dotar o espao de infra-estrutura (meios de abastecimento e comunicao).
Esferas de (re)produo e urbanizao
Essas mobilidades traduzem-se em duas esferas de (re)produo voltadas para a
satisfao das necessidades respectivamente do capital e da fora de trabalho,
ambos com diversas fraes com distintas lgicas e movimentos, que se concretizam espacialmente na produo de distintos espaos de trabalho e vida, que atravessam a esfera de reproduo social no cotidiano.
A urbanizao, assim, hoje, poderia ser compreendida como a concatenao e
concretizao espacial destes movimentos, de reproduo e distribuio das atividades produtivas e da populao, em disputa pelo espao, que sob o capitalismo
traduzem-se nas estratgias do capital e do trabalho para garantir suas respectivas
reprodues. As diferenas de intensidade e de articulao entre estes processos
variam historicamente e conformam a estruturao da produo e do territrio.
A urbanizao, via de regra, enfocada como resultante de um destes processos
de reproduo, preferencialmente o da reproduo das relaes de produo, que
so hegemnicas. Se estas esferas de (re)produo caminharam combinada e antagonicamente em um espao comum durante o capitalismo competitivo, hoje h
uma tendncia a maximizar sua separao. O desenvolvimento do meio tcnicocientfico propicia que deixe de haver necessariamente uma coincidncia espacial no
territrio destas duas esferas, que tendem a se tornar independentes da aglomerao.
Estes movimentos conjugados s lgicas abordadas (do Estado, do capital imobilirio e agro-industrial) e o desenvolvimento do meio tcnico-cientfico, tendem a
gerar uma excluso social e espacial dos trabalhadores e uma fragmentao do espao que se expressa em uma diferenciao e especializao dos lugares a nvel territorial, com cidades voltadas ou para a produo, o consumo ou a moradia. Parece-nos,
portanto, que a conjugao destes dois movimentos (do capital e do trabalho) resulta
em uma estruturao do territrio que atinge as velhas formas de urbanizao.
A disseminao no territrio de relaes espaciais e sociais de produo de
carter urbano - enquanto relaes que o capital (entendido aqui enquanto um conjunto de diferentes capitais em disputa pela hegemonia) e o trabalho (entendido
aqui enquanto um corpo de diferentes categorias sociais) travam com o meio (o
espao) para garantir suas respectivas reprodues e necessidades - tende a conferir ao urbano uma amplitude territorial; isto , uma amplitude que transcende
(ultrapassa) aquilo que percebemos como permetro urbano.
O urbano poderia, assim, ser considerado no-simultaneamente tanto o lugar da
reproduo das relaes de produo, referentes aos bens e meios de produo,
quanto o lugar da reproduo da fora de trabalho.
86
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
O confronto entre estas esferas antigo, no se trata de resolv-lo aqui. Para a
anlise da urbanizao ser completa, deveria abranger estes dois movimentos.
Tomar em conta apenas o lado da produo significaria reduzir a urbanizao a
uma determinao do econmico e atribuir a estruturao do territrio apenas
esfera da produo. O mesmo vale em contrapartida se considerarmos apenas os
aspectos ligados populao. Entretanto no podemos desconsiderar a farta produo terica sobre a estruturao territorial do ponto de vista da produo.
A nvel do capital o urbano se espraia como novas formas de apropriao e ocupao do espao, que resulta em uma estruturao territorial da produo. A nvel da
fora de trabalho o urbano dissemina-se como um modo de vida, que tem por base o
quadro de vida dos trabalhadores e sua efetiva insero na produo e que conduz a
uma redistribuio territorial da populao. A combinao desta estruturao e distribuio transforma a face do territrio e engendra (nov)os padres de urbanizao.
Os lugares da urbanizao
O entrelaamento e encontro espacial das diferentes lgicas apontadas e dos
movimentos das esferas de reproduo (de diversos capitais, por vezes em conflito,
e de diversas classes e fraes de classe sociais com interesses distintos) em confronto pelo espao propicia o surgimento, em diferentes escalas, de pontos (lugares) no territrio, o que vai ao encontro da proposio de Santos de que cada
lugar ... ponto de encontro de lgicas que trabalham em diferentes escalas, reveladoras de nveis diversos, e s vezes contrastantes ... (SANTOS, 1994).
Estes pontos (lugares) - atravs de suas interaes ou no-interaes e de seus
desenvolvimentos variveis, em uma rede espacial de pontos especializados hierrquicos e multiestratificados - contribuem para a regionalizao do territrio e da
sociedade. Esta regionalizao, segundo Giddens, constituir-se-ia em torno das
conexes, tanto de interdependncia quanto de antagonismo, entre a cidade e o
campo (GIDDENS, 1989). conforme se configuram o que caracteriza como contextos de co-presena, definidos por modos variveis de interseo de presena e
ausncia de integrao social.
Consoante com esta perspectiva, os lugares poderiam ser considerados uma
manifestao espacial da apropriao do espao e da natureza pelo homem, que
inseparvel da transformao da sociedade no tempo e no espao; enfim, poderiam
ser entendidos como pontos de concentrao de condies gerais.
Estes pontos tornam-se lugares ao permitirem que haja um entrelaamento e
aglomerao de atividades permanentes e estveis que os tornem centrais, nodais,
estratgicos, para as interaes intra-territoriais e para as diferentes lgicas que
estruturam o territrio em tempos histricos delimitados. Na escala intra-urbana,
historicamente, os pontos predominantes da co-presena social (Giddens) seriam
os lugares de residncia e de trabalho. Se em contextos menos modernos esses
locais so concentrados em contextos mais avanados ou em transformao, ten87
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
dem a se distanciar e se separar, em escalas que vo do local ao territorial. Neste
sentido estas localidades constituiriam a base da urbanizao. Assim,
As vilas e cidades podem ser descritas como localidades que abrangem contextos, recintos
e concentraes nodais da interao humana, ligados integrao social e dos sistemas e,
por conseginte, a redes mltiplas de poder social. No contexto do mundo contemporneo, a
localidade pode ir desde os menores povoados ou bairros at as maiores conurbaes (SOJA,
1993).
Estes lugares, pontos nodais, todavia, podem no se converter em aglomeraes
urbanas, e isto ir depender necessariamente dos graus e tipos de interaes que
estabeleam entre si e outras reas do territrio, em diferentes nveis e escalas.
As escalas da urbanizao
Giddens relaciona o espao e a urbanizao ao afirmar que o espao no uma
dimenso vazia ao longo da qual agrupamentos sociais vo sendo estruturados,
mas deve ser considerado em funo do seu envolvimento na constituio de sistemas de interao (GIDDENS, 1989). O espao se transforma conforme se desenvolve o meio tcnico-cientfico e modificam-se as formas de apropriao da natureza pelo homem. Em um determinado momento histrico temos a cidade limitada
aglomerao fsica, e com uma identidade comum ao urbano. Todavia, concordamos com Giddens que
Tais cidades, (...) no existem ainda no tempo e espao mercantilizados. A compra e venda
do tempo - como tempo-trabalho - certamente um dos mais marcantes traos do capitalismo
moderno... A mercantilizao do tempo, engrenada aos mecanismos da produo industrial,
pe por terra a diferenciao da cidade e do campo, caracterstica de sociedades divididas
em classes... Junto com a transformao do tempo, a mercantilizao do espao estabelece
um ambiente criado de carter distinto - expressando novas formas de articulao institucional. Tais novas formas de ordem institucional alteram as condies de integrao social e
do sistema, e portanto modificam a natureza das conexes entre o prximo e o remoto no
tempo e no espao (GIDDENS, 1985).
As transformaes presentes do meio tcnico cientfico, dos novos meios de
comunicao e transporte, ao vencer o espao pelo tempo favorecem uma crescente desaglutinao espacial de atividades e permitem uma separao de locais de
trabalho, residncia e consumo em uma escala mais ampla do que a cidade pro-
88
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
priamente dita. Tende a diminuir a necessidade de diversas pessoas trabalharem
num mesmo local para uma empresa funcionar, e o mesmo no concernente s suas
moradias. E tende a aumentar a dissoluo entre o rural e o urbano.
Ocorre uma especializao (separao) de lugares na escala do territrio com a
multiplicao de ncleos dormitrio, centros de consumo e centros de produo
no necessariamente coincidentes e aglutinados.
A urbanizao, assim, tende a deixar de estar relacionada apenas urbe, ao
urbano, cidade, aglomerao de pessoas, equipamentos e infra-estruturas. A
urbanizao tende a assumir uma forma pulverizada em segmentos dispersos e
conquista desta maneira fragmentada a escala do territrio - e passa a se referir
tambm a processos gerais e scio-econmicos no meio rural (se que ainda hoje
podemos falar de uma dicotomia rural-urbano).
O urbano torna-se uma parte integrante e uma particularizao da generalizao mais contextual mais fundamental sobre a espacialidade da vida social, a de
que ocupamos uma matriz espacial multiestratificada de locais nodais (SOJA,
1993). e passa a estar relacionado a um modo de vida, enquanto quadro e condio
de vida (insero no processo produtivo), no na acepo restrita de Wirth, e sim
numa acepo mais ampla, onde no s a cultura mas outros fatores sociais, econmicos, polticos e espaciais interferem nas relaes que os homens travam entre si
e o meio em que vivem. A aglomerao no deixa de ser importante, porm, sua
permanncia depender do desenvolvimento do meio tcnico-cientfico e das
transformaes das relaes de trabalho e de vida.
Neste sentido concordamos com a proposio de Santos de que:
Estaramos, agora, deixando a fase da mera urbanizao da sociedade, para entrar em
outra, na qual defrontamos a urbanizao do territrio. A chamada urbanizao da sociedade
foi o resultado da difuso, na sociedade, de variveis e nexos relativos modernidade do presente, com reflexos na cidade. A urbanizao do territrio a difuso mais ampla no espao
das variveis e dos nexos modernos (SANTOS, 1993).
As cidades seriam, neste contexto, mais que um meio fsico, aglomeraes
nodais especializadas, socialmente criadas, parte de um sistema multiestratificado
de pontos nodais e de uma configurao raras vezes hierrquica de locais diferenciados, cujas formas e funes variam tanto no tempo quanto nos lugares.
Se as cidades como as conhecemos tendem a desaparecer, se a organizao
espacial da populao e das atividades produtivas est em transformao em todas
as escalas em diversos pontos, isto resultaria no surgimento de novos padres de
assentamento e distribuio da populao e das atividades produtivas, ou seja, de
novos padres de urbanizao.
89
GEOgraphia Ano 1 No 1 1999
Limonad
REFLEXES SOBRE O ESPAO, O URBANO E A URBANIZAO
Resumo: Trata-se de discutir se a urbanizao passvel de ser compreendida como parte do
processo geral de estruturao da sociedade e do territrio. Um processo onde as desigualdades sociais e espaciais conjugadas mobilidade espacial e setorial do trabalho contribuem para alterar o territrio. Este processo que cria fixos e fluxos tem uma resultante espacial em duas escalas: a cidade,
na escala dos lugares; e a rede urbana, enquanto a manifestao espacial da cooperao entre lugares,
na escala territorial. Isto no significa dizer que a urbanizao em si um determinante maior ou
menor, mas um produto de prticas socais que interage com outros fatores na construo do espao
social alm das cidades.
Palavras-chave: Urbanizao, Reproduo espacial, Reestruturao
REFLECTIONS ON SPACE, URBAN AND URBANIZATION
Summary: Our goal is to argue whether the urbanisation could be understood as a part of society
and territory general structuring process. A process where the social and spatial inequalities articulated to spatial and sectorial mobility of labor contribute to transform the territory. This process that
creates fix and flows has an spatial outcome in two scales: the city at the place scale and the urban
network, as a spatial manifestation of the cooperation among places, at the territorial scale. Not
meaning that urbanization by itself is a major or minor determinant, but a social practices product,
which interacts with other factors on the construction of social space beyond the cities.
Keywords: Urbanization, Space reproduction, Restructuring
BIBLIOGRAFIA
BECKER, B.K. (1982): The State and the Land Question on the Frontier. In:
Contribution to the Latin American Regional Conference. Rio de Janeiro:
IGU - IBGE.
CASTELLS, M. (1978) [1972]: La Cuestin Urbana. Mxico: Siglo Veintiuno.
____ (1983): The City and the Grass Roots. Los Angeles: University of California.
CASTELLS, M. & HALL, P. (1994): Technopoles of the World. Londres:
Routledge.
GAUDEMAR, J. (1976) [1979]: Movilidad del Trabajo y acumulacion de capital.
Mxico: Era.
GIDDENS, A. (1989): A Constituio da Sociedade. So Paulo: Martins Fontes.
____ (1985): Time, Space and Regionalisation. In: GREGORY, D. e URRY, J.
(ed.): Social Relations and Spatial Structures. Londres: MacMillan,
Cambridge.
HARVEY, D. (1978): La Geografia de la acumulacion capitalista: una reconstruccin de la teoria marxista. In: GARCIA, M.D. (ed.). La Geografia Regional
Anglosajona. Bellaterra: Universidad Antonina de Barcelona.
____ (1982): O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente
construdo nas sociedades capitalistas avanadas. Espao & Debates. So
Paulo: Cortez, ano II, n 6, jun-set, pp. 6-35.
90
Reflexes Sobre o Espao, O Urbano e a Urbanizao
____ (1985): The Geopolitics of Capitalism. In: GREGORY, D. e URRY, J. (ed.).
Social Relations and Spatial Structures. Londres: Mac Millan, Cambridge.
LAMARCHE, F. (1977): Property development and the economic foundations of
the urban question. In: PICKVANCE, C.G. (ed.): Urban Sociology: critical
essays. Londres: Tavistock Publications.
LEFEBVRE, H. (1972) [1970]: La Revolucin Urbana. Madrid: Alianza.
____ (1976) [1972]: Espacio y Politica. Barcelona: Peninsula.
____ (1973): A Re-Produo das Relaes de Produo. Porto, Escorpio (1 parte
de La Survie du Capitalisme). Paris: Anthropos.
____ (1991) [1974]: The Production of Space. Oxford (R.U.) e Cambridge (EUA):
Blackwell.
LOJKINE, J. (1981): O Estado Capitalista e a Questo Urbana. So Paulo:
Martins Fontes.
MACHADO, L.O. (1982): Urbanization and Migration in Legal Amazonia. In:
Contribution to the Latin American Regional Conference. Rio de Janeiro:
IGU - IBGE.
OLIVEIRA, F. (1977): A Economia da Dependncia Imperfeita. Rio de Janeiro:
Graal.
SANTOS, M. (1993): A Urbanizao Brasileira. So Paulo: Hucitec.
____. (1994): Tcnica, Espao, Tempo. So Paulo: Hucitec.
SOJA, E. (1993): Geografias Ps-Modernas - a reafirmao do espao na teoria
social crtica. Rio de Janeiro: Zahar.
91
Você também pode gostar
- Opusculo 18 - Entre Casa e Cidade PDFDocumento20 páginasOpusculo 18 - Entre Casa e Cidade PDFSara CostaAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- São Paulo Segregação Urbana Flavio VillaçaDocumento22 páginasSão Paulo Segregação Urbana Flavio VillaçaRogério MarquesAinda não há avaliações
- O Espaço Da DiferençaDocumento7 páginasO Espaço Da DiferençaPaula AzevedoAinda não há avaliações
- Movimento Moderno e Habitação Social No Brasil PDFDocumento15 páginasMovimento Moderno e Habitação Social No Brasil PDFLudmila ReisAinda não há avaliações
- Teorias Da Cidade: A Recepção No BrasilDocumento18 páginasTeorias Da Cidade: A Recepção No BrasilEduardo BitencourtAinda não há avaliações
- Sociologia Urbana - Prof. BrasilmarDocumento6 páginasSociologia Urbana - Prof. Brasilmarluanamdonascimento100% (1)
- O Adeus Às Metanarrativas EducacionaisDocumento13 páginasO Adeus Às Metanarrativas EducacionaisMárcio Diniz100% (2)
- (E-Book) ANALISE - DE - DISCURSODocumento248 páginas(E-Book) ANALISE - DE - DISCURSOEduardo BrasilAinda não há avaliações
- Cidade Dual Morumbi Favela ParaisópolisDocumento15 páginasCidade Dual Morumbi Favela ParaisópolisAna Paula Nunes ChavesAinda não há avaliações
- Cidade Cultura e Global I ZaoDocumento264 páginasCidade Cultura e Global I ZaoArquitetandossa100% (1)
- 2017 TESE Bernardo Pereira de Sá Filho ProstitucaoDocumento183 páginas2017 TESE Bernardo Pereira de Sá Filho ProstitucaoM Sousa Rodrigues100% (1)
- Brasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXINo EverandBrasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXIAinda não há avaliações
- A Polêmica Paulo Freire e Ivan Illich Notas Sobre Educação e TransformaçãoDocumento19 páginasA Polêmica Paulo Freire e Ivan Illich Notas Sobre Educação e TransformaçãoLuiz Lourenço100% (3)
- Louis Althusser, Étienne Balibar & Roger Establet - Ler O Capital - Volume 2 - OCR - CompressedDocumento326 páginasLouis Althusser, Étienne Balibar & Roger Establet - Ler O Capital - Volume 2 - OCR - CompressedGlauco Pereira Dos Santos50% (2)
- Sociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteNo EverandSociologia do desconhecimento: ensaios sobre a incerteza do instanteAinda não há avaliações
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoNo EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoAinda não há avaliações
- As Ciências Sociais e Os Primeiros SociólogosDocumento37 páginasAs Ciências Sociais e Os Primeiros SociólogosDel AlcantaraAinda não há avaliações
- A Praça Colonial BrasileiraDocumento22 páginasA Praça Colonial BrasileiraIale CamboimAinda não há avaliações
- Espaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaNo EverandEspaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaAinda não há avaliações
- Apontamentos de Sociologia Da ComunicaçãoDocumento17 páginasApontamentos de Sociologia Da ComunicaçãoEmma GreyAinda não há avaliações
- Gustavo Ribeiro - O Capital Da EsperançaDocumento265 páginasGustavo Ribeiro - O Capital Da EsperançaGarimpoAinda não há avaliações
- 6 - A Organizacao Social No Meio Urbano - P. H. Chombart de LauweDocumento10 páginas6 - A Organizacao Social No Meio Urbano - P. H. Chombart de LauweJulia O'DonnellAinda não há avaliações
- Manuel Castells - A Questão Urbana (1979) TRADUZIDO DO ORIGINALDocumento30 páginasManuel Castells - A Questão Urbana (1979) TRADUZIDO DO ORIGINALMaria EduardaAinda não há avaliações
- Por Uma Cartografia Da Ação: Pequeno Ensaio de MétodoDocumento23 páginasPor Uma Cartografia Da Ação: Pequeno Ensaio de MétodoDiego HoshinAinda não há avaliações
- A Producao Social Do Espaço UrbanoDocumento7 páginasA Producao Social Do Espaço UrbanoIgorJose0% (1)
- Artigo - Conceito de Trabalho em Marx Weber e DurkheimDocumento14 páginasArtigo - Conceito de Trabalho em Marx Weber e DurkheimUsu4riodoScribdAinda não há avaliações
- A Microssociologia Na Formação Dos Grupos Sociais e Seus Efeitos Sobre As EstruturasDocumento9 páginasA Microssociologia Na Formação Dos Grupos Sociais e Seus Efeitos Sobre As EstruturasFernando MichelisAinda não há avaliações
- Aidar, Adriana Marques - A-Sociologia-Aplicada-A-Administracao PDFDocumento25 páginasAidar, Adriana Marques - A-Sociologia-Aplicada-A-Administracao PDFDionísio cerqueiraAinda não há avaliações
- Reforma Agrária O Impossível DiálogoDocumento32 páginasReforma Agrária O Impossível DiálogoFranklin Pereira100% (1)
- Sociologia Rural 1219619182809830 8 PDFDocumento100 páginasSociologia Rural 1219619182809830 8 PDFJoseAinda não há avaliações
- Soc 028 Soc Urbana 2012 UFSCARDocumento9 páginasSoc 028 Soc Urbana 2012 UFSCARNatália Maximo E MeloAinda não há avaliações
- Nilson Weisheimer - Juventudes Rurais e Mapa de Estudos RecentesDocumento78 páginasNilson Weisheimer - Juventudes Rurais e Mapa de Estudos RecentesPLANETA HUMANASAinda não há avaliações
- Trabalho de Sociologia Da Educação UNOPARDocumento7 páginasTrabalho de Sociologia Da Educação UNOPARErika Silva SantosAinda não há avaliações
- Rodrigues MST Anos 80Documento266 páginasRodrigues MST Anos 80Aleques EitererAinda não há avaliações
- FreitagDocumento2 páginasFreitagcecav75Ainda não há avaliações
- Modelo de Fichamento - Ficha 1 - ACSELRAD - o Que É Justiça AmbientalDocumento11 páginasModelo de Fichamento - Ficha 1 - ACSELRAD - o Que É Justiça AmbientalDenis José de SouzaAinda não há avaliações
- Os Pais Fundadores Da Etnografia - Boas e Malinowvski PDFDocumento9 páginasOs Pais Fundadores Da Etnografia - Boas e Malinowvski PDFRoberto FalwkAinda não há avaliações
- Manuel CastellsDocumento9 páginasManuel CastellsDênis de MoraesAinda não há avaliações
- 3 - (Aula 9 Complementar) GEERTZ, Clifford - Estar Lá A Antropologia e o Cenário Da EscritaDocumento16 páginas3 - (Aula 9 Complementar) GEERTZ, Clifford - Estar Lá A Antropologia e o Cenário Da EscritaPedro Alb XavierAinda não há avaliações
- Angelina Maria Duarte - A Sociedade Secreta de Pichadores e Grafiteiros em Campina Grande PBDocumento231 páginasAngelina Maria Duarte - A Sociedade Secreta de Pichadores e Grafiteiros em Campina Grande PBMarcella BachaAinda não há avaliações
- Max Weber PDFDocumento6 páginasMax Weber PDFOsmar Diniz de OliveiraAinda não há avaliações
- CONTAG-Revista 40 AnosDocumento116 páginasCONTAG-Revista 40 AnosArquivos EscolaAinda não há avaliações
- EDUARDO PIZARRO Intersticios UrbanosDocumento188 páginasEDUARDO PIZARRO Intersticios UrbanosOlivia MaiaAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino de SociologiaDocumento113 páginasMetodologia Do Ensino de SociologiaJose GomesAinda não há avaliações
- Fichamento The Jack Roller - Izabel Nuñez PDFDocumento24 páginasFichamento The Jack Roller - Izabel Nuñez PDFEduardo Rodrigues100% (2)
- 2006 Nas Tramas Da Cidade Telles CabanesDocumento381 páginas2006 Nas Tramas Da Cidade Telles CabanesCarmen SilvaAinda não há avaliações
- ALONSO, COSTA - Por Uma Sociologia Dos Conflitos Ambientais No BrasilDocumento24 páginasALONSO, COSTA - Por Uma Sociologia Dos Conflitos Ambientais No BrasilRafael BrunoAinda não há avaliações
- A Dimensão Participativa Na Gestão EscolarDocumento2 páginasA Dimensão Participativa Na Gestão EscolarAndrea PassosAinda não há avaliações
- Placemaking, Urbanismo e o Futuro Dos Espaços PúblicosDocumento4 páginasPlacemaking, Urbanismo e o Futuro Dos Espaços PúblicosOlívia Teixeira SantiagoAinda não há avaliações
- Fichamento o Que É Cidade - Giulianne BressanDocumento6 páginasFichamento o Que É Cidade - Giulianne BressanGiovanni VieiraAinda não há avaliações
- Sociodinâmica Da Cultura - Abraham MolesDocumento4 páginasSociodinâmica Da Cultura - Abraham MolesKerolin KlakAinda não há avaliações
- Heitor Frúgoli Jr. - Luz e GentrificaçãoDocumento18 páginasHeitor Frúgoli Jr. - Luz e GentrificaçãoHeitor Vianna MouraAinda não há avaliações
- Resenha - Definicao Agenda Mario FuksDocumento2 páginasResenha - Definicao Agenda Mario FuksJorge SilvaAinda não há avaliações
- Tabela Sociologia (Material Didático) Teor SocioDocumento1 páginaTabela Sociologia (Material Didático) Teor SocioAlexander Morais100% (2)
- A Cidade o Seu Estatuto Gestao - Marcelo LopesDocumento8 páginasA Cidade o Seu Estatuto Gestao - Marcelo LopesThaianna ValverdeAinda não há avaliações
- A Territorialidade SeringueiraDocumento22 páginasA Territorialidade SeringueiraNatalia Ribas GuerreroAinda não há avaliações
- Otávio Velho - A Antropologia e o Brasil, HojeDocumento6 páginasOtávio Velho - A Antropologia e o Brasil, HojeSarine SchneiderAinda não há avaliações
- A Antropologia Situacional de Michel AgierDocumento10 páginasA Antropologia Situacional de Michel AgierLucasTiboAinda não há avaliações
- O Espaço Como Palavra Chave 18625-60953-2-PBDocumento27 páginasO Espaço Como Palavra Chave 18625-60953-2-PBSérgio Pereira de Souza Jr.Ainda não há avaliações
- 1987 - 3 - Guillermo Palacios - Campesinato e EscravidãoDocumento17 páginas1987 - 3 - Guillermo Palacios - Campesinato e EscravidãoShana SieberAinda não há avaliações
- Princípios Da Sociologia Rural: Agricultura FamiliarDocumento5 páginasPrincípios Da Sociologia Rural: Agricultura Familiarcarlos eduardoAinda não há avaliações
- Cordel-A Peleja Do Cordel Da Feira Com A InternetDocumento3 páginasCordel-A Peleja Do Cordel Da Feira Com A InternetKleber NigroAinda não há avaliações
- Livro Reforma AgráriaDocumento346 páginasLivro Reforma AgráriaJoão ZanonAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- Um Lugar Após o Outro: Anotações Sobre Site-Specificity - Miwon KwonDocumento26 páginasUm Lugar Após o Outro: Anotações Sobre Site-Specificity - Miwon KwonMônica RubinhoAinda não há avaliações
- A Questão Da Ideologia em Gramsci - Leandro KonderDocumento6 páginasA Questão Da Ideologia em Gramsci - Leandro KonderClaudinei RomãoAinda não há avaliações
- Atualizado - Fundamentos Da EducaçãoDocumento25 páginasAtualizado - Fundamentos Da EducaçãoMary LacerdaAinda não há avaliações
- Documentário e Representação - Desnaturalizando Uma EvidênciaDocumento15 páginasDocumentário e Representação - Desnaturalizando Uma EvidênciaDenis CarlosAinda não há avaliações
- O Processo GrupalDocumento85 páginasO Processo GrupalNathal RibeiroAinda não há avaliações
- Alguma Poesia (Comentários)Documento8 páginasAlguma Poesia (Comentários)Luana AmaralAinda não há avaliações
- As Escalas de Análise Do Espaço IntraurbanoDocumento15 páginasAs Escalas de Análise Do Espaço IntraurbanovanderioAinda não há avaliações
- Dissertação - Orlando de Lira CarneiroDocumento135 páginasDissertação - Orlando de Lira Carneiroedson eugenioAinda não há avaliações
- Texto - O Trabalho em Marx (Texto 02)Documento8 páginasTexto - O Trabalho em Marx (Texto 02)Alves HrsAinda não há avaliações
- Artigo Historiografia IIDocumento8 páginasArtigo Historiografia IIgiovani kinaypAinda não há avaliações
- Tradução FeministaDocumento22 páginasTradução Feministalaumont_Ainda não há avaliações
- Frizzo - 2012 - História, Atualização Do Passado e Estilhaços Messiânicos de Uma RevoltaDocumento7 páginasFrizzo - 2012 - História, Atualização Do Passado e Estilhaços Messiânicos de Uma RevoltaNiep-PréKAinda não há avaliações
- BAGOAS19Documento320 páginasBAGOAS19Rodrigo Costa de OliveiraAinda não há avaliações
- Vamos Agir - AtividadeDocumento13 páginasVamos Agir - AtividadeVictorJoséAinda não há avaliações
- Tese - JRVF - A Razão Consensual No Discurso Da Reforma UrbanaDocumento184 páginasTese - JRVF - A Razão Consensual No Discurso Da Reforma UrbanaAmbiens CooperativaAinda não há avaliações
- Os Sonhadores de Bernardo Bertolucci Analisado. UmDocumento10 páginasOs Sonhadores de Bernardo Bertolucci Analisado. UmisafsodreAinda não há avaliações
- Finalidades Da Filosofia Do DireitoDocumento8 páginasFinalidades Da Filosofia Do DireitoMarcos BalbinoAinda não há avaliações
- A Razão Sangrenta Ensaios Sobre A Crítica Emancipatória Da Modernidade Capitalista e de Seus Ocidentais by Robert KurzDocumento46 páginasA Razão Sangrenta Ensaios Sobre A Crítica Emancipatória Da Modernidade Capitalista e de Seus Ocidentais by Robert KurzAndré ResendeAinda não há avaliações
- Gênero Anúncio de Classificados de Serviços Sexuais - Efeitos Dialógicos Do Consumo Propagado Pela Mídia Na Imagem Discursiva Do Locutor e Do InterlocutorDocumento102 páginasGênero Anúncio de Classificados de Serviços Sexuais - Efeitos Dialógicos Do Consumo Propagado Pela Mídia Na Imagem Discursiva Do Locutor e Do InterlocutorTito SilvaAinda não há avaliações
- FRANÇA, V - Crítica e MetacríticaDocumento16 páginasFRANÇA, V - Crítica e MetacríticaLaura PimentaAinda não há avaliações
- O MAIS BELO ORNAMENTO DE ROMA. ADMINISTRAÇÃO, OFÍCIOS E O PROJETO BUROCRÁTICO NAS VARIAE DE CASSIODORO OtavioDocumento199 páginasO MAIS BELO ORNAMENTO DE ROMA. ADMINISTRAÇÃO, OFÍCIOS E O PROJETO BUROCRÁTICO NAS VARIAE DE CASSIODORO OtavioSilvio MoreiraAinda não há avaliações
- A Insustentável Teoria Da SustentabilidadeDocumento257 páginasA Insustentável Teoria Da SustentabilidadeClarice Da Costa CarvalhoAinda não há avaliações
- Bittencourt (2004) PDFDocumento3 páginasBittencourt (2004) PDFRenatoRetz0% (1)
- Apostila Completa Filosofia Da Educação 2Documento116 páginasApostila Completa Filosofia Da Educação 2AlyceSchwingelBAinda não há avaliações
- Lugar DiscursivoDocumento9 páginasLugar DiscursivoMirtes OliveiraAinda não há avaliações