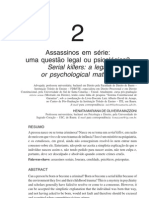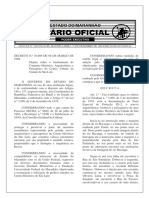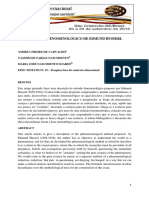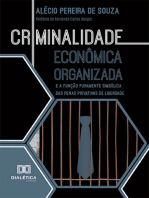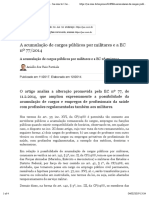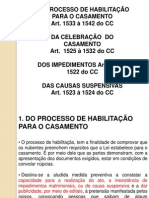Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pensando Alto Sobre Violência, Crime e Castigo PDF
Pensando Alto Sobre Violência, Crime e Castigo PDF
Enviado por
AnastaciaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pensando Alto Sobre Violência, Crime e Castigo PDF
Pensando Alto Sobre Violência, Crime e Castigo PDF
Enviado por
AnastaciaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rev. Bras.
Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 52
JUSTIÇA: PENSANDO ALTO SOBRE
Jimenez
VIOLÊNCIA, CRIME E CASTIGO.
(RJ: Nova Fronteira, 2011, 196p.)
É o oitavo livro do antropólogo Luis Eduardo Soares que conta
Luciene Jimenez 1 entre as suas publicações com obras como Meu casaco de
general: 500 dias no front da Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro, Elite da Tropa I e II e Cabeça de Porco. Mais
uma vez, o autor traz para a discussão os temas da violência e
da segurança por meio de uma linguagem coloquial,
objetivando atingir diferentes públicos, sem com isso perder o
vértice teórico e conceitual da discussão. Além de escritor e
professor universitário, o autor foi Secretário de Segurança
Pública do Rio de Janeiro (1999/2000) e Secretário Nacional de
Segurança Pública (2003).
Jimenez
1 Doutora em Saúde Pública (USP) O livro está dividido em treze capítulos nos quais são narradas,
e docente do Programa de de forma sutil e progressiva, situações do cotidiano, possíveis
Mestrado Adolescente em Conflito de serem vivenciadas pelo leitor; fato que promove
com a Lei, da UNIBAN. identificação e aproximação com o texto. A partir de tais
narrações, o autor fundamenta os argumentos que
desconstroem as noções presentes no senso comum sobre o que
é crime, o que é violência, o que é justiça, o que representa a
prisão para as pessoas que ali vivem e para a coletividade que
precisa dela e, por fim, quais são as alternativas possíveis para
uma convivência mais pacífica na nossa sociedade.
Os jovens vão herdar o Brasil que estamos construindo. Um país que
encarcera cada vez mais e o faz seletivamente porque a lei que vale para
uns, na prática, não vale para outros. Um país que está se credenciando para
se tornar campeão mundial do encarceramento e que se esmera em produzir,
nas prisões, o espetáculo grotesco da barbárie (p.11).
A violência exerce fascínio sobre todo mundo, por
atração ou repulsa, conecta-nos às nossas emoções mais
profundas. A violência tem assumido lugar nas manchetes e
constituído preocupação inclusive entre os jovens, já que a
maioria dos que morrem vítimas da violência tem entre 15 e 24
anos, ou 15 e 29, são, em geral, pobres, do sexo masculino,
Autor para correspondência:
lucienejimenez@hotmail.com
Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 53
moram nos bairros menos valorizados e, frequentemente, são negros.
A partir desta reflexão, Luis Eduardo relata o discurso,
indignado e emocionado, de um motorista de táxi sobre o assassinato
de seu querido amigo de infância dentro do ônibus do qual era
condutor. Deixara mulher e filhos, qual seria o futuro destas cinco
crianças tornadas órfãs por um monstro?
As duas pontas da história se encontravam: as crianças órfãs
terão que sair para as ruas e ganhar algum dinheiro, expostas a toda
sorte de situações e a “tudo de ruim, coitados”. Quem sabe, um dia
desses, um deles, desesperado atrás de dinheiro, entra em um ônibus e
...
O sentido de uma história depende do ponto a partir do qual
começamos a contá-las, as histórias envolvendo situações de violência
são, invariavelmente, narradas a partir do ato violento, ignorando todo
o passado e anulando as possibilidades futuras.
Historicamente, a tortura e os suplícios abomináveis fizeram
parte de uma espécie de diversão pública e macabra com tom
educativo de advertência preventiva. Cesare Beccaria (Dos delitos e
das penas, 1764) e alguns pensadores iluministas fundaram a visão
moderna da punição destacada da ideia de suplício físico. Todo
indivíduo deve ser tratado com respeito, ainda que traia seus deveres,
isso não autoriza a sociedade ou o Estado a imitá-lo. “Nesse caso,
justiça seria apenas outro nome da vingança” (p. 25). Essa dimensão
simbólica que associa justiça com vingança permanece destacada no
imaginário popular quando se fala, por exemplo, na necessidade de
redução da impunidade (p. 98).
Crime é tudo aquilo que uma sociedade define como crime. O
autor nos conduz por um caminho no qual desconstrói a possível
fixidade da noção de crime, mostrando que o próprio Estado tutela e
produz situações consideradas criminosas, tais como as guerras,
expropriações em nome do interesse público, entre tantas outras. Um
ato ilegal não constitui necessariamente um crime, pois “Se você
puxar muito o fio da meada, vai acabar encontrando a violência na
Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 54
raiz do direito e da propriedade, dos países e dos Estados. Por trás da
retórica legal corre um rio de sangue” (p. 41).
No entanto, a violência, geralmente relacionada aos atos
identificados explicitamente como violentos, está presente não apenas
nas ações do Estado, mas também no dia-a-dia das pessoas comuns.
O autor exemplifica a proteção como prática de violência por
meio de uma situação corriqueira em que dois meninos são
surpreendidos em jogos sexuais no banheiro da escola. Um deles
consegue escapar sem ser identificado e o outro não. Sobre o segundo,
recaem toda sorte de “cuidados”, atenções psicológicas e pedagógicas,
providências institucionais para que o mal não se repita, rotulações,
controles e exames antieducativos e contraproducentes que promovem
sofrimento, estigma e revelam “uma força poderosa e castradora: eis a
violência operando, fazendo seu trabalho sujo, talvez imperceptível
para quem observa de fora, mas profundamente doloroso e marcante
para quem o sofre” (p. 47). Há um limite tênue entre o cuidado e a
produção de um estigma, entre a brincadeira e a hostilidade.
Dependendo do contexto e do lugar, a violência pode estar escondida
sob as práticas de cuidar, proteger, defender, educar.
Em uma segunda situação, dentro de uma padaria, estão dois
adolescentes: um branco de classe média, o outro negro e mal vestido.
Por diferentes razões, ambos portam alguma quantidade de maconha.
Quando alguém anuncia que sua carteira sumiu, as atenções do
público presente se voltam para o adolescente negro. Enquanto a
polícia o aborda, o adolescente branco sai de fininho. Ao ser
identificado que o adolescente negro portava maconha, os presentes
pedem sua prisão como expressão de justiça. E todos se retiram sem
que a carteira tenha sido encontrada, mas felizes porque a justiça foi
feita.
O cumprimento da medida socioeducativa em meio fechado,
dadas suas condições, levam os adolescentes à certeza de que não
valem nada. A violência está no tráfico de drogas, nos efeitos danosos
das drogas, na intervenção policial, no sistema socioeducativo, na
legislação, na sociedade que pede penas mais duras.
Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 55
Os fatos dependem de quem os vivencia e interpreta.
Descrever fatos, dar testemunhos são situações submetidas às
interpretações, e estas dependem dos contextos e histórias de vida
mais abrangentes. É neste sentido que a pena de morte é inaceitável,
pois aniquila com qualquer dúvida e produz a irreversibilidade, “não é
por brincadeira que tantos historiadores declaram que o passado é tão
imprevisível quanto o futuro” (p. 72).
“A Justiça não deveria ser compreendida como punição ou
castigo, mas como o reconhecimento do mérito identificado com
objetividade” (p.86). Fazer justiça, portanto, nada tem a ver com
punir. Garantir a igualdade de oportunidades para todas as crianças é
uma expressão da justiça; se o Estado não garante estes direitos torna-
se cúmplice da injustiça e promotor das desigualdades.
Justiça, portanto, pode ser definida como equidade, isto
é, como um princípio moral ou – para alguns – ético,
segundo o qual os seres humanos, por serem iguais em
sua natureza, deveriam receber tratamento igual em
todos os aspectos que se refiram à sua condição
elementar de ser humano e de membro de uma
sociedade (p. 89).
No entanto, a desigualdade da justiça é identificada na
aplicação das leis fiscais e da política tributária, bem como na
desproporcional concentração de terras no Brasil. Isso, no entanto, não
justifica a desobediência às leis, fato que poderia levar ao medo e à
desconfiança coletivos, mas legitima que se busque a mudança.
Em um Estado democrático, diferentes instâncias são
responsáveis pela criação das leis, pela execução e pelo cumprimento,
não ficando na dependência de um único indivíduo essa
responsabilidade. A equivalência continua sendo mantida na medida
em que se busca equalizar a suposta gravidade do crime com a
dimensão da pena. Escolhe-se para as penas uma gradação de
severidade que varia numa proporção correspondente à gradação dos
crimes.
Acreditar que existe proporcionalidade entre crime e pena é
negar os valores embutidos nos atos. A associação entre determinado
crime e certo número de anos de prisão é totalmente aleatória.
Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 56
É como se o crime trouxesse embutido em si o castigo
(...). Esquecemos que não há qualquer base objetiva, ou
qualquer razão ou fundamento natural, para que a
sociedade troque, como se fossem equivalentes e
proporcionais, atos que considera criminosos por tempo
de prisão (p. 113).
No entanto, “a hipótese de um mundo sem polícia e sem prisão
resultaria em uma sociedade atravessada pelo horror, devolvida à
barbárie, regida pelos sentimentos mais primitivos – sobretudo o medo
– que ditariam a luta pela vida mesmo ao preço da vida alheia” (p.
125). A questão não é isentar as pessoas que transgrediram os acordos
mas, antes, trocar o canal: da culpa individual para a responsabilidade
coletiva.
Esta operação não é simples porque se, por um lado, desde o
sistema econômico até os traumas psicológicos fazem parte da
formação dos cidadãos, por ouro lado, mesmo nas circunstâncias mais
adversas há uma chama de consciência e liberdade acesa.
Com relação ao tráfico de drogas, consumidores
endinheirados, políticos indiferentes, escolas de péssima qualidade,
falta de perspectiva no mercado de trabalho, falta de oferta no
mercado formal de trabalho, opções atraentes no tráfico - não só
financeiramente, mas também na promoção da autovalorização - todos
estes elementos constituem os ingredientes que compõem a realidade
dos adolescentes e jovens responsáveis pelo varejo do tráfico. Quem é
o responsável? O lícito e o ilícito se interpenetram, direta ou
indiretamente, envolvem a todos e têm relação não apenas com
aspectos materiais, sociais e econômicos, mas também com elementos
simbólicos e psicológicos. Sem subestimar os fatores materiais, mas
há que se considerar a devastação da autoestima, a fome de
reconhecimento, de valorização e acolhimento, os benefícios do
pertencimento, o papel do sexo e do desejo na dinâmica do tráfico.
Veja como o tráfico recruta os adolescentes. O líder da
facção criminosa costuma ser uma pessoa
empreendedora, isto é, cheia de iniciativa – pena que
usa mal essa capacidade. Ele e seus comandados atraem
jovens para sua facção, aproveitando para convidá-los
quando eles estão sem nada para fazer, desempregados,
com baixa autoestima, fora da escola, cobiçando as
camisas e os tênis de marca que encantam as meninas,
Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 57
mas que eles não podem comprar. Isso não significa que
o líder bata na porta de quem deseja atrair para seu
grupo. Nada disso. Em geral acontece o contrário.
Quem pede autorização para ingressar no ‘movimento’
é o jovem interessado. Mesmo assim, a sedução existiu
com as exibições diárias de poder e a ostentação das
conquistas. Fazer parte de um grupo unido produz uma
sensação de que se é alguém, de que se tem um lugar no
mundo, de que se tem poder e valor, de que o afeto que
venha a receber e a admiração que venha a provocar são
merecidos. E a união de um grupo muitas vezes depende
da rivalidade com outros grupos. Quanto mais forte for
a rivalidade, a disputa e até mesmo o conflito, mais
intenso será o sentimento de união, de coesão, de
identidade com seu grupo. (...) Depois que se ingressa
numa facção ou num grupo criminoso, pular fora do
barco não é simples (p. 154-5).
Na prisão, o controle do uso do espaço e do tempo apontam,
em coro, para João como sujeito do verbo matar. João matou. O verbo
está no passado, mas a pena (João é criminoso) está no presente e o
arrasta consigo futuro adentro. É certo que matar constitui um ato
abominável, irreparável e monstruoso, mas não justifica que todos os
atos anteriores e posteriores se percam definitivamente, transformando
um sujeito em um eterno assassino. Atarraxar o sujeito ao seu ato
criminoso não o impede de agir com violência, pelo contrário, incita-
o.
O desejo de vingança e a vontade de criar bodes expiatórios só
promovem os padrões de comportamento criminosos e violentos.
Abrir-se à naturalidade da mudança é o desafio que se coloca, caberá
ao perdão desatar a corrente que prende o sujeito ao verbo.
Neste caso, não é justo que a culpa se distribua em partes
iguais entre a vítima, o agressor e a sociedade. 1º) Deve-se pensar na
vítima, minorar o sofrimento ou a perda; 2º) O autor deve participar da
reparação; 3º) Evitar que a experiência se repita; 4º) Co-
responsabilizar toda a sociedade, o que é diferente de inocentar o
agressor, mas reconhecer que os circuitos das ilegalidades estão
dispersos por toda a sociedade, envolvendo todas as pessoas, ainda
que com diferentes expressões.
“Nesse novo enredo, quem perdoa deixa de ser vítima – isto é,
o objeto passivo de um ataque degradante – para se tornar
Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 2011 (5): 52-58 58
protagonista que dá novo significado a seu destino” (p. 164). Por outro
lado, para o agressor, o efeito deste processo é o de quebrar os
grilhões que o amarram às narrativas do seu passado,
responsabilizando-o pelos seus atos, promovendo a reparação das
consequências do ato cometido, e abrindo para novas possibilidades
de futuro. Isto não o inocenta, nem tampouco o exime de reconhecer
sua dose incomparavelmente superior de responsabilidade sobre a
situação, pelo contrário. “Quem agiu de forma monstruosa terá de
encontrar em si vestígios de humanidade pelos quais se sinta
estimulado a acreditar que merece ser estimado, amado e admirado”
(p. 169). Haveria ainda que se ter em cena a comunidade, a fim de que
esta percebesse como contribuiu, ainda que involuntariamente, para o
crime, comprometendo-se a promover as mudanças.
A leitura do livro se faz fundamental para os estudiosos do
tema que encontrarão clareza e veemência nos caminhos pelos quais o
autor apresenta a nossa sociedade atada aos modos medievais de
pensar a Justiça e sobre quais são as possibilidades de transformação.
Mas, principalmente, faz-se importante para os leigos por trazer à luz
o quanto as práticas de violência e de justiça concebida como punição
e humilhação se encontram cristalizadas no cotidiano das escolas, das
famílias, das relações e das instituições, de tal modo que partilhamos
todos, cotidianamente, da promoção e manutenção destes modelos.
Mais do que a prisão que encarcera por meio de muros e grades,
humilha e degrada em nome da ressocialização, nós nos defrontamos
com a prisão dos discursos produzidos e reproduzidos em nome do
cuidado, da saúde, da educação, enfim, das melhores intenções.
Quando um (a) jovem vê-se embaraçado na prisão de
um adjetivo, uma acusação, uma classificação jurídica
ou um diagnóstico moral/psicológico (o atrapalhado, o
rebelde, o problemático, a desequilibrada, o violento, a
devassa, o criminoso), deve aprender esta lição: a
sociedade, as instituições e seus agentes – família,
escola, comunidade, rede de colegas, justiça, polícia,
quando não os profissionais da medicina e do mundo psi
– tendem a trabalhar com enorme energia para bloquear
o turbilhão vital das mudanças (p. 162).
Você também pode gostar
- Contrato de Locacao de Sala Comercial (Modelo)Documento4 páginasContrato de Locacao de Sala Comercial (Modelo)JULIANO100% (9)
- O Essencial Na Santa MissaDocumento5 páginasO Essencial Na Santa MissaAnastaciaAinda não há avaliações
- O Adolescente em Conflito Com A LeiDocumento8 páginasO Adolescente em Conflito Com A LeiJose Carlos DE AmorimAinda não há avaliações
- Bullying e Cyberbullying - DjalmaDocumento17 páginasBullying e Cyberbullying - DjalmaDjalma HenaresAinda não há avaliações
- Assassinos em SérieDocumento17 páginasAssassinos em Sériepartido_alto11486Ainda não há avaliações
- Assassinos em SérieDocumento20 páginasAssassinos em SérieAnderson Lima100% (1)
- SLIDES CURSO FISIOTERAPIA FORENSE - PpsDocumento189 páginasSLIDES CURSO FISIOTERAPIA FORENSE - PpsRoberto Linhares de FreitasAinda não há avaliações
- Atividade de Produção de Texto Argumentativo2Documento4 páginasAtividade de Produção de Texto Argumentativo2Elaine Porto ChiulloAinda não há avaliações
- As fake news como crime no Brasil pós-pandemia: introdução à verdade sobre as notícias fraudulentas a partir da Psicologia das MassasNo EverandAs fake news como crime no Brasil pós-pandemia: introdução à verdade sobre as notícias fraudulentas a partir da Psicologia das MassasAinda não há avaliações
- (DECRETO N.º 10.089 DE 06 - 03 - 1986) - Tombamento Estadual - REDIGIDODocumento7 páginas(DECRETO N.º 10.089 DE 06 - 03 - 1986) - Tombamento Estadual - REDIGIDOAnastacia100% (3)
- Adesão Subjetiva À Barbárie - Vera M BatistaDocumento12 páginasAdesão Subjetiva À Barbárie - Vera M BatistaFernanda BaleraAinda não há avaliações
- Direito dos Refugiados: origem e crise do paradigma atualNo EverandDireito dos Refugiados: origem e crise do paradigma atualAinda não há avaliações
- MASCARENHAS-MATEUS Joao Tecnicas Tradici PDFDocumento85 páginasMASCARENHAS-MATEUS Joao Tecnicas Tradici PDFAnastaciaAinda não há avaliações
- Fenomenologia 1 PDFDocumento9 páginasFenomenologia 1 PDFAnastaciaAinda não há avaliações
- Juri Simulado 3 Ano ADocumento22 páginasJuri Simulado 3 Ano APriscilla Dontechef100% (3)
- Medida de Segurança: Estudo sobre a superação da sanção penal fundamentada na periculosidadeNo EverandMedida de Segurança: Estudo sobre a superação da sanção penal fundamentada na periculosidadeAinda não há avaliações
- Violencia Contra Infancia e AdolescenteDocumento24 páginasViolencia Contra Infancia e AdolescenteADELAIDE DO SOCORRO DIAS BAIAAinda não há avaliações
- A Prisão Feminina e A Criminologia Feminista - Olga Espinoza PDFDocumento26 páginasA Prisão Feminina e A Criminologia Feminista - Olga Espinoza PDFFernanda BaleraAinda não há avaliações
- A Prisao Feminina Desde Um Olhar Criminologia FeministaDocumento26 páginasA Prisao Feminina Desde Um Olhar Criminologia FeministaMaria Júlia Montero100% (6)
- O "Direito Penal Do Inimigo" e o "Direito Penal Do Homo Sacer Da Baixada PDFDocumento39 páginasO "Direito Penal Do Inimigo" e o "Direito Penal Do Homo Sacer Da Baixada PDFbrunofnAinda não há avaliações
- Controle Penal e Políticas PenitenciáriasDocumento3 páginasControle Penal e Políticas PenitenciáriasIorrane CunhaAinda não há avaliações
- Criminologia - Fichamento - A Questão CriminalDocumento38 páginasCriminologia - Fichamento - A Questão Criminalisrylore loreAinda não há avaliações
- Historico - EcaDocumento24 páginasHistorico - EcabrunovskycortezAinda não há avaliações
- A Violência Inserida No Filme Cidade de DeusDocumento12 páginasA Violência Inserida No Filme Cidade de DeusAlana AlcântaraAinda não há avaliações
- Violência Doméstica PDFDocumento13 páginasViolência Doméstica PDFalgoz36Ainda não há avaliações
- 1 - Acusados e Acusadores Estudos Sobre Ofensas Acusações e IncriminaçõesDocumento194 páginas1 - Acusados e Acusadores Estudos Sobre Ofensas Acusações e IncriminaçõesflavinhassisAinda não há avaliações
- Bianca - Rechaco A Imigracao Ou Rechaco A PobrezaDocumento18 páginasBianca - Rechaco A Imigracao Ou Rechaco A PobrezaJulia JuliottiAinda não há avaliações
- Dias e Munoz - Entrevista Com Pedro Paulo Bicalho (14set2020)Documento8 páginasDias e Munoz - Entrevista Com Pedro Paulo Bicalho (14set2020)Pedro MuñozAinda não há avaliações
- 21 A PFCDocumento4 páginas21 A PFCAndreia TavaresAinda não há avaliações
- RAUTER, C. Produção Social Do NegativoDocumento17 páginasRAUTER, C. Produção Social Do NegativocristianeredinAinda não há avaliações
- Mídia: Meio de Propagação e Incentivo A ViolênciaDocumento18 páginasMídia: Meio de Propagação e Incentivo A Violênciasilas brunoAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A TeseDocumento12 páginasArtigo Sobre A TeseCristiane PachecoAinda não há avaliações
- Assistência Social e Redução Da Maioridade PenalDocumento8 páginasAssistência Social e Redução Da Maioridade PenalNathaliaAinda não há avaliações
- Violência Contra Negros 1 PDFDocumento8 páginasViolência Contra Negros 1 PDFalgoz36Ainda não há avaliações
- RESENHA-CRÍTICA-Direito Internacional WORD JOICYDocumento10 páginasRESENHA-CRÍTICA-Direito Internacional WORD JOICYjoicy camilaAinda não há avaliações
- Adesão Subjetiva À Barbárie - Vera MalagutiDocumento13 páginasAdesão Subjetiva À Barbárie - Vera MalagutiLeticiaGarducciAinda não há avaliações
- Tentativa de Suicídio Associada À Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes-Ok PDFDocumento24 páginasTentativa de Suicídio Associada À Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes-Ok PDFemfrente sao joseAinda não há avaliações
- Kahn Violencias PDFDocumento16 páginasKahn Violencias PDFElton De Andrade Martins100% (1)
- cdilemas,+DILEMAS 14 1 2021 Art2 - 27708 - Beraldo - pp.27 51Documento25 páginascdilemas,+DILEMAS 14 1 2021 Art2 - 27708 - Beraldo - pp.27 51Camila LimaAinda não há avaliações
- Artigo - Noticias de Uma Guerra ParticularDocumento7 páginasArtigo - Noticias de Uma Guerra ParticularRê Nata BordosaAinda não há avaliações
- TCC Luana VieiraDocumento13 páginasTCC Luana VieiraLuana VieiraAinda não há avaliações
- Cultura Do EstuproDocumento3 páginasCultura Do EstuproMichele de CamposAinda não há avaliações
- 2019 Proposta Unicamp JusticaDocumento2 páginas2019 Proposta Unicamp JusticaOlliver Mariano RosaAinda não há avaliações
- Acao Penal e Violencia - Edmac TrigueiroDocumento79 páginasAcao Penal e Violencia - Edmac TrigueiroHikaru KaminariAinda não há avaliações
- Compilado Direito PenalDocumento39 páginasCompilado Direito PenalDirceu ReisAinda não há avaliações
- Violência Doméstica e Familiar Contra A MulherDocumento41 páginasViolência Doméstica e Familiar Contra A MulherJowelber Paixão100% (1)
- Avaliação - Psicologia e Violência - 2021Documento9 páginasAvaliação - Psicologia e Violência - 2021João Victor Soares de AraújoAinda não há avaliações
- Trabalho de Pesquisa (CRIMINOLOGIA)Documento4 páginasTrabalho de Pesquisa (CRIMINOLOGIA)layllaantonielleAinda não há avaliações
- 2022 - Violência Doméstica Hom ASDDocumento24 páginas2022 - Violência Doméstica Hom ASDInês VieiraAinda não há avaliações
- Criminalidade econômica organizada e a função puramente simbólica das penas privativas de liberdadeNo EverandCriminalidade econômica organizada e a função puramente simbólica das penas privativas de liberdadeAinda não há avaliações
- Da Privação Dos Sentidos A Legítima Defesa DaDocumento47 páginasDa Privação Dos Sentidos A Legítima Defesa DaRafaela WestphalAinda não há avaliações
- Estratégias para Prevenção de ViolênciaDocumento3 páginasEstratégias para Prevenção de ViolênciaMaria EduardaAinda não há avaliações
- Anomia em DurkheimDocumento14 páginasAnomia em DurkheimFrancisco PradaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento17 páginas1 PBSheila MedeirosAinda não há avaliações
- 3 Semana 3 Ano FilosofiaDocumento6 páginas3 Semana 3 Ano FilosofiaANDREA VINCHI LAPELLIGRINIAinda não há avaliações
- Minayo (1994)Documento12 páginasMinayo (1994)Maria Fernanda Fernandes100% (1)
- O Homem Delinquente e o Social Naturalizado PDFDocumento22 páginasO Homem Delinquente e o Social Naturalizado PDFMartinalia EvangelistaAinda não há avaliações
- Justiça Restaurativa - Marcelo PelizzoliDocumento15 páginasJustiça Restaurativa - Marcelo PelizzolimarceloAinda não há avaliações
- Texto - Violência Na História Por TakeutiDocumento5 páginasTexto - Violência Na História Por TakeutiPerisson DantasAinda não há avaliações
- Texto - Sobre Antropologia e DireitoDocumento18 páginasTexto - Sobre Antropologia e DireitoLiliAinda não há avaliações
- Contextualizando A ViolenciaDocumento36 páginasContextualizando A ViolenciaFernanda LumaAinda não há avaliações
- Dignidade da Pessoa Humana: justificativa para uma intervenção internacional institucionalNo EverandDignidade da Pessoa Humana: justificativa para uma intervenção internacional institucionalAinda não há avaliações
- David Garland - As Contradiçoes Da SociedadeDocumento22 páginasDavid Garland - As Contradiçoes Da SociedadeSergio RicardoAinda não há avaliações
- FreudDocumento12 páginasFreudRogério C.Ainda não há avaliações
- Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher: Um Cenário de Subjugação Do Gênero FemininoDocumento16 páginasViolência Doméstica E Familiar Contra A Mulher: Um Cenário de Subjugação Do Gênero FemininoSalvador HCAinda não há avaliações
- Aula Biopolitica Banalizacao Da ViolenciaDocumento13 páginasAula Biopolitica Banalizacao Da ViolenciaLuanaAinda não há avaliações
- Historia EticaDocumento2 páginasHistoria EticaStefany Cristina Alves PereiraAinda não há avaliações
- (Lei N.º 3.999 de 05 - 12 - 1978) - Do Tombamento - DigitalizadaDocumento3 páginas(Lei N.º 3.999 de 05 - 12 - 1978) - Do Tombamento - DigitalizadaAnastaciaAinda não há avaliações
- Relação BensTombadosDocumento22 páginasRelação BensTombadosAnastaciaAinda não há avaliações
- Slides Aula 3 Curso LDB 2022Documento76 páginasSlides Aula 3 Curso LDB 2022AnastaciaAinda não há avaliações
- Interdisciplinaridade - Conceito, Importância e Vantagens - Ensino SuperiorDocumento16 páginasInterdisciplinaridade - Conceito, Importância e Vantagens - Ensino SuperiorAnastaciaAinda não há avaliações
- MultiplicativosDocumento4 páginasMultiplicativosAnastaciaAinda não há avaliações
- Catálogo MunsellDocumento57 páginasCatálogo MunsellAnastacia100% (1)
- Ceci - A Cultura Urbanística - Zenkner e PontualDocumento38 páginasCeci - A Cultura Urbanística - Zenkner e PontualAnastacia100% (1)
- Recuperação de Imoveis Privados Centros HistoricosDocumento306 páginasRecuperação de Imoveis Privados Centros HistoricosAnastaciaAinda não há avaliações
- O Patrimônio e As PaisagensDocumento36 páginasO Patrimônio e As PaisagensAnastaciaAinda não há avaliações
- 859 376Documento366 páginas859 376Helio CostaAinda não há avaliações
- Psicologia Jurídica-Aula 4 - Psicologia Do DelitoDocumento2 páginasPsicologia Jurídica-Aula 4 - Psicologia Do DelitoRenan JacinoAinda não há avaliações
- Questões Dissertativas EcaDocumento3 páginasQuestões Dissertativas EcaMaria De SouzaAinda não há avaliações
- Convênio de EstágioDocumento42 páginasConvênio de EstágioRodolfo CastroAinda não há avaliações
- Direito Financeiro - CompletoDocumento42 páginasDireito Financeiro - CompletoMarcos Aurelio100% (1)
- HR Manual Tetum Ch1 FinalDocumento17 páginasHR Manual Tetum Ch1 FinalElmezio João Campos De Oliveira CarvalhoAinda não há avaliações
- Tráfico de Influência Trabalho de CriminalisticaDocumento14 páginasTráfico de Influência Trabalho de CriminalisticaAdalberto FigueiredoAinda não há avaliações
- CLT Comentada 2019 - HomeroDocumento4 páginasCLT Comentada 2019 - HomeroSusan HarrisAinda não há avaliações
- Trabalho de Histira de Direito MocambicanoDocumento13 páginasTrabalho de Histira de Direito MocambicanoMoises Junior Junior100% (1)
- Prova Dissertativa DPU Grupo IIDocumento11 páginasProva Dissertativa DPU Grupo IIAlex QuintãoAinda não há avaliações
- Desaposentação - Desaposentadoria - Renúncia À Aposentadoria - Petição InicialDocumento8 páginasDesaposentação - Desaposentadoria - Renúncia À Aposentadoria - Petição InicialDonna VasquezAinda não há avaliações
- Pessoa Física e Pessoa JurídicaDocumento5 páginasPessoa Física e Pessoa JurídicaTânia CafezeiroAinda não há avaliações
- Lei de Interceptações Telefônicas ComentadaDocumento4 páginasLei de Interceptações Telefônicas Comentadaomegag67% (3)
- Volume 2 PDFDocumento226 páginasVolume 2 PDFpotter9090100% (1)
- B - Habilitação para o Casamento. Celebração Do Casamento. Impedimentos. SuspençãoDocumento67 páginasB - Habilitação para o Casamento. Celebração Do Casamento. Impedimentos. SuspençãoGhostRiderOfFire100% (1)
- Curso - Teoria Geral Do Direito Penal I (2017) PDFDocumento4 páginasCurso - Teoria Geral Do Direito Penal I (2017) PDFRodrigo DeodatoAinda não há avaliações
- Recurso - Nulidade de CitaçãoDocumento11 páginasRecurso - Nulidade de Citaçãothard2100% (1)
- Nota Pública Do Fórum Das Associações Representativas Dos Policiais e Bombeiros MilitaresDocumento2 páginasNota Pública Do Fórum Das Associações Representativas Dos Policiais e Bombeiros MilitaresMetropolesAinda não há avaliações
- Documento Particular AutenticadoDocumento5 páginasDocumento Particular Autenticadovbcl1983Ainda não há avaliações
- Recibo HCDocumento1 páginaRecibo HCJoao PencaAinda não há avaliações
- APOSTILA D1 - UN 1 - Noções de Gestão PúblicaDocumento24 páginasAPOSTILA D1 - UN 1 - Noções de Gestão PúblicaMárcio CesarAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Módulo II NeteDocumento4 páginasExercícios de Fixação - Módulo II NeteEdmilson BatistaAinda não há avaliações
- Direito AdministrativoDocumento124 páginasDireito AdministrativoSeven NetAinda não há avaliações
- Manoel Borges Carneiro. Direito Civil. (V. 1) PDFDocumento350 páginasManoel Borges Carneiro. Direito Civil. (V. 1) PDFRenataAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Apostila 1Documento24 páginasResponsabilidade Civil Apostila 1AnalfabetoPoliticoAinda não há avaliações
- Implicação Do Contrato Adm de Agen. de Viagens - Cognitio Juris PDFDocumento610 páginasImplicação Do Contrato Adm de Agen. de Viagens - Cognitio Juris PDFJosé Vinicius da Costa FilhoAinda não há avaliações