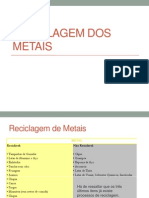Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Experimento 1.1 - Alex Guedes
Enviado por
Alex GuedesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Experimento 1.1 - Alex Guedes
Enviado por
Alex GuedesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Experimento 01.
1 – análise por via
Commented [1]: Substituir pelo número do
experimento.
Commented [2]: Substituir pelo título do experimento.
seca: ensaio da pérola de bórax
Aluno:
Alex de Sene Corado Guedes
Gama, 22 de Agosto de 2018 Commented [3]: Substituir pela data de entrega do
relatório.
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 1 de 10
Introdução Commented [4]: Texto com a revisão da literatura
científica.
Commented [5]: Toda a discussão levará em conta o
Reações por via seca que foi descrito na introdução.
(VOGUEL, 1979, p.136-145, traduzido) Reações por via seca são aquelas em que não
envolvem dissolução do analito em um solvente, elas são feitas usando o analito em sua forma
sólida sem a adição de nenhum reagente líquido. Existem vários métodos analíticos por via seca:
1) Aquecimento: o analito é colocado em um tubo de vidro e aquecido em um bico de
Bunsen. Primeiramente se faz um aquecimento brando, para evitar que o material seja
expelido violentamente do tubo, seguindo para um aquecimento mais vigoroso caso
necessário. Pode ocorrer sublimação ou o material estudado pode fundir ou se decompor
de maneira a alterar a sua cor, ou um gás pode evoluir do sistema e ser identificado por
certas propriedades características.
2) Teste de sopro (blowpipe test): esse teste é feito em um bico de Bunsen com chama
luminosa (aberturas de ventilação completamente fechadas), com aproximadamente 5
cm. Uma chama redutora é produzida ao se soprar levemente um tubo de sopro com a
sua ponta de saída na parte exterior da chama, fazendo com que o cone interior da chama
entre em contato com o analito. Já a chama oxidante é produzida quando a ponta de
saída do tubo de sopro se encontra dentro da chama e se sopra um pouco mais forte do
que no caso da chama redutora, fazendo com que a ponta da chama entre em contato
com o analito.
Esses testes são feitos em uma pequena cavidade de um bloco de carvão, onde uma
pequena quantidade de analito é colocada e aquecida na chama. Os produtos obtidos
com o aquecimento nas chamas oxidante e redutora dão indícios do tipo analito, sendo
os metais nobres mais facilmente identificáveis.
Um esquema do posicionamento do tubo de sopro e da chama é mostrado na figura 1.
Figura 1: posicionamento do tubo de sopro e da chama
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 2 de 10
3) Teste da chama: o teste da chama consiste em volatilizar compostos de metais na chama
do bico de Bunsen, a fim de verificar se ocorre alguma mudança de coloração na chama.
Os cloretos de metais são os compostos mais voláteis, por isso quando se pretende testar
compostos metálicos adiciona-se ácido clorídrico concentrado ao sólido, a fim de
transforma-lo no cloreto correspondente.
O procedimento é o seguinte: usa-se um fio de platina (ou níquel-cromo) com uma volta
na ponta (loop), com aproximadamente 5cm de comprimento, acoplado a uma haste, que
serve como cabo para manejar o fio. Primeiramente limpa-se o fio, mergulhando-o em
ácido clorídrico concentrado e colocando-o na parte mais quente da chama, repetindo
este processo até que a presença do fio na chama não altere sua coloração. Após a
limpeza do fio este é mergulhado em ácido clorídrico concentrado e é colocado sobre
uma pequena porção do analito, de modo que este fique aderido ao loop. O fio, agora
com o analito aderido a ele, é colocado de volta na chama e observa-se a coloração
obtida. Através dessa observação é possível ter indícios de quais metais estavam
presentes na amostra, porém não é possível diferenciar entre alguns metais que emitem
cores parecidas.
4) Testes espectroscópicos: este teste consiste de um melhoramento no teste de chama.
Aqui a luz observada na chama é decomposta em suas linhas espectrais por um prisma
ou uma rede de difração, possibilitando a identificação de qualquer metal, pois as linhas
espectrais são características únicas para cada elemento.
O instrumento usado para decompor e analisar as linhas espectrais é chamado de
espectroscópio, ele é formado basicamente por: um colimador (A) (que é um aparato ótico
que faz com que os raios emitidos pela chama viagem paralelamente uns aos outros)
montado em uma mesa giratória, um prisma (B), um telescópio (C) (por onde observa-se
as linhas espectrais e um tubo (D) que contém as referências para as linhas espectrais.
Um modelo rudimentar de espectroscópio de chama está representado na figura 2.
Figura 2: espectroscópio de chama rudimentar
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 3 de 10
5) Ensaio da pérola de bórax: este ensaio é parecido com o teste de chama, emprega-se
o mesmo fio de platina (ou níquel-cromo) e uma chama incolor em um bico de Bunsen. O
procedimento é o seguinte: limpa-se o fio da mesma maneira que se faz no teste de
chama, quando ele estiver limpo ele deve ser aquecido até ficar rubro e então toca-se o
loop em uma pequena porção de tetraborato de sódio decahidratado, que adere ao fio.
Então coloca-se novamente o fio na porção mais quente da chama e espera-se até o
derretimento do bórax, que forma uma pequena pérola incolor, que consiste de uma
mistura de metaborato de sódio e óxido de boro anidro.
Esta pérola é então umedecida com um pouco de água e é colocada sobre uma pequena
porção de analito, de modo que este fique aderido a pérola.
Com o analito na pérola de bórax, o fio volta a chama: nas regiões oxidante e redutora,
uma de cada vez. Observando-se a coloração da pérola quando quente e quando fria,
em cada região da chama, pode-se ter indícios de qual metal estava presente no analito.
A coloração da pérola de bórax é causada pela formação de metaboratos coloridos, de
acordo com o metal presente na amostra. Nos casos em que a coloração na chama
oxidante é diferente da coloração na chama redutora se deve a mudança no estado de
oxidação (nox) dos metais da amostra.
6) Pérola de fosfato (ou pérola de sal microcósmico): esta pérola é produzida do mesmo
modo que a pérola de bórax, só que usando o hidrogenofosfato de sódio e amônio
tetrahidratado (NaNH4HPO4 . 4H2O) ao invés de bórax, gerando uma pérola incolor. É
especialmente útil na identificação de compostos de sílica (dióxido de silício), pois estes
compostos quando aquecidos na chama liberam dióxido de silício, que não se dissolve
na pérola de fosfato, ficando aparente o “esqueleto” durante e depois da fusão da pérola
com o analito.
O procedimento do ensaio é o mesmo: a pérola é formada, adere-se algum analito a ela
e leva-se as chamas redutora e oxidante para análise das cores da pérola quando quente
e fria.
7) Pérola de carbonato de sódio: é outro teste de pérola, o procedimento para a produção
da pérola é o mesmo, só que usa-se carbonato de sódio como o sal formador da pérola.
A pérola produzida tem uma coloração branca opaca.
O procedimento do ensaio é o mesmo: a pérola umedecida entra em contato com um
pouco de analito, sendo posteriormente aquecida nas chamas oxidante e redutora, para
que seja feita a observação da coloração obtida.
A realização do teste de chama e os ensaios com pérolas dependem da correta alocação do
analito na chama, para isso se faz necessário conhecer a estrutura da chama e suas principais
características.
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 4 de 10
Estrutura da chama não luminosa do bico de Bunsen
Uma chama não luminosa em um bico de Bunsen consiste em três partes: 1) um cone
interno azul (ADBA), composto majoritariamente de gás não queimado; 2) uma ponta luminosa
(D), que só é visível quando as entradas de ar não estão completamente abertas; e 3) um cone
externo (ACBDA), onde ocorre a combustão completa do gás combustível usado.
As principais partes da chama, de acordo com Bunsen, estão identificadas na figura 3.
Figura 3: zonas da chama de um bico de Bunsen
A região com temperatura mais baixa está na base da chama (a), que é usada para
testar substâncias voláteis a fim de determinar se elas provocam alguma mudança de coloração
na chama. É nessa região que é feito o teste de chama.
A parte mais quente da chama é a zona de fusão (b), que fica a cerca de 1/3 da altura
da chama e aproximadamente equidistante do interior e exterior do cone externo, nessa região
são feitos os ensaios de fusibilidade das substâncias e também em conjunto com (a), para testar
as volatilidades relativas das substâncias ou de uma mistura de substâncias.
A zona oxidante inferior (c) está situada na borda mais externa do cone externo e pode
ser usado para a oxidação de substâncias dissolvidas em pérolas de bórax, pérolas carbonato
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 5 de 10
de sódio ou pérola de fosfato (sal microcósmico). É nessa região que são realizados os ensaios
de pérolas (bórax e fosfato) de chama oxidante.
A zona oxidante superior (d) fica na ponta não luminosa da chama, nesta região há um
grande excesso de oxigênio presente e a chama não é tão quente como em (c), pode ser usada
para todos os processos de oxidação nas quais não é necessário uma temperatura muito alta.
A zona redutora superior (e) está localizada na ponta do cone interno azul e é rica em
carbono incandesceste, essa região é especialmente útil para reduzir incrustações de oxido a
metal.
A zona redutora inferior (f) está situada na borda interna do manto próximo ao cone azul
e é aqui que os gases redutores se misturam com o oxigênio do ar, essa é uma zona redutora
de menor poder que (e) e pode ser empregada para a redução de bórax fundido e pérolas
semelhantes. É nessa região que é realizado os ensaios de pérolas (bórax e fosfato) de chama
redutora.
Considerações finais para este experimento
Neste experimento tratamos apenas do ensaio da pérola de bórax. Na literatura não foi
encontrado o responsável pelo desenvolvimento desta técnica, provavelmente foi o resultado do
acúmulo da experiência de diversos estudiosos, mas sabe-se que esta técnica é muito antiga
sendo descrita há pelo menos 105 anos, pois foi encontrado um procedimento para o teste da
pérola de bórax em um livro de 1914, onde são descritos diversos procedimentos para a
caracterização de minerais por métodos de via seca como teste de sopro, pérolas de bórax, teste
de chama e outros. (BRUSH, 1914)
Objetivos Commented [6]: Entender os objetivos do
experimento é entender o por que de está-lo
executando.
Objetivo Geral: exemplificar o uso de uma técnica de análise de via seca.
Objetivo Específico: identificar as diferentes colorações obtidas através do teste da
pérola de bórax com diferentes sais de metais.
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 6 de 10
Materiais e Métodos Commented [7]: Essa parte geralmente é evidenciada
no roteiro, porém é de suma importância aparecer no
relatório. Uma vez que a leitura do relatório deve ser
independente do roteiro.
Materiais:
Tabela 1: materiais e reagentes
Materiais Reagentes
Fio de níquel-cromo Vidro de relógio Cloreto de ferro (II) Cloreto de cobre (II)
Béquer de 50 mL Pisseta com água Cloreto de cobalto Cloreto de níquel
Bico de Bunsen Espátula Oxido de manganês
Isqueiro
Procedimento:
1. Adicionou-se a um vidro de relógio uma pequena porção de tetraborato de sódio
decahidratado (Na2B4O7.10 H2O).
2. Aqueceu-se o fio de níquel-cromo até que este apresentasse rubor, rapidamente
mergulhou-o no bórax pulverizado.
3. Levou-se o sólido aderido à região mais quente da chama (oxidante), originando uma
pérola incolor transparente.
4. Umedeceu-se a pérola e mergulhou-a no analito pulverizado, aderindo uma pequena
quantidade de amostra.
5. Aqueceu-se essa mistura na chama redutora e observou-se a coloração da pérola a
quente e quando resfriada.
6. Repetiu-se o item anterior com a zona oxidante.
7. O fio de níquel-cromo foi limpo, fundindo a pérola na chama e adicionando-a em
recipiente com água. Em seguida, preparou-se novamente uma pérola de bórax para analisar
uma nova amostra.
Resultados e Discussão Commented [8]: Lembrando que trabalho de química
não será classificado como tal se não houver descrição
química a partir de fórmulas químicas.
Discursão a respeito das observações realizadas no experimento
As cores observadas no teste da pérola de bórax estão sumarizadas na tabela abaixo.
Tabela 2: cor obtida na pérola em cada sal estudado
Chama redutora Chama oxidante
Metal
Quente Frio Quente Frio
Marrom Verde
Cobre Incolor Preto
avermelhado escuro
Ferro Verde Verde Marrom Marrom
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 7 de 10
Manganês Marrom Marrom Roxo Roxo
Cobalto Azul Azul Azul Azul
Marrom Marrom
Níquel Cinza Cinza
avermelhado amarelado
No geral os resultados foram como esperado, porém nos itens assinalados em vermelho
houve uma grande diferença de tom entre o observado e o esperado. A tabela abaixo foi retirada
de um livro-texto (Vogel, 1979) e usada para comparação com o resultado obtido.
Tabela 3: resultados esperados para as cores das pérolas de cada composto estudado.
Percebe-se então que os resultados para o Cobre em chama oxidante, Ferro em chama
oxidante e Manganês em chama redutora realmente não foram como esperado. No caso do
cobre, que ficou preto e azul escuro na chama oxidante, pode ser que se tenha adicionado muito
material, fazendo com que a coloração ficasse tão intensa que parecesse preto, ao invés de
verde e verde escuro ao invés de azul. O mesmo pode ter acontecido com o caso do Manganês.
(BRUSH, p.93) Brush relata sobre os efeitos da adição de analito em excesso, onde causava um
escurecimento do tom esperado.
Discursão a respeito das reações químicas ocorridas no experimento
Ao se aquecer o bórax, a fim de se produzir a pérola, notou-se um “suor”, seguido de um
período onde o sal parece estar seco novamente, precedendo a formação da pérola em si. O
“suor” é explicado pela desidratação do sal mediante aquecimento.
Na2B4O7 ∗ 10 H2O ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Δ Na2B4O7 + 10 H2O ↑
O sal seco que foi observado momentos antes da formação da pérola é o tetraborato de
sódio anidro, que quando aquecido suficientemente se decompõe em metaborato de sódio e
óxido de boro, conforme a reação abaixo:
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 8 de 10
Na2B4O7 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Δ 2 NaBO2 + B2O3
A pérola é, portanto, a mistura de metaborato de sódio e óxido de boro. O composto de
grande importância aqui é o óxido de boro, pois é ele quem reage com os óxidos de metais dando
cores a pérola.
Os sais dos metais ao serem aquecidos prolongadamente em qualquer região da chama,
principalmente na região oxidante, resultam no respectivo óxido segundo a reação genérica
abaixo:
2 MCl ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Δ 2 MO + Cl2
E são estes óxidos que reagem com o óxido de boro a fim de colorir a pérola. A diferença
de cor entre o composto aquecido na região oxidante e na região redutora é proveniente da
diferença do estado de oxidação do metal em questão.
Reação do óxido de metal na região oxidante:
MO + B2O3 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Δ 2 M(BO2)2
O óxido de metal reage com o óxido de boro formando o respectivo metaborato.
Reação do óxido de metal na região redutora:
2 M(BO2)2 + C + 4 NaBO2 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Δ CO2 + 2 Na2B4O7 + 2M
Na região redutora da chama está presente carbono elementar incandescente, que é
altamente redutor. Nesta região o metaborato do respectivo metal reage com o carbono
elementar e com o metaborato de sódio, que sempre esteve presente na pérola, reconstituindo
o tetraborato de sódio e formando gás carbônico e metal reduzido a nox 0, ou seja, o metal
elementar.
(BRAINYRESORT, 201-)
Recomendações e Conclusões Commented [9]: É bem oportuno demonstrar que os
objetivos foram atendidos.
Haviam apenas dois fios de níquel-cromo, sendo que um deles estava praticamente
inutilizado, o que fez com que apenas um grupo pudesse realizar o ensaio de cada vez. Por isso
recomenda-se a aquisição de mais unidades deste equipamento e, se possível, que seja
adquiridos fios de platina ao invés de níquel-cromo, pois o fio de platina é o mais adequado a
esta aplicação.
No mais, os objetivos foram alcançados e a técnica foi compreendida.
Pode-se perceber que essa técnica, apesar de ser muito antiga, tem sua utilidade pois
possibilita a identificação de alguns cátions com certa facilidade e com um custo de operação
muito reduzido, se comparado com os métodos espectroscópicos que são usualmente
empregados em análise de cátions metálicos. É uma técnica barata, rápida e de fácil execução,
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 9 de 10
podendo ser empregada em conjunto com técnicas mais rebuscadas, deixando estas mais
dispendiosas para os casos em que o teste com a pérola não for conclusivo.
Referências Bibliográficas Commented [10]: Deve-se seguir um padrão. O
padrão correto é a norma própria para o assunto mas
existem regras com base em copiar as normas para
VOGEL, A. Vogel's textbook of macro and semimicro qualitative analysis. 5th. ed. London: publicação de artigo em revista indexada. No caso da
química no Brasil é comum o uso da regra adotada
Longman, 1979. pela revista Química Nova da SBQ.
BRUSH, G. J. Determinative mineralogy, with an introduction on blowpipe analysis. 16th. ed.
London: Chapman & Hall, 1914.
BRAINYRESORT, Borax bead test. [201-]. Disponível em: <https://www.brainyresort.com/en/borax-bead-
test/>. Acesso em: 17 ago. 2018.
Relatório 1.1 - análise por via seca: ensaio da pérola de bórax
Página 10 de 10
Você também pode gostar
- Potenciometria: aspectos teóricos e práticosNo EverandPotenciometria: aspectos teóricos e práticosAinda não há avaliações
- Determinação Dos Cátions Do Grupo I e IIDocumento16 páginasDeterminação Dos Cátions Do Grupo I e IIGuilherme Fogaça100% (1)
- Cidos e BasesDocumento4 páginasCidos e BasesliviadgpAinda não há avaliações
- Relatório de Quimica Analitica ExpDocumento12 páginasRelatório de Quimica Analitica ExpBeatrice MoraesAinda não há avaliações
- Per Mangani Me TriaDocumento6 páginasPer Mangani Me TriaCarlos AssisAinda não há avaliações
- 04 - Relatorio (Chama)Documento2 páginas04 - Relatorio (Chama)Vanessa PeçanhaAinda não há avaliações
- Relatorio Analitica Grupo VDocumento13 páginasRelatorio Analitica Grupo VMatoz SousaAinda não há avaliações
- Os Elementos Metais Alcalinos TerrososDocumento23 páginasOs Elementos Metais Alcalinos Terrososmarco_santos3079Ainda não há avaliações
- Identificação de Cátions Do Grupo IIDocumento7 páginasIdentificação de Cátions Do Grupo IIAnderson_NizAinda não há avaliações
- Analise de Cátions Do Grupo IDocumento6 páginasAnalise de Cátions Do Grupo IEmmeline de SáAinda não há avaliações
- Compostos de CoordenaçãoDocumento10 páginasCompostos de CoordenaçãoGeovane SouzaAinda não há avaliações
- AnaliticaGrupo 2Documento12 páginasAnaliticaGrupo 2Eduardo OliveiraAinda não há avaliações
- Reações de Identificação de ÂnionsDocumento6 páginasReações de Identificação de ÂnionsAnaElisaTeixeiraAlcobaAinda não há avaliações
- Relatório 3 - Marcha AnalíticaDocumento8 páginasRelatório 3 - Marcha AnalíticaLailaFerreiraAinda não há avaliações
- Metais Alcalinos TerrososDocumento8 páginasMetais Alcalinos TerrososbiancagiseliAinda não há avaliações
- Cátions Do Grupo 1Documento6 páginasCátions Do Grupo 1Bernardino CaluacoAinda não há avaliações
- Relatorio de Sintese Do VanadioDocumento10 páginasRelatorio de Sintese Do VanadioThais Luz SouzaAinda não há avaliações
- Relatório Ânions CaioDocumento30 páginasRelatório Ânions CaioTayane GaruzziAinda não há avaliações
- Relatório Grupo 13Documento9 páginasRelatório Grupo 13Sayonara CaribéAinda não há avaliações
- Cations Grupo 4Documento8 páginasCations Grupo 4AlineNieminenTchekmenianAinda não há avaliações
- Respostas de Raí Da Prática de Formações de Quelatos e Variação de Cores Dos Íons Dos Elementos de Transição.Documento6 páginasRespostas de Raí Da Prática de Formações de Quelatos e Variação de Cores Dos Íons Dos Elementos de Transição.7RaiiAinda não há avaliações
- Grupo II de Cátions (Mg2, Ca2, Sr2, Ba2)Documento6 páginasGrupo II de Cátions (Mg2, Ca2, Sr2, Ba2)Thais Franco CarvalhoAinda não há avaliações
- Relatório Iodo - Química Geral (UFMG)Documento6 páginasRelatório Iodo - Química Geral (UFMG)Júlia SoaresAinda não há avaliações
- Relatório 8Documento12 páginasRelatório 8Adriana MelloAinda não há avaliações
- Marchas CátionsDocumento3 páginasMarchas CátionsAnderson_NizAinda não há avaliações
- Prática 4-Alumen e Crescimento de CristaisDocumento7 páginasPrática 4-Alumen e Crescimento de CristaisNurAinda não há avaliações
- Aula Prática 4: Obtenção e Caracterização Do Gás AcetilenoDocumento15 páginasAula Prática 4: Obtenção e Caracterização Do Gás AcetilenoSamara Lima100% (1)
- Relatório Do Experimento 8Documento5 páginasRelatório Do Experimento 8victoria karoline de paulaAinda não há avaliações
- Relatório Do Grupo IIDocumento12 páginasRelatório Do Grupo IISâmia BragaAinda não há avaliações
- EXPERIÊNCIA-08 OxidaçãoDocumento7 páginasEXPERIÊNCIA-08 OxidaçãoAne MeiraAinda não há avaliações
- Relatório 2 - Solubilidade de Compostos OrgânicosDocumento9 páginasRelatório 2 - Solubilidade de Compostos OrgânicosLeandronmsmAinda não há avaliações
- Relatório 3 - Cátions Do Terceiro GrupoDocumento4 páginasRelatório 3 - Cátions Do Terceiro GrupoLidiane GomesAinda não há avaliações
- Quarto Grupo de Cátions - Bário, Estrôncio e CálcioDocumento6 páginasQuarto Grupo de Cátions - Bário, Estrôncio e CálcioPaloma FerreiraAinda não há avaliações
- Relatório ComplexosDocumento13 páginasRelatório ComplexosGelson Tiago Santos Tavares SilvaAinda não há avaliações
- Apostila de Química de Coordenação (Eunice-Midori) - 2013Documento34 páginasApostila de Química de Coordenação (Eunice-Midori) - 2013shakarotto100% (1)
- Atividade 02 - Analise Elem - Ens - Lassaigne DataDocumento4 páginasAtividade 02 - Analise Elem - Ens - Lassaigne DataReinaldo VelosoAinda não há avaliações
- Relatório Do Grupo 15Documento6 páginasRelatório Do Grupo 15Aline MaíraAinda não há avaliações
- Relatório Do Grupo IVDocumento8 páginasRelatório Do Grupo IVSâmia BragaAinda não há avaliações
- Propriedades Oxidantes e Redutoras Do No3 e No2Documento5 páginasPropriedades Oxidantes e Redutoras Do No3 e No2PauloVidalAinda não há avaliações
- Experimento 2 Alumen de Potassio e CromioDocumento3 páginasExperimento 2 Alumen de Potassio e CromioNick AllenAinda não há avaliações
- Síntese e Caracterização Do Complexo K3Documento7 páginasSíntese e Caracterização Do Complexo K3Laís BarbosaAinda não há avaliações
- Apostilade Qumica Inorgnica ExperimentaDocumento38 páginasApostilade Qumica Inorgnica Experimentarobson serraAinda não há avaliações
- Isomeria Geométrica em Compostos de CoordenaçãoDocumento12 páginasIsomeria Geométrica em Compostos de CoordenaçãoLarissa CristinaAinda não há avaliações
- Dosagem de NiquelDocumento16 páginasDosagem de Niquelhortência_alvesAinda não há avaliações
- Relatorio Química InorgânicaDocumento12 páginasRelatorio Química InorgânicaJoão Pedro Martins OliveiraAinda não há avaliações
- Marcha Analitica Dos CationsDocumento10 páginasMarcha Analitica Dos CationsMariErculanoAinda não há avaliações
- Compostos de Coordenacao Parte 1 TeoriaDocumento46 páginasCompostos de Coordenacao Parte 1 TeoriaRafael Cavalieri Marchi100% (1)
- Caracterização e Identificação Dos Cátions Do Grupo IVDocumento24 páginasCaracterização e Identificação Dos Cátions Do Grupo IVErica MariaAinda não há avaliações
- Cátions Do Grupo 3Documento12 páginasCátions Do Grupo 3Bernardino CaluacoAinda não há avaliações
- Marcha Analítica Cátions IDocumento20 páginasMarcha Analítica Cátions ITiago AlmeidaAinda não há avaliações
- Relatorio AnionsDocumento8 páginasRelatorio AnionsJunia RamosAinda não há avaliações
- Prática - 06 - QUI137 - Síntese - e - Caracterização - de - (Cu (NH3) 4) SO4.H2ODocumento3 páginasPrática - 06 - QUI137 - Síntese - e - Caracterização - de - (Cu (NH3) 4) SO4.H2OajrbaptistaAinda não há avaliações
- Relatorio 7 de Quimica P03Documento8 páginasRelatorio 7 de Quimica P03Caio ZumsteinAinda não há avaliações
- A QUÍMICA DE COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO Nanotecnologia - 2 - 2013Documento26 páginasA QUÍMICA DE COMPOSTOS DE COORDENAÇÃO Nanotecnologia - 2 - 2013lilian6650% (2)
- Relatorio Hexaaquacobalto IIDocumento11 páginasRelatorio Hexaaquacobalto IIIbraima Bente DjaloAinda não há avaliações
- Grupo 1 de CátionsDocumento12 páginasGrupo 1 de CátionsDébora Cindy Costa de LimaAinda não há avaliações
- QGI - Ensaios Na Chama Do Bico de BunsenDocumento4 páginasQGI - Ensaios Na Chama Do Bico de BunsenRoberta LopesAinda não há avaliações
- Relatório Análise Via SecaDocumento6 páginasRelatório Análise Via SecaCarolina Durães BragaAinda não há avaliações
- Teste ChamaDocumento11 páginasTeste ChamaTatiane BretasAinda não há avaliações
- 02-Estudo Do Bico de Bunsen e Teste de ChamaDocumento4 páginas02-Estudo Do Bico de Bunsen e Teste de ChamamariofeolaAinda não há avaliações
- Como SoldarDocumento4 páginasComo SoldarTOGUNAinda não há avaliações
- Resumo de Op3Documento46 páginasResumo de Op3Maria Dorcas Massa MassaAinda não há avaliações
- Metais e DerivadosDocumento110 páginasMetais e DerivadosJotavitorAinda não há avaliações
- Ligação IônicaDocumento31 páginasLigação IônicaDangley CoserAinda não há avaliações
- Tabela PeriódicaDocumento31 páginasTabela PeriódicaKamila Correa100% (3)
- Relatório - Ciclo Do CobreDocumento5 páginasRelatório - Ciclo Do CobreIva Monteiro100% (3)
- Anexo VI CONTEUDOS PROGRAMATICOS AMAZUL 2022Documento24 páginasAnexo VI CONTEUDOS PROGRAMATICOS AMAZUL 2022Gustavo VercellinoAinda não há avaliações
- Como Montar Relatório de ÓleoDocumento8 páginasComo Montar Relatório de ÓleoMichelv_2012Ainda não há avaliações
- Catálogo de Trocadores de Calor A Placas Gaxetado - GBRDocumento20 páginasCatálogo de Trocadores de Calor A Placas Gaxetado - GBRFabricioAinda não há avaliações
- Exercicios Quimica Estrutura Atomica GabaritoDocumento12 páginasExercicios Quimica Estrutura Atomica GabaritoLeonardo FreitasAinda não há avaliações
- Materiais CerâmicosDocumento3 páginasMateriais CerâmicosWagner SantosAinda não há avaliações
- Processos de Obtenção Dos MetaisDocumento12 páginasProcessos de Obtenção Dos MetaisPatricio Paulo BandaliAinda não há avaliações
- Metais de Transição e LigantesDocumento59 páginasMetais de Transição e LigantesWELLINGTON DA SILVA DA COSTAAinda não há avaliações
- Corrosão Associada A Solicitações MecânicasDocumento28 páginasCorrosão Associada A Solicitações MecânicasCaroline CostaAinda não há avaliações
- Apostila de Tecnologia MecânicaDocumento44 páginasApostila de Tecnologia MecânicaLeonardo Tizatto WeinfurterAinda não há avaliações
- Trabalho 1 IA - 4NPCDocumento5 páginasTrabalho 1 IA - 4NPCViana Carlos VianaAinda não há avaliações
- Lista de Magias - Academia Arcana PDFDocumento9 páginasLista de Magias - Academia Arcana PDFElton CastorinoAinda não há avaliações
- Corrosão e ProcessosDocumento120 páginasCorrosão e ProcessosVitor Torres SoaresAinda não há avaliações
- PUCSP2005 1diaDocumento69 páginasPUCSP2005 1diaVINICIUS SANTOS DA SILVAAinda não há avaliações
- PiroNF Aula 07 Processos de Refino 2015-01Documento24 páginasPiroNF Aula 07 Processos de Refino 2015-01Carlos CarvalhalAinda não há avaliações
- JDM F23Documento14 páginasJDM F23thiagoAinda não há avaliações
- MCT-401-1100-BR - ManualDocumento26 páginasMCT-401-1100-BR - ManualtiagoAinda não há avaliações
- Reciclagem de Metais.Documento40 páginasReciclagem de Metais.AllanSantos100% (1)
- 3 Fase - GráficosDocumento34 páginas3 Fase - GráficosinstanteroAinda não há avaliações
- NBR 11850 - 91 (EB-2150) - CANC - Porta-Fusíveis para Fusíveis de Pequeno Porte e Miniatura - 12pagDocumento12 páginasNBR 11850 - 91 (EB-2150) - CANC - Porta-Fusíveis para Fusíveis de Pequeno Porte e Miniatura - 12pagClaudio LorenzoniAinda não há avaliações
- UNO - Banco de QuestoesDocumento283 páginasUNO - Banco de QuestoesMatheus FernandoAinda não há avaliações
- Tipos de Aço para A CutelariaDocumento10 páginasTipos de Aço para A CutelariaGuilhermeFabricioAinda não há avaliações
- Eps 14 Soldagem Astm A 516 GR 60 A 106 GR B Com FcawDocumento22 páginasEps 14 Soldagem Astm A 516 GR 60 A 106 GR B Com FcawSua Vida BrilhaAinda não há avaliações
- Aula EletroerosaoDocumento90 páginasAula Eletroerosaoheitorurbano0% (1)
- Mineralogia Sistematica 1 (Aula 7 Folheto)Documento4 páginasMineralogia Sistematica 1 (Aula 7 Folheto)Ovídio AlbinoAinda não há avaliações