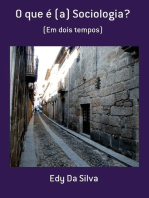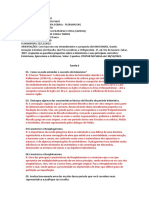Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Filosofia 2º Ano 2018
Apostila Filosofia 2º Ano 2018
Enviado por
Gisele Rodrigues100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
29 visualizações4 páginasO documento descreve a evolução da teoria do conhecimento desde a Antiguidade até Kant, destacando o racionalismo e o empirismo como as principais correntes filosóficas que abordaram o tema de modo divergente, com o racionalismo atribuindo o conhecimento às ideias inatas e o empirismo às experiências sensíveis. Kant propôs o "criticismo" para estabelecer os limites e possibilidades do conhecimento humano.
Descrição original:
Título original
apostila filosofia 2º ano 2018
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento descreve a evolução da teoria do conhecimento desde a Antiguidade até Kant, destacando o racionalismo e o empirismo como as principais correntes filosóficas que abordaram o tema de modo divergente, com o racionalismo atribuindo o conhecimento às ideias inatas e o empirismo às experiências sensíveis. Kant propôs o "criticismo" para estabelecer os limites e possibilidades do conhecimento humano.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
100%(1)100% acharam este documento útil (1 voto)
29 visualizações4 páginasApostila Filosofia 2º Ano 2018
Apostila Filosofia 2º Ano 2018
Enviado por
Gisele RodriguesO documento descreve a evolução da teoria do conhecimento desde a Antiguidade até Kant, destacando o racionalismo e o empirismo como as principais correntes filosóficas que abordaram o tema de modo divergente, com o racionalismo atribuindo o conhecimento às ideias inatas e o empirismo às experiências sensíveis. Kant propôs o "criticismo" para estabelecer os limites e possibilidades do conhecimento humano.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
A TEORIA DO CONHECIMENTO
Da Antigüidade até o início do Renascimento, embora tenham surgido várias
teorias a respeito de como se efetua o conhecimento, não há discordância sobre a
possibilidade de o homem conhecer o real. Do ponto de vista epistemológico, esta é a
posição realista, em que os objetos correspondem plenamente ao conteúdo da
percepção. O Renascimento, entretanto, vai trazer grandes modificações, dentre as quais
vale destacar:
• a separação entre fé e razão, que vai levar ao desenvolvimento do método científico
para o estudo das ciências naturais;
• o antropocentrismo, que estabelece a razão humana como fundamento do saber;
• o interesse pelo saber ativo, em oposição ao saber contemplativo, que leva à
transformação da natureza e ao desenvolvimento das técnicas.
No rastro dessas mudanças, os pensadores do século XVII abordam a temática
do conhecimento de modo inteiramente novo, colocando em questão a própria
possibilidade do conhecimento. Não se trata mais de saber qual é o objeto conhecido.
Deve-se, agora, indagar sobre o sujeito do conhecimento: quais as possibilidades
de engano e acerto? quais os métodos que podemos utilizar para garantir que o
conhecimento seja verdadeiro?
As respostas a essas indagações dão origem a duas correntes filosóficas
diametralmente opostas, a saber, o racionalismo e o empirismo.
O racionalismo
O principal representante do racionalismo no século XVII é o francês René
Descartes, que, descontente com os erros e ilusões dos sentidos, procura o fundamento
do verdadeiro conhecimento. Assim, estabelece a dúvida como método de pensamento
rigoroso. Duvida de tudo que lhe chega através dos sentidos, duvida de todas as ideias
que se apresentam como verdadeiras. À medida que duvida, porém, descobre que
mantém a capacidade de pensar.
Por essa via, estabelece a primeira verdade que não pode ser colocada em
dúvida: se duvido, penso, se penso, existo, embora esse existir não seja físico. Existo
enquanto ser pensante (sujeito ou consciência) que é capaz de duvidar. Formula esta
descoberta em uma frase muito conhecida: Penso, logo existo. A partir dessa primeira
verdade intuída, isto é, concebida "por um espírito puro e atento, tão fácil e distinta, que
nenhuma dúvida resta sobre o que compreendemos", Descartes diferencia dois tipos de
ideias: algumas claras e distintas, outras confusas e duvidosas. Propõe, então, que as
ideias claras e distintas, que são ideias gerais, não derivam do particular, mas já se
encontram no espírito, como instrumentos com que Deus nos dotou para fundamentar a
apreensão de outras verdades. Essas são as ideias inatas, que não estão sujeitas a erro e
que são o fundamento de toda ciência. Para conhecê-las basta que nos voltemos para
nós mesmos, através da reflexão.
É neste ponto que se coloca, com maior nitidez, a necessidade do método para
garantir que a representação corresponda ao objeto representado. O método deve
garantir que:
• as coisas sejam representadas corretamente, sem risco de erro;
• haja controle de todas as etapas das operações intelectuais;
• haja possibilidade de serem feitas deduções que levem ao progresso do conhecimento.
Assim, a questão do método de pensamento toma-se crucial para o
conhecimento filosófico a partir do século XVII. O modelo é o ideal matemático, não
porque lide com números ou grandezas matemáticas, mas porque, fiel ao sentido grego
de ta mathema, visa o conhecimento completo, perfeito e inteiramente racional.
O empirismo
Em reação ao racionalismo cartesiano, principalmente à teoria das ideias inatas,
John Locke escreve, em 1690, o Ensaio sobre o entendimento humano, no qual defende
que todas as ideias têm origem na experiência sensível. É a partir dos dados da
experiência que, por abstração, o entendimento, ou intelecto, produz ideias. A razão
humana é vista como uma folha em branco sobre a qual os objetos vão deixar sua
impressão sensível que será elaborada, através de certos procedimentos mentais, em
ideias particulares e ideias gerais.
Para Locke, todas as nossas ideias provêm de duas fontes: a sensação e a
reflexão, A sensação apreende impressões vindas do mundo externo. A reflexão é o ato
pelo qual o espírito conhece suas próprias operações.
As ideias podem ser simples e complexas. As ideias simples são aquelas que se
impõem à consciência na experiência sensível e são irredutíveis à análise. Ao
correlacionar ideias simples, o espírito constitui as ideias complexas.
David Hume, filósofo escocês, leva mais adiante o empirismo de Locke,
afirmando que as relações são exteriores aos seus termos. Explicando, as relações não
são observáveis, portanto não estão nos objetos. Elas são modos que a natureza humana
tem de passar de um termo a outro, de uma ideia particular a outra. E esses modos são
fruto do hábito ou da crença. Por exemplo, tendo observado a água ferver a 100 graus,
podemos dizer que toda água sempre ferve a 100 graus. Ou, vendo o sol nascer todos os
dias, assumimos que amanhã também nascerá. O que observamos, no entanto, é uma
sequencia de eventos, sem nexo causal. O que nos faz ultrapassar o dado e afirmar mais
do que pode ser alcançado pela experiência é o hábito criado através da observação de
casos semelhantes, a partir do que imaginamos que este caso se comporte da mesma
forma que os outros. Assim, a única base para as ideias ditas gerais é a crença, que, do
ponto de vista do entendimento, faz uma extensão ilegítima do conceito.
O criticismo kantiano
Kant vê a necessidade de proceder à análise crítica da própria razão como meio
de estabelecer seus limites e suas possibilidades. Podemos sintetizar o problema
kantiano na seguinte pergunta: é possível conhecer o ser em si, o suprassensível ou
metafísico através de procedimentos rigorosos da razão? Por seres metafísicos ele
entende Deus, a liberdade e a imortalidade.
O primeiro passo para obter a resposta é fazer a crítica da razão pura. Para
empreender essa tarefa, Kant propõe o "método transcendental", método analítico com o
qual empreenderá a decomposição e o exame das condições de conhecimento e dos
fundamentos da ciência e da experiência em geral.
Feita a reflexão crítica, chega à conclusão de que há duas fontes de
conhecimento: a sensibilidade, que nos dá os objetos, e o entendimento, que pensa esses
objetos. Só pela conjugação das duas fontes é possível ter a experiência do real. Ê a
partir desses dados que Kant faz a revolução na teoria do conhecimento: em vez de
admitir que nosso conhecimento se regula pelo objeto, inverte a hipótese: são os objetos
que devem regular-se pelo nosso modo de conhecer. O sujeito cognoscente tem formas
(ou modos próprios) a partir das quais recebe os objetos.
As formas ou conceitos a priori (anteriores à experiência) são as condições
universais e necessárias para o aparecimento de qualquer coisa à percepção humana e
para que esse aparecimento se torne progressivamente mais inteligível ao entendimento.
Assim, as formas são constitutivas de toda nossa experiência de mundo, de todo nosso
conhecimento. Isto quer dizer que não somos folhas em branco, sobre as quais os
objetos deixam suas impressões, mas, enquanto sujeitos do conhecimento, ajudamos a
construí-lo, colaboramos com nosso modo de perceber e entender o mundo.
A experiência, portanto, é uma unidade sintética, ou seja, não é só a combinação
de matéria ("aquilo que no fenômeno corresponde à sensação") e forma ("aquilo que faz
com que a diversidade do fenômeno seja ordenada na intuição, através de certas
relações"), mas, também, a combinação das formas da intuição e do entendimento e
suas relações funcionais.
EXERCICIO
1) De acordo com a ideia central da teoria do conhecimento, destacaram-se
basicamente duas correntes filosóficas, indique-as.
2) O que significa a palavra: empirismo?
3) Qual é a defesa da corrente filosófica empirista?
4) Explique o significado do termo: racionalismo.
5) Ao que a doutrina racionalista atribui o conhecimento?
6) Qual é a fonte de conhecimento segundo a corrente filosófica racionalista?
7) Segundo o filosofo Immanuel Kant, o homem possui certas faculdades ou
estruturas que são denominadas por ele de?
8) Para Kant o que a razão organiza?
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR BICALHO
APOSTILA DE FILOSOFIA
Professora: Gisele R. Almeida
Serie: 2º ano do ensino médio
2018
Você também pode gostar
- Márcio Peter - O Inconsciente Estruturado Como LinguagemDocumento8 páginasMárcio Peter - O Inconsciente Estruturado Como Linguagemmarcelo-viana100% (1)
- Escala de ValoresDocumento8 páginasEscala de ValoresSérgio HildoAinda não há avaliações
- 001 Rec - Eulina - Filosofia - Conhecimento - 2 01 VespDocumento2 páginas001 Rec - Eulina - Filosofia - Conhecimento - 2 01 VespSérgio Luiz Albino Junior100% (1)
- Filosofia - Exercícios de Exame Nacional Ação Humana Determinismo Radical Determinismo Moderado LibertismoDocumento3 páginasFilosofia - Exercícios de Exame Nacional Ação Humana Determinismo Radical Determinismo Moderado LibertismoApontamentos na Net100% (1)
- Ceja - Apostila Filosofia 2011-G80df3wiDocumento32 páginasCeja - Apostila Filosofia 2011-G80df3wiCarmen LúciaAinda não há avaliações
- Finalidade Anti Metafísica de NagarjunaDocumento13 páginasFinalidade Anti Metafísica de NagarjunaSociedade Sem HinoAinda não há avaliações
- O Surgimento Da SociologiaDocumento13 páginasO Surgimento Da SociologiaLula SocioAinda não há avaliações
- Questões de FilosofiaDocumento9 páginasQuestões de FilosofiageraldoAinda não há avaliações
- Filosofia 1º ConteúdoDocumento5 páginasFilosofia 1º ConteúdoJoabe AraújoAinda não há avaliações
- Prova de Filosofia 2EM 2022Documento2 páginasProva de Filosofia 2EM 2022Filosofia Da Meia Noite100% (1)
- Apostila de Filosofia IDocumento14 páginasApostila de Filosofia ICarlos Eduardo Pereira Alves100% (1)
- Filosofia Antiga - Pré-SocráticosDocumento6 páginasFilosofia Antiga - Pré-SocráticosPatoPATATAAinda não há avaliações
- Atividade DurkheimDocumento5 páginasAtividade DurkheimLuiz PK100% (1)
- Atividade 3º Ano - ESTÉTICADocumento2 páginasAtividade 3º Ano - ESTÉTICAGisele Rodrigues75% (4)
- Avaliação de Sociologia 2 Ano 3 BimestreDocumento2 páginasAvaliação de Sociologia 2 Ano 3 Bimestremarga67Ainda não há avaliações
- FILOSOFIA - Unidade 1: A Origem Da FilosofiaDocumento15 páginasFILOSOFIA - Unidade 1: A Origem Da FilosofiaESPANHOL FAMAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento38 páginasFilosofiaLuana ClaudiaAinda não há avaliações
- Plano de Aula TesteDocumento2 páginasPlano de Aula TesteEduardo Aguiar100% (1)
- Filosofia Moderna Lista de Exercicios Filosofia ENEMDocumento3 páginasFilosofia Moderna Lista de Exercicios Filosofia ENEMDemon AngelAinda não há avaliações
- 3a Filosofia Antiga PDFDocumento9 páginas3a Filosofia Antiga PDFedney cavalcanteAinda não há avaliações
- Material Filosofia EJADocumento44 páginasMaterial Filosofia EJACarla Andrea Mauler SoaresAinda não há avaliações
- Exercícios Do Texto FilosofiaDocumento2 páginasExercícios Do Texto FilosofiaisabelladaysAinda não há avaliações
- Portoed Novoscontextos11 NL Avaliacao Filosofia ReligiaoDocumento3 páginasPortoed Novoscontextos11 NL Avaliacao Filosofia ReligiaoClaúdia OliveiraAinda não há avaliações
- 1 Série - Aula Filosofia e CiênciaDocumento43 páginas1 Série - Aula Filosofia e CiênciaEverton PiottoAinda não há avaliações
- Pré-Socráticos - Questões e Gabarito 2Documento7 páginasPré-Socráticos - Questões e Gabarito 2Saulo LanceAinda não há avaliações
- Prova Bimestral de Filosofia - 4º BimestreDocumento2 páginasProva Bimestral de Filosofia - 4º BimestreMarco MartinsAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento9 páginasFilosofiaFátima ModestoAinda não há avaliações
- Atividade - Filosofia Da Ciência - 01Documento2 páginasAtividade - Filosofia Da Ciência - 01Wanderson AlvesAinda não há avaliações
- Exercicio de Filosofia 1 Bim 2016 Questoes PDFDocumento5 páginasExercicio de Filosofia 1 Bim 2016 Questoes PDFAlana Nascimento100% (1)
- ATIVIDADE DE FILOSOFIA 2º ANO A e C.pdf1 PDFDocumento6 páginasATIVIDADE DE FILOSOFIA 2º ANO A e C.pdf1 PDFNaip3Ainda não há avaliações
- Filosofia 2 Ano Aula 01Documento2 páginasFilosofia 2 Ano Aula 01Raquel NogueiraAinda não há avaliações
- Prova Estudos Independentes 1° AnoDocumento5 páginasProva Estudos Independentes 1° AnoLuis NunesAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Teoria Das Ideias de PlatãoDocumento2 páginasExercícios Sobre Teoria Das Ideias de Platão17102008Ainda não há avaliações
- Fisica e Filosofia Heisenberg PDFDocumento152 páginasFisica e Filosofia Heisenberg PDFedgar anibal100% (1)
- Apostila Geral de Filosofia - 1° Ano F - 1° Bim - 2014Documento8 páginasApostila Geral de Filosofia - 1° Ano F - 1° Bim - 2014Adilson Luiz P. de OliveiraAinda não há avaliações
- Os processos de subjetivação como objeto de estudo da Psicologia: a dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológicaNo EverandOs processos de subjetivação como objeto de estudo da Psicologia: a dialética sujeito-objeto na constituição da ciência psicológicaAinda não há avaliações
- 1º Avaliação Bimestral de Filosofia-RespondidaDocumento2 páginas1º Avaliação Bimestral de Filosofia-RespondidaAdriani Salete Mokfa Panho100% (2)
- 01 - Do Mito Ao LogosDocumento2 páginas01 - Do Mito Ao LogosFernanda Oliveira100% (1)
- Atividade de RO FilosofiaDocumento3 páginasAtividade de RO FilosofiaRita MottaAinda não há avaliações
- ConhecimentoDocumento5 páginasConhecimentoAdriano RodriguesAinda não há avaliações
- Autonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisNo EverandAutonomia da mulher e exercício de direitos reprodutivos e sexuaisAinda não há avaliações
- Filosofia Pré-SocráticosDocumento10 páginasFilosofia Pré-Socráticos4b58kjzky5Ainda não há avaliações
- Hegel - Maneiras Cientificas de Tratar o Direito NaturalDocumento103 páginasHegel - Maneiras Cientificas de Tratar o Direito NaturalBruno Lopes de SouzaAinda não há avaliações
- Sociologia - Vii Etapa 28 04 2023 - OkDocumento1 páginaSociologia - Vii Etapa 28 04 2023 - OkFlávia FreitasAinda não há avaliações
- Cederj Genetica Basica Modulo 1Documento201 páginasCederj Genetica Basica Modulo 1Laís PiccoliAinda não há avaliações
- Mapa Conceitual Antropologia FilosoficaDocumento1 páginaMapa Conceitual Antropologia FilosoficaJailmagagoAinda não há avaliações
- 1filosofia Da Religião Agosto17Documento6 páginas1filosofia Da Religião Agosto17FábioPereiraAinda não há avaliações
- Tarefa 6Documento2 páginasTarefa 6Sergio Sousa100% (1)
- Filosofia - APOSTILA.3ºANO PDFDocumento25 páginasFilosofia - APOSTILA.3ºANO PDFRodrigo Vivi Germano100% (1)
- Filosofia 14 PlataoDocumento17 páginasFilosofia 14 PlataoNanci SantosAinda não há avaliações
- Aula 2. Sócrates, Platão e AristótelesDocumento17 páginasAula 2. Sócrates, Platão e AristótelesLuciana CavalcantiAinda não há avaliações
- A Filosofia É o Amor Pela SabedoriaDocumento4 páginasA Filosofia É o Amor Pela SabedoriaVirgínia NeroAinda não há avaliações
- Atividade Cultura Brasileira 1 TEXTOSDocumento1 páginaAtividade Cultura Brasileira 1 TEXTOSRafael FrancoAinda não há avaliações
- Avaliacao de Recuperacao Filosofia 1 AnoDocumento3 páginasAvaliacao de Recuperacao Filosofia 1 AnoJoão Francisco Cossa0% (1)
- 1 Série - Sociologia - TRILHA - Semana 04Documento1 página1 Série - Sociologia - TRILHA - Semana 04VIVIANE RODRIGUES DARIF SALDANHAS DE ALMEIDA RAMOS100% (1)
- Cap. 13 - A Busca Da Verdade - SlidesDocumento32 páginasCap. 13 - A Busca Da Verdade - SlidesFranceildo Benigno Silva100% (1)
- Apostila de Filosofia Ensino FundamentalDocumento20 páginasApostila de Filosofia Ensino FundamentalAnonymous M9LJA2nkEAinda não há avaliações
- Filosofia Clássica PDFDocumento84 páginasFilosofia Clássica PDFlucimarpl100% (1)
- Resumo de Filosofia (Sócrates, Platão, Aristóteles e Maquiavel)Documento6 páginasResumo de Filosofia (Sócrates, Platão, Aristóteles e Maquiavel)Jordan Fonseca100% (2)
- Exercícios Pré-SocráticosDocumento7 páginasExercícios Pré-SocráticosJoão Victor de AraújoAinda não há avaliações
- HeráclitoDocumento9 páginasHeráclitoketheringomesAinda não há avaliações
- Prova de Recuperação em Filosofia - Ensino MédioDocumento2 páginasProva de Recuperação em Filosofia - Ensino MédioGabriel Cortez Del Barrio100% (1)
- O Periódo Pré-SocráticosDocumento3 páginasO Periódo Pré-SocráticosJosiane BragaAinda não há avaliações
- Pré SocráticosDocumento16 páginasPré SocráticosEduardo Silva100% (1)
- WindowsDocumento30 páginasWindowsAline Moura Savassini LucenaAinda não há avaliações
- Atividade Sobre A Verdade 1º AnoDocumento3 páginasAtividade Sobre A Verdade 1º AnoGisele RodriguesAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia 3º Ano 2018Documento6 páginasApostila de Filosofia 3º Ano 2018Gisele Rodrigues100% (1)
- CMSP - Em03 - 20210506 - Conhecer o Mundo - Parte IDocumento3 páginasCMSP - Em03 - 20210506 - Conhecer o Mundo - Parte IWagner CunhaAinda não há avaliações
- 191 2017 Prova FilosofiaDocumento15 páginas191 2017 Prova FilosofiaAnonymous tdiiN75Hv6Ainda não há avaliações
- As Cinco Vias para Se Provar A Existência de Deus em Tomás de AquinoDocumento20 páginasAs Cinco Vias para Se Provar A Existência de Deus em Tomás de Aquinocarlos_cureAinda não há avaliações
- Cognição e Aprendizagem Da PsicopedagogiaDocumento43 páginasCognição e Aprendizagem Da PsicopedagogiaLuciana BiegasAinda não há avaliações
- Oremos - Watchman NeeDocumento71 páginasOremos - Watchman NeeMarcusMazza100% (1)
- 1 AutoconhecimentoDocumento21 páginas1 AutoconhecimentovieirasantoswilliamAinda não há avaliações
- Ficha de LeituraDocumento8 páginasFicha de LeituraClinton Ricardo100% (2)
- Lacunas No DireitoDocumento18 páginasLacunas No DireitoKaroline Coelho A. SouzaAinda não há avaliações
- Patrística - Contra Os Acadêmicos - Vol. 24Documento6 páginasPatrística - Contra Os Acadêmicos - Vol. 24Miguel ÂngeloAinda não há avaliações
- A Importância Do Método e As Credenciais Da CiênciaDocumento15 páginasA Importância Do Método e As Credenciais Da CiênciagildindaAinda não há avaliações
- Viver para Quê - Ensaios Sobre o Sentido Da VidaDocumento8 páginasViver para Quê - Ensaios Sobre o Sentido Da VidaSouza AldiosAinda não há avaliações
- 1403 Teo CorDocumento10 páginas1403 Teo CorMalena RufinoAinda não há avaliações
- Ateísmo, Agnosticismo, TeísmoDocumento2 páginasAteísmo, Agnosticismo, TeísmomsrencaAinda não há avaliações
- Os Pioneiros e o Pai Da Psicologia CientíficaDocumento3 páginasOs Pioneiros e o Pai Da Psicologia CientíficaDiego Zukovski100% (1)
- Enem Gratuito 2020 21Documento373 páginasEnem Gratuito 2020 21Marcus Vinicios P da Silva100% (1)
- Filosofia - David HumeDocumento3 páginasFilosofia - David HumejoanaAinda não há avaliações
- Corporeidade e Preconceito Através Do Pensamento de Jean-Paul SartreDocumento23 páginasCorporeidade e Preconceito Através Do Pensamento de Jean-Paul SartrebrunoAinda não há avaliações
- 14284-Texto Do Artigo-53271-1-10-20190131Documento38 páginas14284-Texto Do Artigo-53271-1-10-20190131Maycon Da Silva TannisAinda não há avaliações
- A Teoria de Vigotski - Conceitos e Implicações para A EducaçãoDocumento19 páginasA Teoria de Vigotski - Conceitos e Implicações para A EducaçãoketllepAinda não há avaliações
- Max Weber e o Problema Da DialéticaDocumento184 páginasMax Weber e o Problema Da DialéticaLuiz AlexandreAinda não há avaliações
- O Método CartográficoDocumento15 páginasO Método CartográficoMalu Magalhães SanchesAinda não há avaliações
- Popper Ciencia Racionalidade Newton SmithDocumento5 páginasPopper Ciencia Racionalidade Newton SmithTaise PortoAinda não há avaliações
- Bhagavad Gita Versos Selecionados Advaita PDFDocumento5 páginasBhagavad Gita Versos Selecionados Advaita PDFBrunoSantosAinda não há avaliações