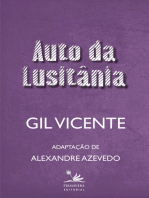Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teste Nº2
Teste Nº2
Enviado por
Vitor Leal0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
177 visualizações5 páginasO poema reflete sobre a introspecção do sujeito poético ao observar um lago mudo, questionando se pensa em tudo ou se esquece, não sabendo se é feliz ou deseja sê-lo. As temáticas da realidade versus sonhos e a dor de pensar emergem da personificação da brisa e água.
Descrição original:
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO poema reflete sobre a introspecção do sujeito poético ao observar um lago mudo, questionando se pensa em tudo ou se esquece, não sabendo se é feliz ou deseja sê-lo. As temáticas da realidade versus sonhos e a dor de pensar emergem da personificação da brisa e água.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
177 visualizações5 páginasTeste Nº2
Teste Nº2
Enviado por
Vitor LealO poema reflete sobre a introspecção do sujeito poético ao observar um lago mudo, questionando se pensa em tudo ou se esquece, não sabendo se é feliz ou deseja sê-lo. As temáticas da realidade versus sonhos e a dor de pensar emergem da personificação da brisa e água.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
Teste Nº2
Contemplo o lago mudo
Que uma brisa estremece.
Não sei se penso em tudo
Ou se tudo me esquece.
O lago nada me diz,
Não sinto a brisa mexê-lo.
Não sei se sou feliz
Nem se desejo sê-lo.
Trémulos vincos risonhos
Na água adormecida.
Por que fiz eu dos sonhos
A minha única vida?
Fernando Pessoa, Poesia do Eu (edição de Richard Zenith),
Porto, Assírio & Alvim, 2014, pp. 204-205
1. Comprove que o “lago” é o ponto de partida para uma análise introspetiva,
levada a cabo pelo sujeito poético.
R: É ao observar o lago, a realidade concreta, que o sujeito se evade através do
pensamento e inicia uma reflexão de natureza existencial. Questiona a maneira
de ser feliz e a irrealização dos sonhos nos quais fundamentou a sua vida e,
portanto, não viveu porque a construiu com base nos sonhos. Esta ideia
percebesse nos dois últimos versos (“Por que fiz eu dos sonhos / A minha única
vida?”) que formam uma espécie de lamento e de autorreprovação. Por isso,
mesmo inserido numa realidade física concreta, o “eu” não encontra aquilo que o
motive e o faça sair da angústia existencial em que vive. Por isso lamenta o ter
vivido uma vida fundada em sonhos.
2. Explicite de que modo se podem articular as temáticas “sonho e realidade”
e “a dor de pensar”.
R: Logo na primeira quadra surgem duas realidades distintas: a do lago (física e
concreta) e a do “eu” que pensa, sendo esta a sobrepor-se à primeira, uma vez
que afirma “Não sei se penso em tudo / Ou se tudo me esquece”, onde
claramente se percebe que o pensamento perturba a razão e os sentimentos,
facto que remete para a dor de pensar. Já na última estrofe, o destaco é para
o sonho, expressando a ideia de que a vida do sujeito poético foi feita de
sonhos que o impediram de viver: a realidade acabou por conflituar com o
sonho, fazendo com que os sentimentos disfóricos se apossassem deste “eu”
que revela desconforto, tristeza e angústia por não saber viver
3. Evidencie o recurso à personificação e explique a sua expressividade.
R: A personificação é visível em vários versos já que são atribuídas
características humanas ao lago, à brisa e à água. Assim, expressões como “o
lago mudo” (v. 1), “uma brisa que estremece” (v. 2) ou “água adormecida” (v. 10)
são ilustrativos deste recurso expressivo, sugerindo o modo como o sujeito
poético perceciona a realidade física que o rodeia. Ao mesmo tempo, permite
perceber o alheamento dos elementos naturais face ao estado de espírito do
“eu”, parecendo até contribuir para acentuar ainda mais o negativismo que o
domina.
Ainda o apanhamos!
O suplemento Atual do último Expresso traz um artigo extremamente interessante
de Carlos Reis, intitulado “Os Maias depois de Eça”. Carlos Reis é, sem dúvida, um
dos maiores especialistas contemporâneos da obra de Eça de Queirós e coordena a
edição crítica das suas obras, em curso na Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
sendo autor de vários textos definitivos sobre o romancista.
O propósito evidente do artigo é o de “legitimar” (o que talvez não fosse tão
necessário quanto isso...) a iniciativa que o Expresso tomou ao convidar seis
notáveis autores a escreverem uma “continuação” do romance queirosiano até 1973,
ano da fundação do semanário.
A questão fulcral parece ser a de saber se Os Maias são um romance
“definitivamente ‘fechado’” e o que é que explica a sua fulgurante permanência no
cânone, para além de leituras mais ou menos superficiais a que a obra foi dando
lugar durante mais de cem anos. E Carlos Reis afirma que “Os Maias parecem ter
sido escritos para serem continuados”, apontando passagens que poderiam indiciá-
lo e vendo em Carlos Fradique Mendes, na esteira de António José Saraiva, a
consubstanciação de um prolongamento de Carlos da Maia.
Sem estar inteiramente de acordo com Carlos Reis, acho que a ideia de propor a
continuação da obra de Eça constitui um desafio interessantíssimo quer para os
autores quer para os leitores. Não estou inteiramente de acordo com o professor
de Coimbra porque, na última página do romance, a célebre exclamação de Carlos da
Maia e de João da Ega, “– Ainda o apanhamos!”, enquanto se esfalfam a correr para
o americano, de modo a não faltarem ao jantar combinado no Bragança, não
envolve apenas o desmentido da conversa que eles acabam de ter sobre a falta de
sentido de qualquer esforço: reduz também a tragédia amorosa e familiar por que
Carlos passou a uma mera trivialidade e está nisso uma poderosa manifestação,
tanto da ironia de Eça, como do cinismo comportamental que ele confere a essas
duas personagens.
Ora, partindo desta leitura, parece-me que seria difícil conceber uma continuação,
não obstante a obra parecer suficientemente “aberta” ... Todavia, nada há que a
impeça: a ideia em si é aliciante e há precedentes ficcionais com Os Maias e outras
obras de Eça, sem falar em adaptações ao teatro e ao cinema: por exemplo, em
Madame, Maria Velho da Costa põe em cena Maria Eduarda, personagem de Eça, e
Capitu, personagem de Machado de Assis, ocorrendo-me também, embora
neste caso sem relação direta com Os Maias, o romance Nação Crioula, de José
Eduardo Agualusa, que em 1997 “prolonga” a correspondência de Fradique Mendes,
fazendo-o reviver e escrever em exóticas paragens.
Vasco Graça Moura, in DN, edição online de 31 de julho de 2013
1. O texto tem marcas de (D)
(A) exposição sobre um tema.
(B) discurso político.
(C) memórias.
(D) artigo de opinião.
2. A ideia de dar continuação a Os Maias (A)
(A) merece algumas reservas a Vasco Graça Moura.
(B) foi do professor Carlos Reis e de mais seis autores.
(C) entusiasmou o autor do texto e os envolvidos na iniciativa.
(D) nasceu da natureza do romance, já que a obra é aberta.
3. Para o autor do texto parece difícil dar continuidade a Os Maias (B)
(A) recordando adaptações falhadas do romance.
(B) embora acabe por aceitar essa possibilidade.
(C) porque a forma como termina é conclusiva.
(D) dada a inexistência de outros finais ficcionais.
4. Os processos fonológicos que se verificam na evolução de opera para “obra” (l. 3)
são (B)
(A) prótese e epêntese.
(B) síncope e sonorização.
(C) crase e apócope.
(D) dissimilação e sinérese.
5. O termo sublinhado em “saber se os Maias” classifica-se como (B)
(A) conjunção subordinativa condicional.
(B) conjunção subordinativa completiva.
(C) pronome possessivo.
(D) pronome pessoal.
6. Ao utilizar o nome “Carlos Reis” (l. 14) e “o professor de Coimbra” (l. 16), o autor
assegura a coesão (C)
(A) interfrásica.
(B) temporal.
(C) lexical.
(D) frásica.
7. A utilização das aspas em “Ainda o apanhamos” (l. 17), justifica-se por se tratar
de uma (A)
(A) citação.
(B) opinião de um autor do texto.
(C) frase em discurso indireto livre.
(D) frase em discurso direto.
8. Classifique, delimitando, as orações presentes em “que a ideia de propor a
continuação da obra de Eça constitui um desafio interessantíssimo” (ll. 14-
15).
R: “que a ideia / de propor a continuação da obra de Eça/ constitui um desafio
interessantíssimo” são ambas subordinadas substantivas completivas.
9. Indique o referente do pronome pessoal presente em “Todavia, nada há que
a impeça” (l. 24).
R: O pronome pessoal “a” refere-se a “uma continuação”.
10. Identifique a função sintática do constituinte sublinhado em “põe em cena
Maria Eduarda” (l. 26).
R: Complemento oblíquo.
GRUPO III
Tal como Vasco Graça Moura reconhece, são muitas as adaptações
cinematográficas ou teatrais de obras literárias.
Num texto de opinião, de 170 a 250 palavras, refira-se à importância ou à
transgressão decorrentes dessas adaptações, utilizando, no mínimo, dois
argumentos e, pelo menos, um exemplo significativo, para cada um deles, de modo a
defender convenientemente o seu ponto de vista.
Introdução – Tendência para adaptações de obras literárias e razões subjacentes
1º argumento: vantagens das adaptações – contacto mais aliciante e motivador
Exemplo: versão cinematográfica e teatral de Os Maias para o público escolar
2º argumento: desvantagens decorrentes das adaptações – alteração do conteúdo e
consequente interpretação errada
Exemplo: a novela brasileira baseada no romance queirosiano ou a versão
cinematográfica de A tempestade
Conclusão – Os aspetos ficcionais ou a fidelidade à obra não reduzem o valor à
obra, mesmo que adaptada.
Você também pode gostar
- SRS-2 - CORREÇÃO DesprotegidoDocumento8 páginasSRS-2 - CORREÇÃO Desprotegidoelaine100% (1)
- PT 3Documento10 páginasPT 3Diogo Alexandre0% (1)
- OracoesDocumento41 páginasOracoesSergio Albino69% (13)
- Manuscritos da Dança em Santa Maria/RS: História e MemóriaNo EverandManuscritos da Dança em Santa Maria/RS: História e MemóriaAinda não há avaliações
- Teste Saramago - Proposta de CorreçãoDocumento1 páginaTeste Saramago - Proposta de CorreçãoddAinda não há avaliações
- Notas Sobre Tavira - Alvaro de CamposDocumento1 páginaNotas Sobre Tavira - Alvaro de CamposFrancisco SilvaAinda não há avaliações
- Pessoa OrtonimoDocumento1 páginaPessoa OrtonimoRuben MartinsAinda não há avaliações
- Ae Pal12 Teste Mar2020 SolucoesDocumento3 páginasAe Pal12 Teste Mar2020 SolucoesBeatriz Santos100% (1)
- Amor de PerdiçãoDocumento10 páginasAmor de Perdiçãoruimpacheco2464100% (1)
- Teste Palavras 12 Livro DesassossegoDocumento7 páginasTeste Palavras 12 Livro DesassossegoMilena CarvalhaisAinda não há avaliações
- Certificado BDocumento32 páginasCertificado Brufus maculuve78% (9)
- Ae Pag12 Teste 2Documento6 páginasAe Pag12 Teste 2aluno.12351Ainda não há avaliações
- Ficha Formativa Educação Literária Leitura Gramática - FP Ortónimo e Heterónimos (Treino) - CorreçãoDocumento6 páginasFicha Formativa Educação Literária Leitura Gramática - FP Ortónimo e Heterónimos (Treino) - CorreçãoGui FigasAinda não há avaliações
- Prova Escrita de Portu 12º Ano v. 2 NovoDocumento5 páginasProva Escrita de Portu 12º Ano v. 2 NovoAdelaide Eleuterio0% (1)
- Ae Pal12 Teste1 Out2019 CorrecaoDocumento2 páginasAe Pal12 Teste1 Out2019 Correcaoflorbelabf31Ainda não há avaliações
- Ficha Gramatica CaeiroDocumento2 páginasFicha Gramatica CaeiroPaula Alexandra Jordão Fernandes Angelo 3000% (2)
- Questionário Antero de QuentalDocumento2 páginasQuestionário Antero de QuentalCatarina SilvaAinda não há avaliações
- Teste 3 12E PDFDocumento5 páginasTeste 3 12E PDFGuilherme RodriguesAinda não há avaliações
- Na Casa Defronte de Mim e Dos Meus SonhosDocumento3 páginasNa Casa Defronte de Mim e Dos Meus SonhosRoberto Santos WjwsAinda não há avaliações
- Avé MariaDocumento6 páginasAvé MarianataliaAinda não há avaliações
- Teste 3 12E CORREÇÃODocumento5 páginasTeste 3 12E CORREÇÃOGuilherme Rodrigues100% (1)
- Memorial Do ConventoDocumento7 páginasMemorial Do ConventoTome FerreiraAinda não há avaliações
- Análise Do Poema Quem Me Roubou... Defernando PessoaDocumento2 páginasAnálise Do Poema Quem Me Roubou... Defernando Pessoafatimamendonca100% (1)
- Memorial Do Convento - CapasDocumento68 páginasMemorial Do Convento - CapasCláudia Vieira SantosAinda não há avaliações
- Aniversário EuDocumento14 páginasAniversário Eualice ferroAinda não há avaliações
- Testen3 2016 17 Reisecampos 170209205237Documento6 páginasTesten3 2016 17 Reisecampos 170209205237Maria De Jesus BezerraAinda não há avaliações
- 2018-2019 - Ficha Síntese de Avaliação O Sentimento Dum Ocidental - Com CorreçãoDocumento4 páginas2018-2019 - Ficha Síntese de Avaliação O Sentimento Dum Ocidental - Com CorreçãoBrígida da Rocha Gandarinho100% (1)
- Tipo TesteDocumento5 páginasTipo TesteLeoPro Player100% (1)
- Ficha de TrabalhoDocumento6 páginasFicha de TrabalhoDiogo AlexandreAinda não há avaliações
- CO Teste ASA 12.º - Documentario SaramagoDocumento3 páginasCO Teste ASA 12.º - Documentario SaramagoAna SimõesAinda não há avaliações
- Oexp12 Ficha Ed Lit Pessoa OrtonimoDocumento1 páginaOexp12 Ficha Ed Lit Pessoa OrtonimoMiguel CastroAinda não há avaliações
- FICHA DE VERIFICAÇÃO DE LEITURA Memorial Do ConventoDocumento4 páginasFICHA DE VERIFICAÇÃO DE LEITURA Memorial Do ConventoDaniela RosaAinda não há avaliações
- 25 de Março Poetas ContemporâneosDocumento36 páginas25 de Março Poetas ContemporâneosMarlene SantosAinda não há avaliações
- Torga - NegrilhoDocumento2 páginasTorga - NegrilhoMarta Ribeiro100% (2)
- Correcao Fichas U1Documento16 páginasCorrecao Fichas U1MINIAinda não há avaliações
- AntemanhãDocumento1 páginaAntemanhãEliana ErnestoAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - Fernando Pessoa Ortónimo, Escolha MúltiplaDocumento1 páginaFicha de Trabalho - Fernando Pessoa Ortónimo, Escolha MúltiplaPatricia PereiraAinda não há avaliações
- Ricardo Reis - FichaDocumento4 páginasRicardo Reis - Fichabeatriz maria delgadoAinda não há avaliações
- Sempre É Uma CompanhiaDocumento11 páginasSempre É Uma CompanhiaCláudia Ferreira100% (1)
- Ae Pal12 Teste4 Marco2019Documento4 páginasAe Pal12 Teste4 Marco2019gonçaloAinda não há avaliações
- UlissesDocumento3 páginasUlissesKlau LuisAinda não há avaliações
- Contos: "Um Sopro de Vida" "E Sentem Que Não Estão Já Tão Distantes As Suas Pobres Casas."Documento1 páginaContos: "Um Sopro de Vida" "E Sentem Que Não Estão Já Tão Distantes As Suas Pobres Casas."FJDO0% (1)
- Mensagem - Génese, Estrutura e Classificação DaDocumento9 páginasMensagem - Génese, Estrutura e Classificação Dagviais4992Ainda não há avaliações
- O Conde D HenriqueDocumento2 páginasO Conde D HenriqueIsabelle Da Silva ValenteAinda não há avaliações
- Teste Pessoa Chove Que Fiz Eu Da VidaDocumento4 páginasTeste Pessoa Chove Que Fiz Eu Da VidaMarlene Dias Santos100% (1)
- RR1 PDFDocumento1 páginaRR1 PDFFJDOAinda não há avaliações
- O Dos Castelos AnáliseDocumento1 páginaO Dos Castelos AnáliseRita Manguinhas100% (2)
- Oexp12 Teste 6 SaramagoDocumento9 páginasOexp12 Teste 6 SaramagoMaria Manuela LimaAinda não há avaliações
- EXE ACampos Acordo de Noite Muito de Noite, No Silêncio TodoDocumento5 páginasEXE ACampos Acordo de Noite Muito de Noite, No Silêncio Todoquimdafaia59Ainda não há avaliações
- Mpag12 Questao Aula Oralidade Fernando Pessoa OrtonimoDocumento4 páginasMpag12 Questao Aula Oralidade Fernando Pessoa OrtonimoLiliana FerreiraAinda não há avaliações
- Não É Verdade: Grupo IDocumento2 páginasNão É Verdade: Grupo IAndreia FilipaAinda não há avaliações
- UNSc Com Os Olhos PostosDocumento2 páginasUNSc Com Os Olhos PostosAnonymous grm9I6faNAinda não há avaliações
- Eugénio de AndradeDocumento2 páginasEugénio de AndradeDaria LyashenkoAinda não há avaliações
- Memorial Do Convento 17Documento1 páginaMemorial Do Convento 17RITA ALMEIDA SOUSAAinda não há avaliações
- Grupo I: Lê o Excerto Do Conto "George" de Maria Judite de CarvalhoDocumento1 páginaGrupo I: Lê o Excerto Do Conto "George" de Maria Judite de CarvalhoFJDOAinda não há avaliações
- (4.2.1) Mensagens12 - DP - (Testes E)Documento9 páginas(4.2.1) Mensagens12 - DP - (Testes E)Sofia FernandesAinda não há avaliações
- Alberto CaeiroDocumento4 páginasAlberto CaeiroAlice RodriguesAinda não há avaliações
- Álvaro de Campos ExercíciosDocumento3 páginasÁlvaro de Campos Exercíciosbeatriz maria delgadoAinda não há avaliações
- Mário de Carvalh1Documento4 páginasMário de Carvalh1Márcia Soares100% (1)
- Frei Luis de Sousa - Estrutura Interna e Externa (Blog11 11-12) PDFDocumento1 páginaFrei Luis de Sousa - Estrutura Interna e Externa (Blog11 11-12) PDFairpereiraAinda não há avaliações
- Uma Vida à Sua Frente de Romain Gary (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoNo EverandUma Vida à Sua Frente de Romain Gary (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoAinda não há avaliações
- Grafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)No EverandGrafias da cidade na poesia contemporânea (Brasil-Portugal)Ainda não há avaliações
- Tristão Da Cunha A Ilha Mais Isolada Do MundoDocumento11 páginasTristão Da Cunha A Ilha Mais Isolada Do MundoanapanacebezerraAinda não há avaliações
- Auditoria Interna em Concessionária de Veículos, Através Da Contabilidade IntegradaDocumento9 páginasAuditoria Interna em Concessionária de Veículos, Através Da Contabilidade IntegradaroggarbruAinda não há avaliações
- OUTRAS PALAVRAS. A Rede Do Poder Corporativo MundialDocumento7 páginasOUTRAS PALAVRAS. A Rede Do Poder Corporativo MundialJoilza LeitãoAinda não há avaliações
- Exercício Da OdontologiaDocumento13 páginasExercício Da OdontologiaAlineAinda não há avaliações
- Critérios de Avaliação - CMA - 11-12Documento2 páginasCritérios de Avaliação - CMA - 11-12ad05ms06Ainda não há avaliações
- O Talentoso Ripley - Patricia HighsmithDocumento271 páginasO Talentoso Ripley - Patricia HighsmithMiguel MoraisAinda não há avaliações
- Prova 4 CespeDocumento7 páginasProva 4 CespeLeonan CostaAinda não há avaliações
- A Revolta de Barue RETIFDocumento14 páginasA Revolta de Barue RETIFOtilio MatolaAinda não há avaliações
- Deus e CaravaggioDocumento137 páginasDeus e CaravaggioDaniel VeigaAinda não há avaliações
- Curso OAB - Direito Processual Do Trabalho - Aryanna Linhares - PeçasDocumento7 páginasCurso OAB - Direito Processual Do Trabalho - Aryanna Linhares - PeçasMayk Gomes100% (1)
- Calendario Academico 2023Documento12 páginasCalendario Academico 2023Eduardo Wenzel BriãoAinda não há avaliações
- Artigo 07 AlmasDocumento26 páginasArtigo 07 AlmasMagno SantosAinda não há avaliações
- Missões IndígenasDocumento19 páginasMissões IndígenasAlex MachadoAinda não há avaliações
- Dss08 Arrumação Limpeza e Ordenação São Bons HábitosDocumento3 páginasDss08 Arrumação Limpeza e Ordenação São Bons HábitosMarcele JesusAinda não há avaliações
- Matriz Curricular Gestao Financeira PDFDocumento1 páginaMatriz Curricular Gestao Financeira PDFAnonymous GQqsqXAinda não há avaliações
- Aula-1 - Mapa Mental - Workshop FreelaeDocumento6 páginasAula-1 - Mapa Mental - Workshop FreelaemaxAinda não há avaliações
- Dimensionamento EsgotoDocumento5 páginasDimensionamento EsgotoRaphael LMAinda não há avaliações
- PR 2003 56Documento94 páginasPR 2003 56Wesley LeiteAinda não há avaliações
- Avaliação NR 33 16 HorasDocumento2 páginasAvaliação NR 33 16 HorasElias AlvesAinda não há avaliações
- 1598288503e-Book HR - VOLUME 2Documento125 páginas1598288503e-Book HR - VOLUME 2Sergio Martín EncinaAinda não há avaliações
- História Da América ColonialDocumento2 páginasHistória Da América ColonialJuliana PereiraAinda não há avaliações
- Zooneamento RJDocumento138 páginasZooneamento RJvitorAinda não há avaliações
- Apnt 1 2022Documento3 páginasApnt 1 2022PedroTeixeiraFerreiraAinda não há avaliações
- Anais IX SITRAERDocumento737 páginasAnais IX SITRAERevandrojsAinda não há avaliações
- Projeto de Análise Do Mercado Dos VernizesDocumento13 páginasProjeto de Análise Do Mercado Dos VernizesFrancisca RochaAinda não há avaliações
- Aulas Processo Civil Turma 6 - OA Porto CE 2018Documento77 páginasAulas Processo Civil Turma 6 - OA Porto CE 2018David Salvador CerqueiraAinda não há avaliações
- Gestao EducacionalDocumento88 páginasGestao EducacionalSergio Rangel DuarteAinda não há avaliações