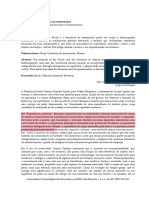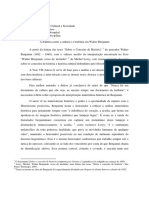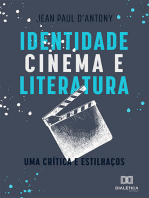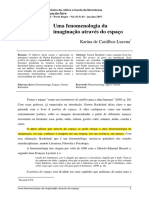Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Considerações Sobre "Experiência E Pobreza" de Walter Benjamin Considerations On "Experience and Poverty" by Walter Benjamin
Enviado por
poingDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Considerações Sobre "Experiência E Pobreza" de Walter Benjamin Considerations On "Experience and Poverty" by Walter Benjamin
Enviado por
poingDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CONSIDERAÇÕES SOBRE “EXPERIÊNCIA E POBREZA” DE
WALTER BENJAMIN
CONSIDERATIONS ON "EXPERIENCE AND POVERTY" BY WALTER
BENJAMIN
Ângela Lima Calou*
Recebido em: 02/2018
Aprovado em: 03/2018
Resumo: Para o Walter Benjamin da década de 1930, o mundo moderno apresenta-se como locus
de um paulatino empobrecimento da experiência humana, determinado à luz das transformações
fixadas pela ascensão e radicalização das forças seculares produtivas. O presente artigo assume por
escopo a apresentação deste debate em seu ensaio de 1933 intitulado “Experiência e Pobreza”, no
qual a reflexão sobre o estatuto da experiência configura-se como uma chave de leitura da metrópole
moderna.
Palavras-Chave: Modernidade; Experiência; Walter Benjamin.
Abstract: For Walter Benjamin of the 1930s, the modern world presents itself as the locus of a
gradual impoverishment of human experience, determined in the light of the transformations fixed
by the rise and radicalization of productive secular forces. The present article aims to present this
debate in his 1933 essay entitled "Experience and Poverty", in which the reflection on the status of
experience is a key to the reading of modern metropole.
Key-words: Modernity; Experience; Walter Benjamin.
Introdução
Em Experiência e pobreza (1933), Walter Benjamin recorre a uma diversidade de
elementos próprios às suas circunstâncias históricas a fim do esboço da caracterização da
modernidade como território no qual a expressão da experiência não possui o significado que
outrora a determinou, na medida em que se proliferam os efeitos da Primeira Guerra e do estágio
da economia capitalista de então, cujos desdobramentos respondem pela introdução, no tempo,
*Doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Professora do quadro efetivo do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte – IFRN.
Problemata: R. Intern. Fil. V. 9. n. 1 (2018), p. 96-106 ISSN 2236-8612
doi:http://dx.doi.org/10.7443/problemata.v9i1.38716
97 Ângela Lima Calou
de uma crise da faculdade perceptiva. A parábola de um velho que ante a iminência da morte
forja por disposição testamentária, em favor de seus filhos, uma herança baseada na palavra da
tradição dá início à exposição desta temática, afirmando-nos que o conteúdo da experiência
revela-se como um dado no qual se aninha a sabedoria:
Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no momento da
morte revela a seus filhos a existência de um tesouro enterrado em seus
vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro.
Com a chegada do outono, as vinhas produzem mais que qualquer outra na
região. (BENJAMIN, 1994a, p. 114).
Esta pequena narrativa expressa, em seu infratexto, um sentido sábio. O que se
transmitiu, em verdade, foi nada menos que uma certa experiência: a compreensão de que a
felicidade não se situa no ouro a ser encontrado, mas no trabalho propriamente dito. Segundo
Benjamin, experiências como esta foram transmitidas de geração a geração, na forma da
autoridade de provérbios ou de histórias de países longínquos passados adiante e capazes de
transmitir a outrem uma moral da existência, mediante a qual se desenha no percurso do
indivíduo um marco de referência, a comunidade de uma prescrição que ele “um dia ainda
compreenderá”. “Que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar
histórias como elas devem ser contadas?” é o que, no entanto, questiona Benjamin (1994a, p.
114), assinalando para o esvaziamento do laço entre a palavra e a duração da palavra, fato que
inviabiliza o seu poder percuciente, evidenciando a pouca valia de um provérbio ou a
impossibilidade de lidar com a juventude invocando a própria experiência em meio ao arranjo
desta conjuntura.
O que se insinua neste caso, é que “as ações da experiência estão em baixa”
(BENJAMIN, 1994a, p. 114), embora o período em questão seja aquele próximo a uma geração
de homens e mulheres que viveram entre os anos de 1914 e 1918, isto é, que foram testemunhas
do terrível acontecimento histórico decorrido neste período. Para Benjamin (1994a, p. 115), isto
não parece estranho, pois já ali se podia perceber “que os combatentes tinham voltado
silenciosos do campo de batalha. Mais pobres em experiências comunicáveis, e não mais ricos”.
Mutismo decorrente do esmagamento plasmado na força bélica ancorada no avanço técnico em
sua promoção de experiências dificilmente transmissíveis de boca em boca, cujo único
resquício de elemento comunicado salta enquanto silêncio, que não é outro senão um modo de
exteriorização da pobreza da experiência moderna decorrida de um conjunto feito de
esgotamentos e rupturas que seriam potencializados nos anos seguintes pelo advento do
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
Considerações sobre “experiência e pobreza” de Walter Benjamin 98
fenômeno totalitário.
Da pobreza que é preciso professar
Se a experiência em sentido pleno realiza-se como produto de um vivido que articula
a sabedoria em vista de sua efetivação em uma dimensão prática, compreende-se, assim, que as
experiências desses anos vão de encontro ao que de fato pode ser compreendido enquanto tal,
“porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas que a experiência
estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a experiência do
corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes” (BENJAMIN, 1994a, p. 115). De
modo que se a experiência transmitida pela autoridade da tradição constituiu-se como um índice
prescritivo, na paisagem do pós-guerra, diferente em tudo para aqueles que se locomoveram
ainda por meio de um “bonde puxado por cavalos” em contraposição aos aviões que lançam
gases naquela hora, as nuvens tornam-se o último vestígio de reconhecimento para estes frágeis
corpos submetidos ao jogo doble de explosões destruidoras – o que significa, por sua vez, que
o traço de um caráter evanescente sublinha como transitórios e passageiros quaisquer valores
de orientação.
Depreende-se, nesse sentido, que “uma nova forma de miséria surgiu com esse
monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem” (BENJAMIN, 1994a, p.
115). Esta miséria, para Benjamin, é signo do despontar de uma bipolaridade: a um só tempo,
ciência que avança e guerra que estoura, domínio técnico da natureza e cárcere do homem em
um mundo inventado por ele. Ameaça à autonomia humana é o processo de autonomização da
técnica. No interior do espírito os escombros do confronto exterior são refletidos como em um
espelho, reproduzindo em um âmbito espiritual o indefinido das ruínas do concreto reduzido a
poeira. O reverso da miséria instaurada é angústia produtora de abstrações, de acordo com
Benjamin (1994a, p. 115) é raiz “da riqueza de ideias que se difundiu entre, ou melhor, sobre
as pessoas, com a renovação da astrologia e da ioga, da Christian Science e da quiromancia, do
vegetarismo e da gnose, da escolástica e do espiritualismo”.
Estes dispositivos circunscrevem-se como desdobramento da miséria espiritual na
medida em que se constituem como o que Benjamin denomina de “galvanização”. Se em reino
da física trata-se de uma processualidade determinada pelo recobrimento de um metal com
outro no intento de que se evite oxidação, perscrutando a metáfora temos que este lineamento
de ideias não é dado, em realidade, enquanto uma efetiva renovação, mas como indício do novo
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
99 Ângela Lima Calou
apenas em pura aparência, frouxa cobertura que simula um sentido sobre o próprio sentido em
dissolução. Benjamin nos convida a pensar nos quadros de Ensor como a imagem
fantasmagórica disto que se quis “Renascença”.
Na crítica social do pintor belga, figuras mascaradas preenchem os espaços urbanos, a
metrópole moderna é tomada por “pequeno-burgueses com fantasias carnavalescas, máscaras
disformes brancas de farinha, coroas de folha de estanho, [que] rodopiam imprevisivelmente ao
longo das ruas” (BENJAMIN, 1994a, p. 115). O disforme é o elemento da multidão inexata na
pintura de Ensor, cujos quadros, nos quais se inscrevem humanos caricatos, “são talvez a cópia
da Renascença terrível e caótica na qual tantos depositam suas esperanças” (BENJAMIN,
1994a, p. 115). A suposta renovação sugerida pela avalanche de tendências espirituais do início
do século passado é inautêntica e débil como o é a fina camada de brilho que não renova e não
protege verdadeiramente o objeto metálico carcomido, que em sua inteireza assim continua
mesmo se superficialmente revestido, de forma que “se revela, com toda clareza, que nossa
pobreza de experiências é apenas uma parte da grande pobreza que recebeu novamente um
rosto, nítido e preciso como o do mendigo medieval” (BENJAMIN, 1994a, p. 115).
Este empobrecimento é traduzido por Benjamin por meio de uma inquirição basilar:
“Qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?”
(BENJAMIN, 1994a, p. 115). Tomando de empréstimo um verso de René Char (apud
ARENDT, 2007, p. 28), talvez possamos compreender o que assinala esta indagação. Diz o
poeta: “Nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento”, o que insinua um tesouro
perdido em virtude da inacessibilidade de seu medium de transmissão.
Este medium constitui-se como a tradição que seleciona, preserva e transmite enquanto
“testamento” o patrimônio cultural, legando-o ao futuro, tradição esta acessada pela experiência
e nela florescida. Se “a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente” (BENJAMIN,
1994a, p. 115), dilui-se em consonância o elemento que nos reenvia a este tesouro, de tal sorte
que pareça “não haver nenhuma continuidade consciente no tempo, e portanto, humanamente
falando, nem passado nem futuro, mas tão-somente a sempiterna mudança do mundo e o ciclo
biológico das criaturas que nele vivem” (ARENDT, 2007, p. 31). Do que decorre o
embotamento do valor deste patrimônio, ao qual se refere, em sua pergunta, Benjamin. De modo
que seja “uma prova de honradez confessar nossa pobreza [...] de experiência [que] não é mais
privada, mas de toda a humanidade” (BENJAMIN, 1994a, p. 115). Se a experiência vincula-se
à determinação da sabedoria, a honrosa admissão de seu empobrecimento resulta, destarte, para
Benjamin, no surgimento de uma “nova barbárie”:
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
Considerações sobre “experiência e pobreza” de Walter Benjamin 100
Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamente para introduzir um conceito
novo e positivo de barbárie. Pois que resulta para o bárbaro dessa pobreza de
experiência? Ela o impele a partir para frente, a começar de novo, a contentar-
se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem para a direita nem para
a esquerda. (BENJAMIN, 1994a, pp. 115-6).
Bem-aventurados os pobres de espírito
Podemos dizer que aqui se inicia o segundo momento da reflexão benjaminiana contida
em Experiência e pobreza. Depois da exposição da problemática sobre a qual se desenha o
cerne da intenção reflexiva, dá-se não o prosseguimento da tessitura de um lamento cuja
exigência seria o retorno às primevas condições de possibilidade de constituição de uma
experiência genuína avariada na circunstância em questão, mas a admissão do imperativo da
reflexão crítica acerca das possibilidades que podem ser gestadas à revelia e ao abrigo desse
desamparo, desse oco deixado no meio das falas e coisas. “Esse outro lado do texto evoca a
‘reconstrução’ do mundo sob novas prerrogativas” – afirma Carla Milani Damião (2006, p. 59).
Enceta-se, assim, uma compreensão dialética do empobrecimento que nos é dado professar, de
modo a aferir o índice de sua positividade, não cindindo, no entanto, o caráter ambivalente da
experiência enquanto questão.
Conforme Benjamin, pode resultar ao bárbaro dessa pobreza de experiência um novo
começo sedimentado a partir do pouco ou quase nada, que embora isento da mirada para a
esquerda e para direita – indicativa e referencial – mantenha, no entanto, como uma abertura, a
paisagem à sua frente, pois não faltam à história exemplos de “homens implacáveis que
operaram a partir de uma tábula rasa”:
A essa estirpe de construtores pertenceu Descartes, que baseou sua filosofia
numa única certeza – penso, logo existo – e dela partiu. Também Einstein foi
um construtor assim, que subitamente perdeu o interesse por todo o universo
da Física, exceto por um único problema – uma pequena discrepância entre as
equações de Newton e as observações astronômicas. Os artistas tinham em
mente essa mesma preocupação de começar do princípio quando se
inspiravam na Matemática e reconstruíram o mundo, como os cubistas, a partir
de formas estereométricas, ou quando, como Klee, se inspiravam nos
engenheiros. (BENJAMIN, 1994a, p. 116).
Para Benjamin, artistas como Paul Klee – cujos trabalhos foram inspirados na
atividade dos engenheiros – mostram-se em consonância com o exercício bárbaro em sentido
positivo, esboçando por característica “uma desilusão radical com o século e ao mesmo tempo
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
101 Ângela Lima Calou
uma total fidelidade a esse século” (BENJAMIN, 1994a, p. 116). Se de algum modo esta
assertiva nos parece dúbia, trata-se apenas de um aparente paradoxo diluído no encontro do
sentido imiscuído nessa sentença: a desilusão oriunda do desdobramento histórico do século
não suspende a fidelidade às suas esperanças, mesmo se estas, por ora, devassadas.
São eles Bertold Brecht por meio do teatro, Adolf Loos, enquanto precursor da
moderna arquitetura, assim como Paul Scheerbart em seus romances vitrais. O que insurge das
múltiplas perspectivas de suas atividades seria precisamente o aceite da ruptura entre passado
e presente e a conseguinte tentativa de captura do desvelo de seus arcanos, a um só tempo, da
forja de suas dobras. Não apenas perscrutariam o esgarçamento evidente, na apreensão do
esmaecido incrustado com rigor na fotografia histórica “do homem tradicional, solene, nobre,
adornado com todas as oferendas do passado”, mas sobretudo rejeitariam esse mesmo homem,
dirigindo-se “ao contemporâneo nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas de nossa
época” (BENJAMIN, 1994a, p. 116), que ante a Grande Guerra vê-se privado da possibilidade
de partilhar, elaborar e acolher experiências.
Benjamin cita Paul Scheerbart como um caso peculiar entre aqueles que saudaram a
nudez do contemporâneo “alegre e risonhamente”. Scheerbart, escritor alemão que viveu entre
os anos de 1885 e 1915, tornou-se conhecido pela sua aficção pela cultura de vidro, tendo
sugerido a substituição do tijolo por este material. Seus personagens acomodam-se em casas de
vidro “ajustáveis e móveis”, sobre as quais o crítico berlinense lança um olhar interpretativo,
inquirindo acerca da significação desses estranhos palacetes de cristal. De acordo com
Benjamin, o significado do vidro na vida das “gentes” de Scheerbart não é outro que não uma
insígnia da modernidade:
Não é por acaso que o vidro é um material tão duro e tão liso, no qual nada se
fixa. É também um material duro e sóbrio. As coisas de vidro não tem
nenhuma aura. O vidro é em geral o inimigo do mistério. É também o inimigo
da propriedade. [...] Será que homens como Scheerbart sonham com edifícios
de vidro, porque professam uma nova pobreza? (BENJAMIN, 1994a, p. 117).
Se a modernidade se configura como território do qual se evadem, paulatinamente, as
voltas da experiência, a determinação do vidro como elemento ideal expressa,
consequentemente, em suas formas, esta pobreza, confessando-a imageticamente. O vidro não
encerra segredos, sua transparência é inimiga da perquirição, imediatidade não reflexiva cuja
sobriedade e frieza intentam contra o vínculo, o reconhecimento. No cristal nada se fixa,
escapando-lhe, pois, a memória dos seus. Em sua não opacidade, o vidro é “explícito que
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
Considerações sobre “experiência e pobreza” de Walter Benjamin 102
deforma”. Matéria de fusão dialética entre distância e proximidade significa-se enquanto
próximo na medida em que, translúcido, é refratário ao mistério das esfinges, é esvaziado, por
assim dizer, “na primeira revista”, nada devolvendo ao olhar do observador, salvo a imagem
cambiante dele mesmo, que embora apareça ali refletida, jamais será fixada; “próximo”
enquanto conhecido em demasia pela falta de desvios a se conhecer. Disto infere-se o outro
polo: é igualmente distante na medida em que, “inimigo da propriedade”, inviabiliza rastros,
vestígios, fazendo da imagem do observador em sua superfície um dado tão fugaz quanto dure
a presença deste, do que deriva a sua anônima neutralidade, a sua determinação de objeto
desauratizado1.
Em contraposição à figura do vidro em sua impossibilidade de agregação de rastros,
Benjamin reporta-se ao interior burguês dos anos de 1880, pois “não há nesse espaço um único
ponto em que seu habitante não tivesse deixado seus vestígios” (BENJAMIN, 1994a, p. 117).
A cor, o peso e o formato dos móveis, os bibelôs conformados às prateleiras, as cortinas nas
janelas, as franjas ao pé das poltronas, cada item é invariavelmente pensado no que concerne à
sua localização espacial dentro de um quarto ou sala burguesa, de modo que estes “irradiem
aconchego” em seus detalhes decorativos. Não há, inclusive, “o que se fazer ali”, uma vez que
cada parcela de espaço é tomada pela absoluta identificação de seu proprietário, fixado “à sua
imagem e semelhança” e fixando “à sua imagem e semelhança”; arredio, destarte, a presenças
externas que em seu interior queiram interferir.
Lembremos – assinala Benjamin (1994a, p. 118) – das cenas de “indignação grotesca
que acometia o ocupante desses espaços de pelúcia quando algum objeto de sua casa se
quebrava”. Esses habitantes dos hábitos do interior burguês encolerizavam-se como se a reagir
a um golpe contra a existência de “seus vestígios sobre a terra”. Como fragmentos que em sua
inteireza constituem a tentativa privada de manutenção da identidade de um indivíduo que no
1 O conceito de aura é central no contexto da teoria estética da modernidade desenvolvida por Benjamin. Em
Pequena história da fotografia, ensaio de 1931, admite-se a definição seguinte: “É uma figura singular, composta
de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja”
(BENJAMIN, 1994c, p. 95). Em A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, cuja primeira versão
publicada data de 1935, assiste-se ao adensamento deste tema, de modo que o caráter de autenticidade e de
unicidade será enunciado como o traço distintivo e fundamental da estrutura aurática de uma obra de arte. Neste
ensaio insurge o diagnóstico da perda da aura em função das transformações oriundas da constituição moderna de
técnicas de reprodutibilidade, que embora já existissem de certo modo, alcançam o paroxismo na viragem do
século XIX ao XX. Para Benjamin, é neste instante que o valor de culto da obra artística, associado ao ritual da
contemplação, é paulatinamente desabilitado pelo seu valor de exposição, promovendo-se com isto, não apenas
uma transformação nos contornos do objeto artístico, mas a própria metamorfose das formas de recepção e
percepção estéticas na modernidade. Também em Sobre alguns temas em Baudelaire (1939), a partir de uma prosa
escrita por este poeta, intitulada A perda da auréola, retoma-se esta questão, a qual nos remeteremos na terceira
seção deste capítulo.
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
103 Ângela Lima Calou
espaço público passa a ser homogeneizado e diluído em sua individualidade e autonomia, a
morada burguesa protege – por meio de uma ilusão – da desilusão instaurada em vista de uma
desapropriação que é, em verdade, coletiva. O interior burguês, mais que casa, seria, portanto,
“lar”, morada dos sonhos que intenta neutralizar através da própria disposição as contradições
imanentes ao arranjo societário, segregadas para o lado exterior de suas portas.
Para Benjamin (1994a, p. 118), “tudo isso foi eliminado por Scheerbart com seu vidro
e pelo Bauhaus com seu aço: eles criaram espaços em que é difícil deixar rastros”. No âmbito
do pensamento de uma barbárie positiva, também Brecht atentou contra este último traço de
“resistência” burguesa em uma dimensão individualista. No estribilho do primeiro poema da
Cartilha para os citadinos, Benjamin aponta para algo que ali encontramos como imperativo:
nada menos que “Apaguem os rastros!” – indicativo de atitude oposta àquela que é hábito no
salão burguês. Se o vidro evidencia-se, na esfera da arquitetura, como arauto da nova pobreza,
os cuidados do interior burguês em seu fundo falso de harmonia universal engendram o
mascaramento desta pobreza, valendo-se para tanto de numeroso instrumental: veludo, quadros,
molduras, estojos, tapetes, papéis de parede e cortinas integram a ritualística doméstico-sedante
habitual. Conforme elucida Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 115), tentativa em desespero de:
Ainda imprimir sua marca – deixar seus rastros – nos indivíduos próximos e
nos objetos pessoais; cultivar, assim, a ilusão da posse e do controle de sua
vida, quando esta escapou há tempos da determinação singular de seu dono.
Tentar ainda deixar rastros seria [...] um gesto não só ingênuo e ilusório, mas
também totalmente vão de resistência ao anonimato da sociedade capitalista
moderna. Gesto vão porque restrito ao âmbito particular e individual, quando
se trata, dizem Brecht e Benjamin, de inventar resistências coletivas ao
processo coletivo de alienação, em vez de reforçá-lo por pequenas soluções
privadas.
A face dialética da experiência empobrecida
Diante deste empobrecimento patente da experiência não se deve, no entanto, de
acordo com Benjamin (1994a, p. 118), inferir que o contemporâneo “homem nu” ou os
destroços do “homem solene” aspirem por novas experiências, pelo contrário, “aspiram a
libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão
claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa resultar disso”. O que se
afirma, neste caso, é que professar a pobreza de experiência é a possibilidade de sua
ultrapassagem, de constituição de outra perspectiva para o presente a partir da consciência de
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
Considerações sobre “experiência e pobreza” de Walter Benjamin 104
sua debilidade. Benjamin (1994a, p. 118) adverte que “nem sempre eles são ignorantes ou
inexperientes. Muitas vezes, podemos afirmar o oposto: eles ‘devoraram’ tudo, a ‘cultura’ e os
‘homens’, e ficaram saciados e exaustos”. O cansaço e a exaustão advindos da profusão da
cultura cujos valores não foram, no tempo, realizados assumem na fantasia, inegavelmente, a
sua expressão. Embora negada às cores do dia, surge uma “existência inteiramente simples e
absolutamente grandiosa” a reparar a tristeza e o desânimo cotidianos, desenvolvida pelas
deambulações da indústria do entretenimento, que angaria cada vez mais espaço entre os
veículos de comunicação.
Nas palavras de Benjamin (1994a, p. 118), “o camundongo Mickey é um desses sonhos
do homem contemporâneo”. Mas por que o seria? Como interpretá-lo enquanto “sonho do
homem contemporâneo”, portanto, da coletividade, ele, rato-encantado, em sua produção tão
espontânea de absurdos não possíveis? Reino da existência miraculosa, “inteiramente simples
e absolutamente grandiosa”, o mundo de Mickey alia magia e técnica de modo mesmo a zombar
desta última. De seu corpo – oficina do fantástico – saltam milagres inventados, assim como da
matéria das coisas, das árvores, das nuvens e dos outros animais, desmontando a seriedade da
técnica ao manipulá-la tal qual um brinquedo à mera disposição.
Segundo a interpretação benjaminiana, o que se assiste neste desenho animado que
perpetra seu jogo lúdico tendo por condição material a técnica, visualizada igualmente como
elemento presente no interior de seu conteúdo, é, em outros termos, o desejo de engendramento
e completude de um processo de unificação entre o primitivismo e o conforto. Natureza e
técnica integram-se ali profundamente, reconciliam-se, prescindindo da garantia de um pacto
prévio de não agressão, à semelhança de um resgate do antigo sentido helênico de techné2:
Aos olhos das pessoas, fatigadas com as complicações infinitas da vida diária
e que veem o objetivo da vida apenas como o mais remoto ponto de fuga numa
interminável perspectiva de meios, surge uma existência que se basta a si
mesma, em cada episódio, do modo mais simples e mais cômodo, e na qual
um automóvel não pesa mais que um chapéu de palha, e uma fruta na árvore
se arredonda como a gôndola de um balão (BENJAMIN, 1994a, p. 119).
O que há inscrito no sumo imaginário desta fruta nos é dado saber: “Ficamos pobres.
Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que
2 Olgária Matos esclarece esta distinção: “Diferentemente da técnica em sentido moderno – ligada aos
desenvolvimentos da ciência e, autonomizados com respeito a valores, usos e sentidos último, a techné grega se
manifesta como mímeses: lá onde há uma razão que é desconhecida, onde há acaso, a técnica tem a função de
‘auxiliar’ a natureza a se completar, imitando-a, e liga-se, pois, aos insucessos da ciência”. (Discretas esperanças.
Reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006, p. 88).
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
105 Ângela Lima Calou
empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda
miúda do ‘atual’” (BENJAMIN, 1994a, p. 119).
À revelia da constatação que encerra o parágrafo acima, Benjamin não abandona a
abordagem do segundo momento do texto, sugerindo a necessidade de “instalação” do novo
bárbaro neste espaço de poucos meios, “com lucidez e capacidade de renúncia”, com um riso
igualmente bárbaro embutido no rosto, prenhe da certeza de sobreviver, caso seja preciso, à
cultura, de forma a delinear a validade do esboço de uma face positiva no seio do cobre
depauperado do momento atual – nas circunstâncias do século XX, plasmado no anúncio da
crise econômica, da ascensão nazifascista e da iminência do terrível segundo conflito bélico
mundial.
Considerações finais
Acenando para este embotamento da experiência, Benjamin reflete sobre a
ambivalência da cultura: “por um lado, transfiguradora de relações de violência, e por outro,
veículo da tradição e anunciadora da utopia” (ROUANET, 1981, p. 72). Se todo documento de
cultura é, a um só tempo, um documento de barbárie, livrar-se deste peso que mal haveria? Não
seria esta a possibilidade de constituição de uma nova cultura menos inibidora?
Desse modo, em 1933, por meio do pequeno ensaio intitulado Experiência e pobreza,
Walter Benjamin acirra o debate sobre esta ruptura: e se alguma positividade puder ser extraída
do fim do amparo da tradição? E se algo digno resultar do processo que dilui a experiência na
vida moderna? Se imersos na barbárie de uma experiência derrocada, por que não investirmos
em sua positivação? Pensar, no entanto, em uma “barbárie positiva” às vésperas da ascensão
hitlerista, vale dizer, de uma barbárie real e demasiado atroz, faz parte do inconformismo que
caracteriza Benjamin, de modo algum de um suposto ingênuo otimismo. É por isso que um
posicionamento ambíguo será por ele mantido: embora seja possível articular a necessidade de
algo empreendermos, ou seja, de não nos utilizarmos do empobrecimento da experiência como
móbile de estagnação, não é igualmente possível relegar a urgente necessidade de “assumirmos
essa pobreza” realizando uma reflexão compenetrada sobre os riscos desse declínio, sobre seus
inúmeros negativos resultantes.
Em Experiência e pobreza, a experiência da qual nos tornamos pobres assume,
portanto, duas dimensões significantes: compreende-se como a matéria oriunda da tradição; e
como tal, define-se ainda como a viva possibilidade de transmitir algo. Um terceiro significado
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
Considerações sobre “experiência e pobreza” de Walter Benjamin 106
assoma ao lado destes, qual seja: que a experiência é resultado do produto do trabalho3, acepção
posteriormente elaborada por Walter Benjamin no ensaio O Narrador de 1936, no qual o
empobrecimento da experiência é tematizado em uma abordagem conjunta à decadência da arte
de narrar, sob a perspectiva das metamorfoses sociais produzidas pelo desenvolvimento
histórico das forças produtivas.
Bibliografia
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 6. ed. Tradução: Mauro W. Barbosa. São
Paulo: Perspectiva, 2007.
BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: Charles Baudelaire um lírico no
auge no capitalismo. Tradução: José Martins Barbosa, Hemerson Alves Baptista. São Paulo:
Brasiliense, 1989.
______.Experiência e Pobreza. In: Magia e técnica, arte e política. 7. ed. Tradução: Sérgio
Paulo Rouanet; prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1994a.
______. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e
política. 7. ed. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet; prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo:
Brasiliense, 1994b.
______. Pequena história da fotografia. In: Magia e técnica, arte e política. 7. ed. Tradução:
Sérgio Paulo Rouanet; prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1994c.
DAMIÃO, Carla Milani. Sobre o declínio da “sinceridade”: filosofia e autobiografia de Jean-
Jacques Rousseau a Walter Benjamin. São Paulo: Edições Loyola, 2006.
GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Homero e a Dialética do Esclarecimento. In: Lembrar esquecer
escrever. São Paulo: Ed. 34, 2006.
MATOS, Olgária. Discretas esperanças. Reflexões filosóficas sobre o mundo
contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006.
ROUANET, Sérgio Paulo. Édipo e o anjo: itinerários freudianos em Walter Benjamin. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1981.
3 Conforme assinala Carla Milani Damião, nos textos de maturidade “o conceito de Erfahrung ganha um perfil
materialista-histórico, passando a servir como um conceito articulador. O conceito recebe três principais
definições: é o resultado (Ertrag) do produto do trabalho; é algo que provém da tradição; e é possibilidade de
comunicação. Esses três sentidos se articulam ao estar relacionados a um contexto histórico-social e psicológico.
Para a estruturação da experiência é decisiva a memória que é construída segundo as condições materiais do
trabalho”. (Sobre o declínio da “sinceridade”. Filosofia e autobiografia de Jean-Jacques Rousseau a Walter
Benjamin. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 56).
Problemata: R. Intern. Fil. v. 9. n. 1 (2018), p. 96-106
ISSN 2236-8612
Você também pode gostar
- A Lei de PembaDocumento6 páginasA Lei de PembaSergio Nabais100% (1)
- Anotações e Citações Walter Benjamin (Magia e Técnica, Arte e Política)Documento5 páginasAnotações e Citações Walter Benjamin (Magia e Técnica, Arte e Política)Géssica da RosaAinda não há avaliações
- Experiência e Pobreza (Benjamin, 1933)Documento3 páginasExperiência e Pobreza (Benjamin, 1933)Stefanie MacedoAinda não há avaliações
- O - Anjo - Melancolico - Ensaio - Sobre - o - Concei - PDF Maria João Cantinho PDFDocumento214 páginasO - Anjo - Melancolico - Ensaio - Sobre - o - Concei - PDF Maria João Cantinho PDFFeliciano Joaquim Cristo FerroAinda não há avaliações
- De Profundis Valsa LentaDocumento31 páginasDe Profundis Valsa LentapoingAinda não há avaliações
- Folder Terraco Urban - Baixa PDFDocumento13 páginasFolder Terraco Urban - Baixa PDFxoxotadayAinda não há avaliações
- Jeanne Marie Gagnebin Memoria Historia TestemunhoDocumento9 páginasJeanne Marie Gagnebin Memoria Historia TestemunhoLídia MelloAinda não há avaliações
- Experiencia e Pobreza Da ExpDocumento3 páginasExperiencia e Pobreza Da ExpliliancorAinda não há avaliações
- Sobre A Noção de Vestígio - ArtigoDocumento22 páginasSobre A Noção de Vestígio - ArtigoDrisana de MoraesAinda não há avaliações
- A Destruição Construtiva Da História-BenjaminDocumento6 páginasA Destruição Construtiva Da História-BenjaminSilvio De Azevedo SoaresAinda não há avaliações
- 4 - A Ideia de Narrativa de Walter Benjamin PDFDocumento15 páginas4 - A Ideia de Narrativa de Walter Benjamin PDFAndrea CasadonteAinda não há avaliações
- 2400 11334 3 PBDocumento8 páginas2400 11334 3 PBLetícia MendesAinda não há avaliações
- Benjamin, Walter. Experiência e PobrezaDocumento1 páginaBenjamin, Walter. Experiência e PobrezaPedro Xavier do LagoAinda não há avaliações
- O Conceito de Experiência, de Walter Benjamin, Análogo Às Narrativas Heróicas ClássicasDocumento18 páginasO Conceito de Experiência, de Walter Benjamin, Análogo Às Narrativas Heróicas ClássicasCibele TenorioAinda não há avaliações
- Claudia Caimi A Aparência e o JogoDocumento17 páginasClaudia Caimi A Aparência e o JogoRyan hAinda não há avaliações
- Walter Benjamin Experiencia e Pobreza PDFDocumento3 páginasWalter Benjamin Experiencia e Pobreza PDFGabriel MartinhoAinda não há avaliações
- LIDO Lyslei ShoahDocumento16 páginasLIDO Lyslei Shoahalinice alves jardim lopesAinda não há avaliações
- Entre A Historia e A FicçãoDocumento30 páginasEntre A Historia e A FicçãoARON LUY COSTA PONTESAinda não há avaliações
- BENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História (Trad. Gagnebin)Documento9 páginasBENJAMIN, Walter. Sobre o Conceito de História (Trad. Gagnebin)andrade.marianaAinda não há avaliações
- Vivianehis,+Fim Uma+Genealogia+Da+Revolta2Documento6 páginasVivianehis,+Fim Uma+Genealogia+Da+Revolta2HdidxhjjxAinda não há avaliações
- Entre Os Restos e o VentoDocumento10 páginasEntre Os Restos e o VentoJoão BatistaAinda não há avaliações
- Cultura de Vidro Adorno e BenjaminDocumento17 páginasCultura de Vidro Adorno e BenjaminPriscilla StuartAinda não há avaliações
- Caderno de LitDocumento7 páginasCaderno de LitÉricaAinda não há avaliações
- 10 Memórias e Testemunhos A Shoah e o Dever Da Memória PDFDocumento16 páginas10 Memórias e Testemunhos A Shoah e o Dever Da Memória PDFSabrina Costa BragaAinda não há avaliações
- Uma Análise Benjaminiana Da Entrevista Narrativa Com ProfessoresDocumento14 páginasUma Análise Benjaminiana Da Entrevista Narrativa Com ProfessoresKeelzinhaaaAinda não há avaliações
- Cultura e LinguagemDocumento24 páginasCultura e LinguagemEduardo GabrielAinda não há avaliações
- A Clínica Como Testemunho de Corporeidade Diante Do Traumático Da ExperiênciaDocumento10 páginasA Clínica Como Testemunho de Corporeidade Diante Do Traumático Da ExperiênciaRegiane RegianeAinda não há avaliações
- Dialnet BenjaminW 6128354Documento4 páginasDialnet BenjaminW 6128354silbedoAinda não há avaliações
- ANALISE SOCIAL Liminaridade e Metamorfose Desordem PsiDocumento21 páginasANALISE SOCIAL Liminaridade e Metamorfose Desordem PsiObserva PopruaAinda não há avaliações
- Ficção e ExperiênciaDocumento20 páginasFicção e ExperiênciaJoão Rafael S. RebouçasAinda não há avaliações
- Walter Benjamin e A HistoriaDocumento11 páginasWalter Benjamin e A HistoriaEstevao CruzAinda não há avaliações
- CmggraebinDocumento22 páginasCmggraebinRenato MacharetAinda não há avaliações
- A Teoria Da Melancolia em Walter Benjamin - Tereza de Castro CalladoDocumento14 páginasA Teoria Da Melancolia em Walter Benjamin - Tereza de Castro CalladoSamaraMarquesAinda não há avaliações
- Benjamin Walter Fichamento1Documento8 páginasBenjamin Walter Fichamento1Luiz SantosAinda não há avaliações
- A Arte de Narrar em Walter BenjaminDocumento6 páginasA Arte de Narrar em Walter BenjaminJanie Lidia Maia CunhaAinda não há avaliações
- 7 Transmissao Da Experiencia o Estranho Na Narrativa PDFDocumento9 páginas7 Transmissao Da Experiencia o Estranho Na Narrativa PDFMaririoAinda não há avaliações
- BENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e PolíticaDocumento13 páginasBENJAMIN, W. Magia e Técnica, Arte e PolíticaNicole DiasAinda não há avaliações
- Sobre Alguns Temas em Walter BenjaminDocumento10 páginasSobre Alguns Temas em Walter BenjaminSilvio AzevedoAinda não há avaliações
- O Modo de Escrever Realista Não Significa A Renúncia À Fantasia Nem Ao Autêntico Virtuosismo ArtísticoDocumento14 páginasO Modo de Escrever Realista Não Significa A Renúncia À Fantasia Nem Ao Autêntico Virtuosismo Artísticobeja11Ainda não há avaliações
- O Conceito de Spleen Entre A Melancolia e o TédioDocumento10 páginasO Conceito de Spleen Entre A Melancolia e o TédioIsabela RossiAinda não há avaliações
- 3-Klaus Garber&Jeanne-Marie Gagnebin - Por Que Um Mundo Todo Nos Detalhes Do Cotidiano (Revista USP)Documento6 páginas3-Klaus Garber&Jeanne-Marie Gagnebin - Por Que Um Mundo Todo Nos Detalhes Do Cotidiano (Revista USP)Cilene Paredes de SouzaAinda não há avaliações
- Artigo Final RafaelaDocumento10 páginasArtigo Final RafaelaRizia OliveiraAinda não há avaliações
- Experiência em BenjaminDocumento20 páginasExperiência em BenjaminlinauditaAinda não há avaliações
- Aula BENJAMIN, W. O NarradorDocumento19 páginasAula BENJAMIN, W. O Narradorsgalva19Ainda não há avaliações
- Um DesertoDocumento9 páginasUm DesertoturismoanjoazulAinda não há avaliações
- Walter Benjamin Experiência e PobrezaDocumento3 páginasWalter Benjamin Experiência e PobrezaSamuel Delgado100% (2)
- Método Montagem Narração. Walter Benjamin e A Queda Do Céu. 1Documento22 páginasMétodo Montagem Narração. Walter Benjamin e A Queda Do Céu. 1André VilelaAinda não há avaliações
- Sobre o Conceito de História PDFDocumento8 páginasSobre o Conceito de História PDFVicente AlvesAinda não há avaliações
- ARTIGO EstranhamentoEmpatiaNotasDocumento9 páginasARTIGO EstranhamentoEmpatiaNotasMariana FernandezAinda não há avaliações
- Estudo Sobre ExperiênciaDocumento4 páginasEstudo Sobre ExperiênciaCarla Fabiana CasagrandeAinda não há avaliações
- Ensaio Pensamento ContemporâneoDocumento5 páginasEnsaio Pensamento ContemporâneoGabriel ChatiAinda não há avaliações
- Fichamento SELIGMANN-SILVA, M (Org) - Hist - Mem.LitDocumento6 páginasFichamento SELIGMANN-SILVA, M (Org) - Hist - Mem.LitDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Experiência e Pobreza Um Olhar para Realidade A Partir de Walter BenjaminDocumento15 páginasExperiência e Pobreza Um Olhar para Realidade A Partir de Walter BenjaminRonny DiogenesAinda não há avaliações
- O Tempo Que Resta - AgambenDocumento7 páginasO Tempo Que Resta - AgambenHelder Felix33% (3)
- Sobre A Perda Da IntimidadeDocumento20 páginasSobre A Perda Da IntimidadeKatia Regina Diniz PintoAinda não há avaliações
- Breve Análise de Episódios D'os LusíadasDocumento9 páginasBreve Análise de Episódios D'os LusíadasDiana LoboAinda não há avaliações
- Histórias recobridoras: Quando o vivido não se transforma em experiênciaNo EverandHistórias recobridoras: Quando o vivido não se transforma em experiênciaAinda não há avaliações
- Ruínas da cena: intersecções entre imagens políticas e as teses sobre o conceito de história de Walter BenjaminNo EverandRuínas da cena: intersecções entre imagens políticas e as teses sobre o conceito de história de Walter BenjaminAinda não há avaliações
- O Canto do Bode Humano: tragicidade, exílio e estranheza em Galileia de Ronaldo Correia de BritoNo EverandO Canto do Bode Humano: tragicidade, exílio e estranheza em Galileia de Ronaldo Correia de BritoAinda não há avaliações
- Noites de insomnia, offerecidas a quem não póde dormir. Nº 9 (de 12)No EverandNoites de insomnia, offerecidas a quem não póde dormir. Nº 9 (de 12)Ainda não há avaliações
- Identidade, cinema e literatura: uma crítica e estilhaçosNo EverandIdentidade, cinema e literatura: uma crítica e estilhaçosAinda não há avaliações
- Etnograficapress 459Documento185 páginasEtnograficapress 459poingAinda não há avaliações
- O Corpo Idealizado de ConsumoDocumento29 páginasO Corpo Idealizado de ConsumoMcllrath IIAinda não há avaliações
- BROSTEIN - Notas para Uma Narrativa Do Desamparo em ArquiteturaDocumento13 páginasBROSTEIN - Notas para Uma Narrativa Do Desamparo em ArquiteturaGabriela Pires MachadoAinda não há avaliações
- A Arte Como Atitude - Cayo HonoratoDocumento10 páginasA Arte Como Atitude - Cayo HonoratoGrupo Livre de Estudos de MuseologiaAinda não há avaliações
- Kant Depois de Duchamp Thierry de DuveDocumento28 páginasKant Depois de Duchamp Thierry de DuvepoingAinda não há avaliações
- Este Documento É Uma ResenhaDocumento1 páginaEste Documento É Uma ResenhapoingAinda não há avaliações
- 4896 15678 1 PBDocumento9 páginas4896 15678 1 PBpoingAinda não há avaliações
- O HOmem e Angustia ExistencialDocumento8 páginasO HOmem e Angustia ExistencialAna ValeriaAinda não há avaliações
- Breve História Do Corpo e de Seus MonstrosDocumento159 páginasBreve História Do Corpo e de Seus MonstrosLouise Carvalho50% (2)
- REvistaCenaDança PDFDocumento12 páginasREvistaCenaDança PDFRafaelAinda não há avaliações
- Etnograficapress 459Documento185 páginasEtnograficapress 459poingAinda não há avaliações
- Este Documento É Uma CríticaDocumento1 páginaEste Documento É Uma CríticapoingAinda não há avaliações
- Este Documento É Um ContributoDocumento1 páginaEste Documento É Um ContributopoingAinda não há avaliações
- 3399 14027 1 PBDocumento13 páginas3399 14027 1 PBpoingAinda não há avaliações
- Este Documento É Uma ApresentaçãoDocumento1 páginaEste Documento É Uma ApresentaçãopoingAinda não há avaliações
- Este Documento É Um EnsaioDocumento1 páginaEste Documento É Um EnsaiopoingAinda não há avaliações
- Maurice Merleau-Ponty - Fenomenologia Da PercepçãoDocumento656 páginasMaurice Merleau-Ponty - Fenomenologia Da PercepçãoSílvio César da Silva100% (12)
- Este Documento É Um DiscursoDocumento1 páginaEste Documento É Um DiscursopoingAinda não há avaliações
- Imagem Fotográfica Experiência e Possibilidade 1 PDFDocumento283 páginasImagem Fotográfica Experiência e Possibilidade 1 PDFpoingAinda não há avaliações
- ShabtiDocumento6 páginasShabtinicollas andrewAinda não há avaliações
- Sika Protecção Betão - 03.223Documento3 páginasSika Protecção Betão - 03.223FilipeBaptistaAinda não há avaliações
- Catálogo - Abbas KiarostamiDocumento137 páginasCatálogo - Abbas KiarostamiYthalloRodrigues0% (1)
- Exp9 GP Ficha Avaliacao 5Documento4 páginasExp9 GP Ficha Avaliacao 5Vera Sá0% (1)
- Bergeret (1998) Psicologia Patolà Gica (Caps Sobre As Estruturas)Documento45 páginasBergeret (1998) Psicologia Patolà Gica (Caps Sobre As Estruturas)Daisy IvyAinda não há avaliações
- Guia Ouvidores de VozesDocumento27 páginasGuia Ouvidores de VozesAna Paula SerranoAinda não há avaliações
- Portugues 12o Resumos Importantes para o ExameDocumento35 páginasPortugues 12o Resumos Importantes para o ExameManuel SousaAinda não há avaliações
- Catalago Guaporé Proteção 2019 1.0 PDFDocumento12 páginasCatalago Guaporé Proteção 2019 1.0 PDFmaylon campystAinda não há avaliações
- Mapa Sub - Exercícios Físicos Nas Diferentes Populações - 52-2022Documento4 páginasMapa Sub - Exercícios Físicos Nas Diferentes Populações - 52-2022Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Kemilly, Laura e EmilyDocumento15 páginasKemilly, Laura e EmilyPaula Elizangela Soares PereiraAinda não há avaliações
- RelatorioDocumento3 páginasRelatorioLaura Maia AntunesAinda não há avaliações
- Pratica de MacrografiaDocumento11 páginasPratica de Macrografiavinicius olivera sofiaAinda não há avaliações
- Sucesso - Português 4Documento336 páginasSucesso - Português 4Camilla Antunes0% (1)
- Catecismo de Nossa Senhora PDFDocumento52 páginasCatecismo de Nossa Senhora PDFEvelyn Affonso100% (1)
- Descobrimento Do Brasil - Cola Da WebDocumento4 páginasDescobrimento Do Brasil - Cola Da WebWallace O RoqueAinda não há avaliações
- Atividade Cultura Brasileira 1 TEXTOSDocumento1 páginaAtividade Cultura Brasileira 1 TEXTOSRafael FrancoAinda não há avaliações
- A Rosa Do Povo - Resumo e AnaliseDocumento10 páginasA Rosa Do Povo - Resumo e AnaliseAssencleves L. de AraújoAinda não há avaliações
- Como Se Há de Haver o Senhor - AntonilDocumento2 páginasComo Se Há de Haver o Senhor - AntonilPlinio LabriolaAinda não há avaliações
- Toyota Automatic Transmission A340 Series. Repair Instruction - Page 8Documento11 páginasToyota Automatic Transmission A340 Series. Repair Instruction - Page 8Carlos André BodybuilderAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 1 - Econometria - 2019-2Documento9 páginasLista de Exercícios 1 - Econometria - 2019-2RenanMüllerAinda não há avaliações
- Usp 111-402-1-PBDocumento11 páginasUsp 111-402-1-PBRamalho Santos de ColoAinda não há avaliações
- PIEPER Josef - Que e FilosofarDocumento35 páginasPIEPER Josef - Que e FilosofarMarcmelo100% (3)
- A Ideologia Do Socialismo JurídicoDocumento3 páginasA Ideologia Do Socialismo JurídicoLeonardo GuittonAinda não há avaliações
- Equilíbrio Ácido-Básico e AlimentaçãoDocumento3 páginasEquilíbrio Ácido-Básico e AlimentaçãoEdlenecslAinda não há avaliações
- O Conflito Na Organização e Instituição EscolareducativaDocumento28 páginasO Conflito Na Organização e Instituição EscolareducativaABAmadoAinda não há avaliações
- ANÁLISE DAS ESTRUTURAS I - Aula 2 AE1Documento30 páginasANÁLISE DAS ESTRUTURAS I - Aula 2 AE1José RobertoAinda não há avaliações
- Wilo Sistemas de Bombagem 2009-03-30Documento252 páginasWilo Sistemas de Bombagem 2009-03-30CavamogoAinda não há avaliações