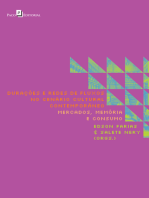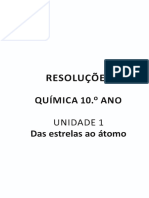Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
3338-Texto Do Artigo-10717-1-10-20080413
3338-Texto Do Artigo-10717-1-10-20080413
Enviado por
Patrícia PimentaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
3338-Texto Do Artigo-10717-1-10-20080413
3338-Texto Do Artigo-10717-1-10-20080413
Enviado por
Patrícia PimentaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CIBERCULTURA
Não duvidemos, ao longo do tempo,
Introdução à somente os vetores mudam.
VIRILIO (1996, p. 30)
dromocracia
cibercultural:
contextualização
sociodromológica
da violência
invisível da técnica
e da civilização
mediática avançada1 1 Velocidade e história: sociodro-
mologia fenomenológica do
RESUMO processo civilizatório
Articulando dois importantes conceitos para a revitalização da
teoria social e, em particular, da teoria da comunicação, o autor O conceito de dromocracia teve, no âmbito
realiza uma reflexão sociodromológica sobre a história ocidental das ciências humanas e sociais, a sua gesta-
e a civilização mediática avançada em que a categoria da ção e fundação crítica na obra de Paul Viri-
dromocracia nomeia o regime invisível da velocidade tecnológica lio. Em Velocidade e política, Virilio (1977)
como epicentro descentrado de estruturação da vida humana; e a da lança, senão as bases, ao menos as sinaliza-
cibercultura, a configuração social-histórica contemporânea da ções teóricas fundamentais para a compre-
técnica sofisticada, disposta em rede imaterial planetária. ensão da história e dos processos políticos
e sociais pelo prisma do vetor dromológi-
ABSTRACT co.2 Dromos, prefixo grego que significa ra-
Bringing together two concepts that are important for the pidez, vincula-se, obviamente – a partir da
revitalization of social theory and, particularly, of the theory of dimensão temporal da existência –, ao terri-
communication, the author undertakes a socio-dromological tório geográfico (na qualidade de coorde-
reflection on the history of the West and of advanced mediatic nada espacial), portanto à urbis. Mantém,
civilization. In this reflection, the category of dromocracy não obstante – algo menos notado –, umbi-
designates the invisible regime of technological speed as the licais ligações com interesses de logística,
decentered epicenter of the structuring of human life, while estratégia e tática, numa palavra, com o
cyberculture designates the contemporary socio-historical campo bélico. Fundamentalmente, veloci-
configuration of sophisticated technology, set out in an dade e guerra – Virilio mostra no conjunto
immaterial planetary web. de sua obra – são faces conexas do mesmo
processo. Importa, nesse aspecto, em estrita
PALAVRAS-CHAVE (KEY WORDS) simultaneidade ao mapeamento cognitivo
- Dromocracia (dromocracy) e ao domínio prático do espaço e de suas
- Cibercultura (cyberculture) possibilidades, o sentido do tempo em
- Violência da técnica (violence of technique) que, mediante o plano logístico, se reali-
zam as ações de assalto e/ou de proteção,
de avanço ou de recuo, de abastecimento e
Eugênio Trivinho de retaguarda. Desde essa relação basilar
PUC/SP até as suas manifestações fenomenológicas
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 63
colaterais, a velocidade não pode ser con- e defesa e, a partir daí, habitus cotidiano in-
cebida em disjunção com a categoria da vi- questionado. Não por outro motivo, a alte-
olência, concreta ou simbólica (cf. Virilio, ridade assim tomada – não raro a priori –
1977, 1984a, 1984c; Trivinho, 2001a, pp. 209- como objeto de desconfiança, em suma,
227, 2001b, 2002, 2003a, 2004). Ao flexionar como inimiga (até que justifique a considera-
e assim problematizar a temática, Virilio ção oposta), não poderia merecer senão trata-
subtrai a questão dromológica de seu lon- mento norteado pelos pressupostos da tática.
go e exclusivo cativeiro no reduto das ciên- Essa costura teórica heterodoxa do
cias exatas e da terra e, simultaneamente, processo histórico demonstra que, em ma-
abrindo-lhe os horizontes, insere-a no terre- téria de política da reflexão, a perspectiva
no das ciências humanas e sociais. A opera- sociodromológica não frustra a complexi-
ção, a par de suas injunções específicas, se dade fenomênica observada e da qual é
norteia por clara intencionalidade: o con- parte tensa, quer dizer, não desata o que, a
ceito de dromocracia, na obra de Virilio, rigor, comparece nela conjuminado. Nessa
pertence a (e, ao mesmo tempo, encerra) medida, opõe-se, radicalmente, não só à ló-
um quadro teórico e epistemológico volta- gica do pensamento de tradição cartesiana
do para a consumação da crítica à organiza- e positivista: o foco primordial do confron-
ção sociotécnica dinâmica que, a cada épo- to é o cinturão do olvido (voluntário ou in-
ca, define a vida humana. Não se trata, por- voluntário) patrocinado por todas as cor-
tanto, de prisma descritivo-constatório ou rentes teóricas de sustentação das ciências
nomológico-classificatório. A mobilização humanas e sociais, fundado na e alimenta-
do conceito, per se, se põe, de partida, em do pela cisão (aparente) entre processos bé-
favor da dissonância e, melhor ainda, do licos e processos civis, entre interesses es-
interesse de confronto em relação às formas sencialmente militares e interesses eminen-
e tendências do existente. A categoria tensi- temente políticos, fronteira – dada somente
ona, a partir de dentro (vale dizer, de modo em tese, isto é, de modo abstrato e, no caso,
imanente), o seu próprio referente, ao evi- irreal e equívoca – que radica na formação
denciar a ligação entre processo sociotécni- histórica da democracia moderna, fonte úl-
co de fomento da velocidade e processo tima das recentes formas do Estado (o de
histórico permanente de destruição materi- Direito burguês como o de Bem-Estar Soci-
al e/ou simbólica da alteridade, de seu al e, agora, o neoliberal). Nesse quadro, de
grupo ou classe social, de sua urbis, de seu geração e distribuição da polêmica, a obra
ecossistema e de sua cultura, em suma, de de Virilio é, a um só tempo, memória do
sua alma. Nesse aspecto, o conceito de dro- esquecimento (na modalidade de crime te-
mocracia torna patente o quanto, na histó- órico em si, na medida em que nele se im-
ria, a alteridade, seu território e seu corpo, plica a morte da complexidade do real) e,
sua temporalidade e sua subjetividade, fo- sobretudo, posicionamento contra ele. Viri-
ram e são menos objetos de projetos her- lio politiza, assim, desde os pressupostos
deiros do humanismo greco-clássico, cris- elementares da elaboração teórica, não so-
tão, renascentista e/ou marxista do que de mente a dromocracia, mas, primordialmen-
uma cultura logística milenar e generaliza- te, o seu pilar processual, a velocidade.
da – que recorta, dilacera e neutraliza (de Com efeito, a história social e cultural
modo ocluso, isto é, sem dizê-lo) todos es- da dromocracia – tão instigante quanto obs-
ses metarrelatos ou metanarrativas [na co- cura e intrigante – ainda está para ser devi-
nhecida expressão de Lyotard (1986, 1993)] damente constituída, sob lastro em detalha-
–, fazendo da oscilação estratégica entre in- mento factual e na sistematicidade episte-
vestida e recuo um equivalente civil suavi- mológica demandados, tarefa cujo resulta-
zado (reificado, para usar uma velha ex- do se estima mais próspero quanto mais se
pressão marxista) do ciclo militar de ataque realize em áreas diversificadas do conheci-
64 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
mento (não só científico) e/ou mediante de técnica e tecnológica pode – a traços
metodologia interdisciplinar. Virilio (1977, fincados em pontos estruturais sine qua non
1980, 1984a, 1984b, 1984c, 1995, 1996a, –,5 ser consolidada com base em duas coor-
1996b, 2002), embora tenha feito várias si- denadas básicas: [1] a do sucesso cinético so-
nalizações teóricas a respeito e levantado bre o território, na forma do deslizamento
um sem-número de elementos empíricos [ou do “alisamento” espacial, para evocar
relevantes – considerando a dromocracia em Deleuze (1997, pp. 179-214)]; e [2] a da oti-
sentido estrito e lato –, explorou, fundamen- mização progressiva de princípios funcionais
talmente e com ampla recorrência, o trecho e procedimentos operacionais de produção de re-
macro-histórico mais recente da matéria, rela- sultados (sejam eles quais forem), vale dizer,
tivo aos acontecimentos sociais, culturais e de condensação dos mesmos no tempo ou,
tecnológicos dos últimos dois séculos. numa palavra, de compressão temporal. Em
Por certo, a argumentação subseqüen- ambos os casos, trata-se, fundamentalmente,
te não pretende saldar inteiramente a lacu- de dois princípios, o de desempenho e o de
na. Deve, no entanto, ser recebida como eficácia, conjugados na menor escala de tem-
contribuição nesse sentido, com epicentro po possível, vigente a cada época.
na preocupação interdisciplinar de disseca-
ção das relações entre velocidade tecnoló-
gica, media e cibercultura. A investigação 1.2 Superação da superfície geográfi-
articula – a bem dizer, ao modo de teses –, ca
os elementos empírico-descritivos, analíti-
co-reflexivos e críticos acerca do processo so- a) Veículos de deslocamento e trans-
cial-histórico de dromocratização da vida huma- porte
na, no intuito de somar conceitos novos
para a teoria social e, em especial, para a A relação humana com a dimensão dromológi-
teoria da comunicação – amplamente im- ca da existência está ligada à descoberta (re-
plodida em seus fundamentos após a corrente e aglomerativa, sem ser necessari-
emergência do cyberspace (cf. Trivinho, amente complanada e, sobretudo, linear e/
2001, pp. 117-131) – e de condicionar, em ou progressiva)6 de vetores de movimenta-
bases alternativas às propostas teóricas cor- ção geográfica de corpos, objetos e valores
rentes, o desenvolvimento da crítica teórica (materiais e simbólicos). As origens mais
da civilização mediática e, em particular, remotas e significativas dessa relação antro-
da cibercultura.3 Dado que a categoria da pológica remontam – assim se pode con-
dromocracia, em razão da carga de sentido vencionar, no que interessa ao presente es-
que encerra, mostra não restarem impunes tudo – a um dado corporal específico: se-
quaisquer possibilidades de sua utilização gundo Virilio (1984a, p. 35 et seq.), trata-se
como instrumento epistemológico de per- do dorso feminino. No nomadismo tribal
cepção de processos social-históricos, é ne- dos povos primevos, é a mulher que, ex-
cessário ter em conta, do princípio ao fim, a plorada na aurora da longa série de supor-
impregnação, na temática, da questão da tes cinéticos em devir, leva os pertences
violência e, no limite, da guerra – pelo que domésticos e demais apetrechos, liberando
assim se justifica o arco da criticidade teóri- o homem para a caça e para a guerra; inédi-
ca requerida.4 to “veículo metabólico” de transporte, con-
vertida em “primeiro sustentáculo logísti-
1.1 Vetores técnicos e tecnológicos de co” necessário à superação das situações
dromocratização da vida humana inóspitas e de combate (ibidem), a mulher
colabora, assim, para o eventual adentra-
A apreensão do fluxo histórico da fenome- mento e ocupação do território inimigo e
nologia sociocultural empírica da velocida- para a posse de seus víveres e pertences. A
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 65
partir de então e ao longo do processo his- dição insuperável, de não-retorno, com a
tórico, sucedem-se, por sobreposição cu- proliferação comercial dos meios eletrôni-
mulativa e valorativa (isto é, sem dispersão cos de comunicação, especificamente no
e/ou eliminação do que resta preterido em que dizem respeito ao tempo real.9 A ges-
importância), os vetores de processamento fe- tação dessa linhagem heterodoxa de veto-
nomenológico da velocidade ou, mais precisa- res remonta, basicamente, ao telégrafo elé-
mente, de seu hipostasiamento em proces- trico, e a sua respectiva cadeia pontilhada
so empírico verificável. À alta lentidão do de desenvolvimento se assenta no telefone,
desempenho motriz corporal, sobremanei- no rádio e na televisão, ancorados no tem-
ra agrilhoado ao solo, o futuro dromocráti- po live, enquanto a extremidade mais sofis-
co acenaria, obviamente, com uma dissolu- ticada de tais teletecnologias segue, até o
ção fatal e irreversível, mediante a chegada presente momento, povoada pelo micro-
de vetores cada mais eficazes. computador (de base ou portátil) e pelas
Com efeito, se o processo dromo-an- redes interativas (intranets, Internet, Web),
tropológico (e bélico) enceta em solo firme, próprias do tempo online.10
a ordem mais provável dos contextos ambi- Em conjuminação ao largo expediente
entais e do desenvolvimento dos vetores histórico de deslocamento geográfico de
cinéticos, tal como se realizaram no trans- bens materiais, desencadeia-se, pois, emba-
curso histórico, é, a rigor, significativamen- ralhando os fatores implicados, a era do
te outra: o mar, pelo que, nas origens da deslocamento mediático de bens imateri-
constituição gregária da espécie, à luz das ais. Os vetores de produção de movimento
possibilidades técnicas vigentes, represen- convencional cedem espaço aos de trans-
tava em matéria de fonte de sobrevivência missão e circulação de produtos simbólicos
e oferecia em termos de menor resistência (informações e imagens), representativos
ao deslocamento, precede o território,7 o ar ou não de referentes concretos. Sobredeter-
figurando obviamente como contexto ambi- minando o secular império dos veículos de
ental ulteriormente explorado.8 transporte, sucede, nos termos de Virilio
(1995, 2002, pp. 39-74), o “último veículo”,
fadado à mais alta velocidade praticável e à
b) Veículos de comunicação em tem- sua luz – luz da velocidade da luz. A relação
po real antropológica com a dimensão dromológica
da existência atinge, assim, o seu ponto ôme-
Não obstante, esse processo de maximiza- ga, na forma intransponível do “muro” invi-
ção de vetores técnicos e tecnológicos de dromo- sível da velocidade pura (ibidem).11
cratização progressiva da vida humana encon- As identitárias relações epistemológi-
tra, na história recente, um sobressalto de cas entre veículo de transporte e meio de
monta, uma dobra fenomenal, até então in- comunicação – pródigas na obra de Virilio
teiramente imprevista. Após a dominância (1980, 1984a, 1984b, 1995, 1996a, 2002)12 –se
trans-histórica do mar, da terra e do ar (so- devem à partilha de um mesmo fundamen-
bretudo conjugados), e para além deles, o to: ambos são elementos estruturais de vetoria-
final do século XIX registra – mantida a lização sociodromológica da existência. Se o veí-
mesma perspectiva de abordagem – a in- culo de transporte é um meio específico de
serção, na cultura, do espectro eletromag- comunicação (entre dois pontos geográfi-
nético como oceano dromológico invisível cos), o meio de comunicação propriamente
de fluxos simbólicos e imaginários. O per- dito é, de modo congruente, um veículo de
manente intento de vitória cinética sobre o transporte (de “coisas” espectrais, próprias
território geográfico alcança, assim, para- do plano simbólico da cultura).13 Embora,
doxalmente, na intermitente linha do tem- a rigor, não pertençam, materialmente fa-
po histórico, o seu ponto-limite, a sua con- lando, à mesma linhagem de objetos técni-
66 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
cos e tecnológicos, estão implicados em violência concreta e/ou simbólica, de con-
idêntica inscrição ontológica na cultura, a quistas territoriais e de vantagens logísticas
da constante dromológica do processo civilizató- e dromológicas em relação à alteridade ini-
rio. Assim a perspectiva sociodromológica miga, em nome de Deus, do Rei, do Esta-
compreende a significação social-histórica do, da Nação, da Razão, do Homem, da
e tecnocultural dos media, com a agravante Utopia, do Proletariado e/ou da Paz, e as-
diferencial – em comparação com os veícu- sim por diante. “A velocidade” – assinalou
los convencionais de transporte – de que, Virilio (1977) – “é a esperança do Ocidente.
no limite, o respectivo êxito sobre o territó- É ela que sustenta a moral dos exércitos”.
rio geográfico significa, mais propriamente, O aperfeiçoamento observado, ao longo
liquidação e superação do mesmo em favor dos séculos, na forma, no funcionamento e
da lógica pura do tempo.14 na utilização dos vetores do solo, do mar,
Nessas condições, partida e chegada do ar e das ondas eletromagnéticas se atre-
não conformam mais relação de diferimen- la, fundamentalmente, em última instância,
to, a primeira sendo da mesma ordem da ao princípio da eficácia nesses contextos,
segunda: à partida sucede, célere, a chega- em atendimento a necessidades de estraté-
da (Virilio, 1995a, 2002), como num com- gia e/ou de tática, não raro para otimizar o
posto homeostático em que, de certa forma, exercício da tirania (ostensiva ou velada)
tudo, pela imediatidade, se indiferencia; o e/ou para melhor espraiar o terror, tendo
atingimento do destino não depende mais em mira, entre outros fatores legitimado-
do movimento físico propriamente dito. À res, a expansão de poderio imperial, a gló-
longa preponderância histórica do nomadis- ria de dinastias monárquicas e clericais, as
mo veicular sedentário – que testemunha, com tradições de honra de reinados, a garantia
todas as tintas, a progressiva e irreversível de mercados nacionais e internacionais, o
transição da condição rural da vida huma- controle de abastecimento mundial e a pre-
na para o seu modelo citadino – segue-se o servação da supremacia tecnológica. Inte-
sedentarismo comunicacional nômade como ha- resses mercantis e/ou civis correspondem,
bitus sociocultural propriamente urbanitá- quase sempre, a álibis de dissuasão – não
rio (cf. Trivinho, 1999, Parte II, Cap. IV, tó- por acaso, matéria também de estratégia –
pico II, item 1, 2001, pp. 117-131). da relação causal principal. Somente a par-
tir da conjugação entre velocidade e guerra
é que se pode, a rigor, considerar a consti-
c) Vetores de dromocratização e tuição gradativa das cidades (Virilio, 1984c,
guerra p. 15). A função da atividade comercial
tem, nesse aspecto, menos importância do
Vale enfatizar, neste ponto – em retoma- que comumente lhe atribui a historiografia
da de sinalização anteriormente feita – que contemporânea.
todos os vetores de dromocratização da
existência, inclusive os meios de comunica-
ção, gravitam, em alguma medida, direta 1.3 Princípios e procedimentos ope-
ou indiretamente, em torno de um traçado ra-cionais: dromocratização da
histórico recorrente: correspondem a rever- esfera da produção e do tempo
berações de ou respostas instrumentais a livre
processos bélicos. De fato, a história do do-
mínio da velocidade está imanentemente a) Metanarrativa iluminista e libe-
atrelada à história das técnicas e tecnologi- ral ou as origens da racionalidade
as de realização da guerra (cf. Virilio, 1996; dromocrática moderna
Trivinho, 1999, Parte II, Cap. III, 2001a, pp.
209-227) e, por esta, de consolidação, pela A esses vetores técnicos e tecnológicos de
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 67
dromocratização progressiva da existência por Weber (1971, 1994), e cuja correspon-
a história mais recente – para ficar apenas dente empiria, no que tange à sua lógica,
nesse estirão – acrescentou outros, proces- foi, mais tarde, recolocada, alternativa e di-
suais, na modalidade diferenciada de prin- ferencialmente, pelo prisma do conceito de
cípios funcionais e procedimentos operaci- “razão instrumental”, de Habermas (2001).
onais, em grande medida possíveis em ra- A racionalização instrumental generalizada
zão de condições social-históricas e tecno- está na base social-histórica de possibilida-
lógicas determinadas por forças produtivas de das condições humanas que Heidegger
não raro assentes nos vetores mencionados. (1958, pp. 9-48, pp. 80-115), meio século de-
A natureza básica desses princípios e pro- pois de Weber, 15 apreendeu mediante o
cedimentos se nutre, mutatis mutandis, das conceito de técnica como representação ma-
mesmas características da logística (na qua- terial da metafísica ocidental, então plena-
lidade de previsão adequada de meios e mente realizada. A mudança (aí pressupos-
fins) e da estratégia (na qualidade de pla- ta) de metabolismo no plano dos valores e
nejamento eficaz da ação), pelo que não no da relação com a realidade fez com que
deixam de traduzir, para a esfera da produ- a esfera da produção vigorasse como locus
ção, o que esculpe, essencialmente, o cam- privilegiado do alvorecer da sobredetermi-
po da guerra. nação (que depois se universalizaria) do
Nesse âmbito, a história da aceleração princípio de realidade, formulado por
sociotecnológica contemporânea remonta, a Freud, pelo princípio de desempenho, pro-
rigor – no que interessa ao presente ensaio posto por Marcuse (1967) como forma de po-
–, ao final do século XVIII, berço revolucio- litização daquele conceito (de base ontológi-
nário da modernidade industrial cujo pro- ca e abstrata, isto é, a-histórica, atemporal) e
jeto de civilização, centrado no ideal do de sua necessária contextualização na histó-
progresso tecnocientífico e capitaneado ria (mais recente, industrial) do capitalismo.
pelo iluminismo francês e pelo liberalismo Essas injunções social-históricas – ra-
inglês, levaria apenas cerca de duzentos cionalização e tecnicização estendidas, ins-
anos para redesenhar inteiramente a Euro- trumentalização cognitiva e tônica no de-
pa e o mundo, aprumando-se em configu- sempenho – foram, certa e amplamente,
rações urbanas, hierarquias e relações soci- condicionadas e, ao mesmo tempo, em pro-
ais, organização simbólica e de valores, cesso reverso, levadas às últimas conseqü-
processos de vida cotidiana e assim por di- ências pela conjugação histórica, na passa-
ante, todos absoluta ou relativamente dis- gem do século XIX para o XX, entre, por
tintos dos de outras fases do desenvolvi- um lado, o sistema de organização funcio-
mento do capitalismo. nal e parcelar do processo de trabalho in-
O manancial de irradiação (por assim dustrial, voltado para a otimização e con-
dizer, centrífuga) dessa aceleração para a trole do desempenho individual e coletivo
vida em geral teve – como se sabe – tópica e dos respectivos resultados, (sistema) tal
inaugural na esfera da produção. Em razão como fixado, em linhas gerais, por Taylor,
da natureza das práticas sociais aí envolvi- e, por outro, o modelo de administração,
das, consolidou-se, com maior envergadu- gerenciamento e controle de processos de
ra, nessa esfera, a materialização do proces- produção, conforme concebido por Ford.
so trans-histórico de racionalização técnica Ambas as diretrizes de política indus-
generalizada (vis-à-vis, de desmitificação ou trial (ideológicas lato sensu) – taylorismo e
desencantamento do mundo, operado pelo fordismo – consolidaram, ao longo da pri-
hipostasiamento do pensamento técnico meira metade do século XX, a noção mais
em valor corrente) e de seu princípio corre- acabada e (até hoje) influente de produtivi-
lato e específico, na forma da “racionalida- dade: maximização racional e técnica de re-
de com respeito a fins”, ambos teorizados sultados em escala na menor fração de tem-
68 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
po e com o menor esforço possível. Medi- macroconfigurações social-históricas por
ante tal processo de racionalização tecno- ela conformadas, a sociedade de consumo
burocrática e científica, os fundamentos das (cf. Baudrillard, 2000), ancorada na massifi-
metanarrativas iluminista e liberal viram-se cação cultural, e a cibercultura (cf. Trivi-
assim plenamente concretizados, no senti- nho, 1999, 2001, pp. 39-79, pp. 209-227) –
do literal do termo, instalando-se, de ma- representa, a rigor, na vida em geral:19 do
neira imanente, nas estruturas materiais e ponto de vista do processo civilizatório e,
operacionais de produção e, a partir delas, em especial, da transmissão cultural, a ex-
no compasso das décadas posteriores – em ploração do filão eletromagnético (para po-
bases sociotécnicas mais complexizadas –, voamento das redes, por mediação do va-
nas relações sociais em geral.16 lor de troca e do mercado) é um vetor pro-
cessual que encerra um princípio operacional
de dromocratização generalizada da existência.20
b) Comunicação em tempo real ou Mais ainda, o processo modelar de produ-
a generalização cultural da ção e transmissão cultural levada a cabo
dromocratização pelo conjunto dos media de massa (sobretu-
do quando capitaneados pela TV, em mea-
Por certo, a realização per se, numa impor- dos do século passado), com contrapartida
tante esfera social específica, do princípio na instantaneização da recepção aos respec-
dromocrático subsumido no ideal da pro- tivos produtos, acabou por assimilar, de
dutividade industrial teve como resultado maneira fatal, a lógica da esfera da produ-
difuso e inespecífico a aceleração da vida ção e do trabalho à lógica da esfera do tem-
humana. Com efeito, a expansão desse va- po livre e de lazer, com o conseqüente e
lor, em forma de pressão social concreta, progressivo apagamento das diferenças es-
para a esfera do tempo livre e de lazer não truturais (inclusive de velocidade das prá-
teria sido possível sem o concurso expo- ticas sociais) verificada entre elas. No que
nencial de outro vetor processual, a comu- essa mistura homogênea implica especial-
nicação em tempo real,17 cujo advento e de- mente a celeridade de signos da estrutura
senvolvimento, na primeira metade do sé- conteudística dos produtos e da própria ofer-
culo XX, alterou, significativamente, as ba- ta mediática diária – ambas subordinadas ao
ses sociais e culturais em que a vida huma- imperativo da reciclagem indefinida –, o fre-
na – até então centrada absolutamente em nesi cultural da comunicação eletrônica signi-
contextos presenciais, in loco – estava assen- fica, mutatis mutandis, inoculação do espírito
tada. O modelo de civilização então desen- da produtividade (industrial) no espaço cul-
cadeado, propriamente mediático (mais tural e perceptivo doméstico.21
que meramente mediatizada) [cf. Guillau-
me (1989, pp. 153-175)] – com muitas das
práticas sociais se processando, exclusiva- c) Interatividade como protocolo
mente, nas redes comunicacionais –, e que conservador de dromocratização
melhor se definiu a partir da Segunda da existência
Guerra Mundial, encarregou-se de inscre-
ver e consolidar, em definitivo, a lógica da Na extremidade mais desenvolvida da civi-
velocidade – o sprit du temps dromocrático – lização mediática, no trecho social-histórico
, para além da esfera da produção e do tra- mais sofisticado do processo de dromocra-
balho, no universo do tempo livre e de la- tização da existência, constata-se, hoje, a
zer.18 O que o taylorismo e o fordismo re- plenificação extensiva da cibercultura. As
presentaram dentro do espaço fabril, a co- características estruturais e dinâmicas des-
municação eletrônica em tempo real – so- sa categoria de época já foram traçadas em
bretudo se depreendida a partir das duas momento pregresso à presente pesquisa
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 69
(Trivinho, 1999, 2001, pp. 209-227, 2003a,
2003b, 2004) e não precisam ser aqui cir- Entre a reverberação sociofenomenológica
cunstanciadas.22 Sublinhe-se, com efeito – da velocidade (relativa) fincada em vetores
no que interessa ao fluxo da argumentação convencionais de deslocamento (conforme
–, que, se os media de massa consolidaram anteriormente abordados) e aquela (absolu-
no social o sprit du temps dromocrático para ta) doravante especificada, há, com efeito,
além do muro fabril, o enraizamento mais uma inflexão de monta, cuja notação resul-
agudo desse processo acabou por se reali- ta essencial para a apreensão mais definida
zar somente por meio da proliferação soci- do estado da arte da matéria.
al de computadores pessoais e redes inte- A consolidação transnacional da velo-
rativas, com lastro na informatização pro- cidade como comunicação em tempo real
gressiva da esfera do trabalho e do espaço representa, em si mesma, para além de sua
doméstico e na virtualização e ciberespaci- expressão setorial, fragmentária, atrelada
alização do mundo. Nesse contexto, se, do ao território geográfico, a vigência do dis-
ponto de vista histórico-antropológico da positivo sociodromológico como regime
cadeia de transmissão da cultura, comuni- estrutural e universal, de caráter sistêmico
cação eletrônica significa vetor processual definido, numa palavra, como dromocra-
de dromocratização da existência, na ciber- cia, em sua tipificação mediática. Nessas
cultura, o procedimento prático-operacio- condições, o conceito de dromocracia ex-
nal socialmente padrão e protocolar corres- pressa bem aquilo de que se trata: a veloci-
pondente, já instaurado como habitus (cf. dade técnica e tecnológica equivale a um
Bordieu, 1982, 1983, 2001), chama-se intera- macrovetor dinâmico exponencial de orga-
tividade. Sob a égide do comportamento nização/desorganização e reescalonamento
interativo, como modelo predominante de permanente de relações e valores sociais,
relação com a máquina, com a rede e, por políticos e culturais na atualidade.
meio delas, com a alteridade [reduzida a Se o imperativo dromológico tutelou
espectros (cf. Guillaume, 1989)] e como a vida humana desde o início, confundin-
modo de estar e de agir politicamente con- do-se com a própria gestação da técnica
servador, em atendimento às exigências de como invenção antropológica, deve-se res-
reprodução social-histórica da cibercultura, salvar que nem sempre ele se alçou à confi-
“cotidianiza-se”, de modo radical (e como guração social-histórica com legitimidade e
que a “doce fórceps”), a relação com a velo- validade geral, dotada de autonomia em
cidade tecnológica. A época a “tatiliza”, ou relação à capacidade política de controle
melhor, a “sensorializa” inteiramente, por por parte do ente humano. Até que o impé-
assim dizer, na medida em que tal relação rio vetorial da velocidade se converta efeti-
é, por mediação do mercado, trazida para o vamente em dromocracia estendida, um es-
centro da vida prosaica, para dentro do tirão temporal de longa duração terá, por-
domo (no caso dos computadores de base) tanto, se processado. Em cumprimento à
e/ou acoplada ao corpo (no caso dos laptops, essência de seu conteúdo, a dromocracia só
notebooks etc.), realizando-se por contato ma- se evidencia em condições avançadas de
nual e subjetivo mais direto e contínuo do desenvolvimento tecnológico e social. Sua
que na relação com os media de massa. consolidação como regime propriamente
dito ou, melhor (à falta de sinonímia mais
2 Dromocracia cibercultural: orga- apropriada), como “sistema” global confi-
nização invisível da violência da gura, pois, matéria recente.
técnica Tal dado não implica, necessariamen-
te, que a dromocracia não existia – mesmo
2.1 Dromocracia como macroconfi- inscrita em gérmen, em processos locais e
guração social-histórica atividades parcelares ou como fonte de
70 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
qualificação dos mesmos – em fases pre- financeira e doravante hipermediática, arti-
gressas da história. Virilio (1996, pp. 67-77) culada por satélites digitais e fincadas em
ilustra, com detalhamento factual, que os redes virtuais, de alcance regional, nacional
princípios constitutivos da dromocracia, e/ou internacional.
atrelados aos interesses de guerra, já esta- Assim se põe, portanto, o estado da
vam assentes, no âmbito da inteligência lo- arte da velocidade tecnológica: na medida
gística, estratégica e tática, na época da for- em que os seus vetores objetais e processu-
mação do Império Romano. A dromocracia ais predominantes – tecnologias e procedi-
assim comparece com estatura mais setori- mentos comunicacionais – são, ipsis literis,
al e concentrada, embora com reconhecida os mesmos que sustentam o modus operandi
expressividade e violência, por vinculação da cibercultura, ela, desde, ao menos, mea-
a grupos ou a estratos sociais de privilégio dos da década de 70 do século passado,
e/ou de ofício. Sua manifestação fenomeno- arranja-se, no plano social-histórico, como
lógica atinha-se, por isso, exclusivamente, à dromocracia cibercultural (cf. Trivinho, 2001a,
categoria de processo, não à de estrutura dinâ- pp. 209-227, 2002, 2003a, 2003b, 2004). Se,
mica a que porventura poderia pertencer. por razões seja de política da teoria, seja de
Tomada desde os seus rudimentos consistência metodológica historicamente
vetoriais até a sua modalidade presente, a contextualizada, não é possível abordar os
dromocracia – vê-se, em suma –, de recurso media e redes digitais sem levar em conta a
estratégico ligado a tribos nômades e a co- sua ligação com a velocidade tecnológica e
ordenadas espaço-temporais específicas, com o que social e culturalmente lhe diz
vai, no compasso do desenvolvimento téc- respeito, também não é possível abordar o
nico e tecnológico civilizatório, erigindo-se, fenômeno da dromocracia sem, ao mesmo
de modo aleatório, e se conformando, em tempo, considerar a cibercultura, a relação
consonância auto-identitária – para além da inversa, no caso, sendo igualmente verda-
hierarquia e/ou dominância de classes ou deira. Ao mesmo tempo em que a dromo-
estratos sociais –, como regime social invisível cracia assume a sua condição tecnológica
justamente no miolo íngreme de outro, plena como cibercultura, esta se insere ple-
bem conhecido da cultura ocidental, a de- namente na história dos vetores dromológi-
mocracia, em sua expressão formal (políti- cos objetais e procedimentais, vis-à-vis, na
ca, jurídica e, portanto, abstrata, derivada história dos pressupostos empíricos e prá-
do legado burguês oitocentista). ticos sine qua non do próprio processo de
Nessa perspectiva, a historiografia constituição da dromocracia.
contemporânea, se calcada em princípios
heterodoxos de reconstituição teórica e fac-
tual da aventura humana, haverá certamen- 3 Modus operandi dromocrático-
te de reconhecer – quem sabe em futuro cibercultural: violência invisível
próximo – que a história real do capitalis- da técnica sofisticada
mo foi e é menos a da consolidação da de-
mocracia a duras penas, à base de confron- Sob lastro na história de exclusão endêmica
tos pungentes e perduráveis, do que a rea- do capitalismo, uma nova lógica da desi-
lização não-programada, tortuosa mas pro- gualdade se estrutura obviamente à som-
gressiva, indiscriminada e sem resistência bra da condição dromocrático-cibercultural da
da dromocracia. Nesse contexto, sobreleva- existência. A matéria também foi abordada
se, por motivos óbvios e não sem requintes em outros momentos da presente investi-
de racionalidade tecnocientífica, o braço in- gação (Trivinho, 1999, Parte I, Cap. V-VII,
dustrial do capitalismo e, mais ainda, o seu 2001a, pp. 209-227, 2001b, 2002, 2003a,
estirão cumulativamente subseqüente e he- 203b). Sua menção, neste trecho, deve-se
gemônico, pós-industrial ou tardio, de base menos a motivos de ênfase do que à opor-
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 71
tunidade de contextualizá-la em bases do automóvel, do helicóptero ou do jato
epistemológicas complementares. particular; e em cuja parte inferior se confi-
A velocidade tecnológica, quando urdida na uma extensa e espessa área povoada por
em estrutura dinâmica universal, cria, um “proletariado” historicamente reescalo-
como que de forma endogenamente autô- nado, assim converso em “camada social
noma, a partir das pressões materiais, sim- dromoinapta” pelo modus operandi sistêmi-
bólicas e imaginárias da organização do co da cibercultura, ordem renovada de se-
trabalho e do lazer, as suas próprias de- res descartáveis a cujos cérebros o presente
mandas recorrentes. A nova lógica da desi- lança a sobrecarga de defasagem patrocina-
gualdade gira em torno do imperativo da da pela miséria informática socialmente produ-
dromoaptidão propriamente cibercultural (cf. zida e a cujos corpos ele distribui, inapela-
Trivinho, 2001a, pp. 209-227, 2002, 2003a) velmente, o universo atômico do território
como capital simbólico necessário para a geográfico, tão antigo e supostamente ul-
manifestação individual, grupal, empresa- trapassado quanto aquela (parte da) huma-
rial e institucional no social em rede. A ca- nidade que se serve dos pés como vetor de
pacidade de ser veloz abrange a competên- deslocamento.23 A lógica dromocrático-ci-
cia econômica orientada para a posse privada bercultural da nova segregação se refrata a
plena (isto é, a partir do domo) das senhas partir de e se alimenta desta hierarquização
infotécnicas de acesso à época (objeto infotec- que re-valora a vida humana em prol da
nológico e rede digital à frente), a compe- continuidade indefinida de sua desqualifi-
tência cognitiva e pragmática no trato da cação ampliada, doravante sob os auspíci-
sociossemiose plena da interatividade (isto é, o os róseos das tecnologias e redes digitais.24
domínio das linguagens informáticas sem- Esse modus operandi fomenta uma sorte de
pre em mutação); e a capacidade (econômi- hiper-reducionismo antropológico e tecno-opera-
ca e cognitiva) de acompanhamento da lógi- cional a vida social a uma condição neomani-
ca da reciclagem estrutural daquelas senhas queísta de extremidades estáveis – só mu-
(vale dizer, do movimento progressivo de dam os respectivos ocupantes ou agentes –
otimização da mais-potência de hardwares, em cuja larga zona intermediária, lembre-
softwares e demais fatores informáticos, que se, coexistem, à sombra de uma inseguran-
compromete o que é anterior em nome do ça sistemática, camadas sociais vertical-
que vem depois, ideologicamente valorado mente escalonadas de acordo com a potên-
como sendo melhor) (cf. Trivinho, 1999, cia da dromoaptidão cibercultural conquistada
Parte II, Cap. IV, 2001b, 2003a). Na medida e periodicamente reconfirmada. A esse neo-
em que a distribuição social das senhas in- darwinismo hiperdinâmico da cibercultura cor-
fotécnicas, da dromoaptidão conforme e, responde, em âmbito global, o behavioris-
portanto, dos acessos, realizada via merca- mo calcado na (apropriação social da) inte-
do, é aleatoriamente desigual – e se, por ratividade que, por definição e condição de
um par de anos, fosse eqüitativa, não resis- contexto (sobretudo em razão da lógica da
tiria à lógica da reciclagem estrutural –, ar- reciclagem estrutural), não pode ser esten-
ranjam-se, como princípio seja de causação, dido a todos. O horizonte da dromocracia
seja de reverberação encadeada, as condi- tecnológica avançada é fortemente identitá-
ções propícias de produção de uma estratifi- rio a uma espécie de eugenia simbólica tão
cação sociodromocrática flexível em cujo topo dinâmica quanto surda, de amplos efeitos
figura a nova casta dos privilegiados, a elite concretos e imprevisíveis.
cibercultural dromoapta, que opera quase in- Esses breves apontamentos bastam,
teiramente no filão virtual do tempo real e com efeito – por razões que se reputam ób-
já nem toca mais o solo próprio das zonas vias –, para recontextualizar a forma con-
urbanas, então convertido em lugar (morto) temporânea e predominante da violência
de passagem (Virilio, 1984b), visto a partir da técnica, em correspondência à fase histó-
72 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
rica idiossincrática de organização planetá- que dela se distancia em vários aspectos, como forma de
ria do capital como cibercultura internacio- realização do princípio dialético da tensão (aqui não
nal. Trata-se de uma violência sutil, estru- conceitualizado de maneira explícita) com a própria fon-
turalmente materializada e processualmen- te inspiradora – corresponde a uma síntese reescalonada
te objetivada na dinâmica tecnológica, au- do capítulo de abertura de Crítica da cibercultura: dromocracia,
tônoma e impessoal do social. Conforme glocal e transpolítica [título referencial e provisório], com lan-
assentado em outro lugar (Trivinho, 2001a, çamento previsto para 2006. A obra resulta de Projeto de
pp. 219-220), a segunda metade do século Pesquisa desenvolvido no Programa de Estudos Pós-
XX, em especial, as últimas três décadas, Graduados em Comunicação e Semiótica da Pontifícia
tornou-se – só em aparência paradoxalmen- Universidade Católica de São Paulo (PEPGCOS-PUC/
te – não o locus histórico da democracia, SP). Os procedimentos científicos e técnicos de consoli-
mas o de uma dromocracia implacável, to- dação da pesquisa condicionaram a criação do CENCIB
mada como algo tanto mais inócuo quanto – Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação
mais se a considere parte inelidível da or- e Cibercultura. Os resultados desse percurso reflexivo fo-
dem natural das coisas.25 Em tintas enfáti- ram circunstanciados em artigos publicados nos últimos
cas, se velocidade é, necessariamente, vio- anos (veja-se, em especial, Trivinho, 2002, 2003a, 2003b,
lência (cf. Virilio, 1977, 1984a, 1984c; Trivi- 2004). O presente estudo cumpre, conforme o indica o
nho, 2001a, pp. 209-227, 2001b, 2002, 2003a, subtítulo, o objetivo de melhor contextualização desses
2004), a dromocracia cibercultural, como textos e, em particular, de clarificação de pontos eventu-
não poderia deixar de ser, é, em essência, almente lacunares do pensamento histórico neles conso-
terror (Trivinho, 2002, 2003a) – aqui já não lidado sobre a (crítica da) cibercultura. O caráter de sín-
tanto pelos nexos imanentes entre velocida- tese reescalonada da argumentação – aqui desprovida,
de e processo bélico ou em razão de a velo- por razões de espaço, da seção destinada ao tema da
cidade implicar-se na espiral da morte sim- transpolítica – se deve a motivos menores, mas não me-
bólica (da geografia, do corpo, da alterida- nos determinantes: perfaz a versão possível, por agora,
de concreta etc.). A condição dromocrática para viabilizar o debate público. Uma versão intermediá-
da cibercultura exige que a violência high ria do texto foi apresentada no XIV Encontro da
tech seja introjetada e atuada: a dromoapti- COMPÓS – Associação Nacional dos Programas de Pós-
dão em relação às senhas infotécnicas de Graduação em Comunicação (GT “Tecnologias Infor-
acesso (ao mercado de trabalho, ao cybers- macionais de Comunicação e Sociedade”), realizado na
pace, ao lazer digital, à alteridade virtual UFF, em Niterói/RJ, no período de 22 a 25/06/2005. A
etc.) deve se converter em habitus (cf. Bor- argumentação completa está prevista para a obra menci-
dieu, 1982, 1983, 2001), modo de ser, de es- onada.
tar e de agir diuturnamente reconfirmado
até a simbiose imaginária e o acoplamento 2 Cunha, assim, a dromologia – mais precisamente, poder-
corporal com o vetor implicado consolida- se-ia dizê-lo (não sem risco de pleonasmo, aqui justifica-
rem o automatismo subjetivo e prático re- do), a sociodromologia – como método de abordagem.
querido. O ideal cínico da cibercultura é o
homo dromologicus com a consciência feliz e 3 Se as teses defendidas puderem ao menos ser vistas
despreocupada do homo ludens. Dessa ma- como outra maneira de re-significar a história e como
neira, a violência da técnica avançada ad- demonstração válida e viável nessa direção, já terá cum-
quire, de tão invisível, o ar que lhe talha a prido o seu principal papel.
sofisticação e a imunidade que também a
redime de todo questionamento público . 4 Essa evocação assume validade tanto mais enfática em ra-
zão da suspensão, no fluxo da argumentação, do tratamen-
to mais exaustivo dos nexos com o processo bélico. A maté-
Notas ria já foi objeto específico de abordagem em fases pregressas
da presente pesquisa (TRIVINHO, 2001a, p. 209-227, 2002,
1 O presente ensaio – tributário da obra de Paul Virilio e 2004). A necessidade cognitiva do momento repousa na
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 73
cobertura teórica e epistemológica de material social-his- e, depois, na Ásia central, no seio do nomadismo tribal
tórico ainda não considerado. turco). A otimização técnica da montaria, tecida nas es-
trias de quase três milênios, condicionará, mais tarde, no
5 Não sem risco de alguma lacuna essencial, que a exigüi- incessante gume político-militar, mercantil e citadino
dade de espaço (previsto para a presente argumentação) que esgarça e costura o processo civilizatório, o advento
certamente redime. da cavalaria militar medieval. Ambas as técnicas
dromológicas – a montaria selada e a roda (de madeira
6 Resta, portanto, descartada, como equívoco metodológico ou ferro) –, conjuminadas, radicam na origem mais re-
primário, a legitimação da perspectiva positivista- mota da carruagem de tração animal e da charrete urba-
evolucionista no campo de reflexão sobre as relações en- na. O assenhoramento e “alisamento” dromológicos da
tre velocidade, organização social e história. superfície terrestre dispõem, a partir disso, de um alta-
mente ondulado, mas claro, fio condutor (em matéria de
7 Não por acaso, Virilio (1996, p. 55) registrou que a veloci- vetores técnicos e tecnológicos), comumente bem conhe-
dade provém do mar. cido, que se assenta na dobra entre a carruagem a vapor
do século das Luzes e o automóvel do final do século
8 A história inaugural da navegação – segundo o consenso XIX, entre a locomotiva e o bonde urbano de meados
arqueológico e historiográfico presente – se desenvolve desse mesmo século, entre o caminhão e o ônibus e entre
entre aproximadamente o sexto e o terceiro milênios an- este e o metrô, e, paralelamente, com não menor impor-
tes da era cristã. A posteridade desse procedimento tância, entre a bicicleta e a motocicleta.Por fim, a explo-
dromológico se precipitaria, como nos âmbitos terrestre ração do universo aéreo como ambiente dromológico efe-
e, mais tarde, aéreo, em sua respectiva e conhecida ca- tivo, embora lastreada na prosaica percepção milenar do
deia diversificada de vetores: desde a canoa escavada, vôo dos pássaros (tão íntima aos interesses da ciência
que marca o alvorecer dessa epopéia, na Europa e na mecânica) – para subtrair o sonho de vôo, de Bachelard
Ásia, à jangada, utilizada no quarto milênio a.C., na (2001, pp. 19-64) do registro onírico e literário e inseri-lo
China; do barco módico, a remo, presente no terceiro no contexto concreto da gravidade propriamente dita –,
milênio a.C., no Mediterrâneo, entre os egípcios (e que desencadeia-se apenas no final do século XVIII, com a
chegaria ao Oceano Pacífico somente no século das Lu- circulação do primeiro balão tripulado (de ar quente). A
zes), à caravela; do barco a vapor do início do século XIX partir daí, os “obsessivos devaneios do ar”, os perseve-
ao moderno navio mercante e deste ao submarino, o des- rantes delírios do imaginário aéreo não cessarão de enca-
tino reservaria à exploração do infinito marítimo, como dear proezas: a plúmbea leveza do avião e do helicópte-
espaço de fluxo militar, comercial e civil e de competição ro, proveniente do início do século XIX, passou a ser
entre impérios, classes sociais e países, uma escalada partilhada, mais recentemente, por naves espaciais, esta-
exitosa e híbrida de desempenho técnico, glórias nacio- ções interplanetárias e satélites de comunicação.
nais e barbárie. Por seu turno, o domínio da velocidade
terrestre, que, na esteira da montaria rudimentar a cava- 9 Ficam, portanto, preteridos, nesse contexto, todos os
lo (a qual, antes do oitavo século a.C. se realizava em meios impressos, o cinema, o vídeo e as demais formas
pêlo), se reescalona enormemente com a descoberta e de- tecnológicas de produção e massificação da cultura por
senvolvimento da roda entre os sumérios, na Meso- recursos diversos ao da transmissão em tempo instantâ-
potâmia, encontra o seu apogeu histórico preliminar na neo.
segunda metade do quarto milênio a.C. A domesticação
dromocrática do corpo animal, cujo início provavelmente 10 Uma sucinta historicização reflexiva sobre tais vetores
mais consistente coincide com o aparecimento do arreio, foi, de certa forma, cumprida em outro lugar (cf.
aperfeiçoado no transcurso do terceiro milênio a.C., no Trivinho, 2001b), num contexto de discussão diferencia-
Oriente Médio, culmina na descoberta da sela (que já do – não propriamente dromológico em sentido estrito,
existia no começo do segundo milênio a.C., mas se con- mas a ele amplamente ligado –, em cujo centro se impli-
solida somente entre os séculos VIII e II a.C., na China, cavam o fenômeno glocal (para além do global e do local
e, no Império Romano, no século I da era cristã) e do como categorias distintas, mesmo em teoria) e o processo
estribo (no século III d.C., embora só se consolide no social dele derivado, a glocalização da existência e da
século VI d.C., na China, no século seguinte, no Japão, experiência.
74 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
Em relação à “natureza” dos dois tempos implicados – 17 Para requalificar, por outro ângulo, o assinalado anteri-
live e online –, lembre-se que ambos pressupõem simula- ormente, com base no conceito de vetor.
ção tecnológica do tempo que passa, próprio do contexto Frise-se, por evocação à nota 10, tratar-se, no caso, exclu-
presencial da vida ordinária. sivamente, de tecnologias capazes de redes (cf. Trivinho,
1998). No que isso se relaciona com a categoria do glocal,
11 O notável processo milenar, há pouco considerado, de veja-se Trivinho (1999, Parte II, 2001b, 2004).
consolidação da menor resistência possível – resistência
zero – ao deslocamento de criações humanas vê-se, as- 18 Nesse aspecto, os veículos de comunicação levaram in-
sim – por caminhos nada retilíneos na história das in- comparavelmente mais longe a roda-viva sociocultural e
venções técnicas e/ou científicas –, plenamente consu- econômico-financeira que os veículos convencionais de
mado. Por conseguinte, realiza-se, nele e por ele, o proces- transporte já haviam posto em avanço na vida cotidiana.
so de “alisamento” tecnológico total – vis-à-vis, de subtração de
toda eventual estria – do território geográfico, aconteci- 19 Não por outros motivos, essa similaridade de funções
mento que, de certa forma, se confunde com o processo social-históricas reside na essência da apreensão do fe-
de progressiva diminuição anuladora do planeta. nômeno comunicacional por parte de Adorno e
Horkheimer (1970, pp. 146-200), ao elaborarem, em
12 Provavelmente, somente nela poderiam sê-lo, em virtude 1947, o conceito de indústria cultural como metáfora te-
do interesse de Virilio pela relação entre vetor dromo- órica para politizar o debate a respeito, em confronto
lógico e destino das cidades. (Ao tratar de objetos e te- com a sociologia conservadora norte-americana de meados
mas comumente considerados da área de Comunicação, do século XX, ancorada no conceito de cultura de massa.
Virilio o faz sempre a partir do ponto de vista da arquite-
tura e do urbanismo). 20 Isto deve ser (ou deveria ter sido) previsto como caracte-
rística fundamental da comunicação como utopia, tal como
13 Em todas as tipificações mencionadas na nota 9, tratan- forjada no momento de nascença da cibernética, com
do-se de vetores, são, aliás, na perspectiva socio- Wiener (1996), na década de 40 do século passado (cf.
dromológica, sempre fatores de condutibilidade, meios Breton, 1992; Breton; Proulx, 1991): aceleração simbólica
de transporte, que estão em jogo. e imaginária – glacial segundo Baudrillard – da existên-
cia mediante alta reciclagem informacional operada pe-
14 Na notação alegórica de Virilio, “a velocidade é a velhice las estruturas teletecnológicas em tempo real. Sobre as
do mundo”. Pelo que essa injunção implica a questão da relações entre comunicação e utopia, veja-se também
morte simbólica do planeta, então banido da experiên- Mattelart (1994, 2002).
cia concreta e do campo de visão cotidianos –
desterritorialização é, em suma, desterro, se assim se 21 Fato com significação social-histórica talvez mais pro-
pode jogar com as palavras –, pressupõe, igualmente, a funda (e, com efeito, pouco notada) do que o (e talvez
questão da violência da técnica. Não há tergiversação ou em razão mesma do) processo gradativo de norte-ameri-
descarte sumário – seja ele qual for (no caso, mediático) canização da cultura mundializada, preservado, basica-
– que não a incorpore (Trivinho, 2004). mente, nos produtos do seguimento jornalístico, cinema-
tográfico e fonográfico e, depois, nos modelos predomi-
15 O original do livro (mencionado) de Weber (1971) é de nantes de hardwares e softwares.
1905.
22 De toda forma, a temática é retomada no tópico seguin-
16 O sistema de administração conhecido sob a cláusula do te.
pós-fordismo, baseado num conjunto distinto de princí- 23 Sobre os ombros de quem é (ou se dá o direito de ser)
pios operacionais de acumulação flexível, preserva, intei- tecnologicamente “lento” a época faz recair o peso do
ramente, de sua fonte histórica (de que só aparentemen- preconceito dromológico em curso. Somente quem se mostra
te é um contradito), o imperativo dromológico. Sobre a conforme a doxa (o que significa dizer: somente quem o
flexibilização da acumulação capitalista, indiquem-se consegue) escapa a essa forma de violência simbólica. A
Harvey (1992) e Kumar (1997). crítica a essa nova circunstância da moral prática deveria
iniciar o seu mister pela revisão das relações entre tolerância
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 75
social como princípio ético desejável e velocidade como valor Terra, 1978. p. 209-244.
de referência para o juízo subjetivo sobre a alteridade. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo:
Perspectiva, 1982. (Col. Estudos).
24 O fato de as potencialidades dessas tecnologias e redes
não cessarem de ser celebradas, aos quatro cantos, de ___. Esboço de uma teoria da prática; Gostos de classe e
modo fetichista, pelo ciberufanismo neo-iluminista, neo- estilos de vida; O campo científico; A economia das tro-
humanista e pragmático-utilitário que adorna tanto as Univer- cas lingüísticas. In: ORTIZ, Renato (Org.). Pierre Bordieu:
sidades e o Estado, quanto o chamado terceiro setor Sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p. 60-61, 82-121,
(ONGs) e o discurso empresarial em geral deve-se menos 122-155, 156-183.
a uma visão ou concepção cega sobre problemas e ten-
dências da civilização mediática avançada do que a uma ___. O poder simbólico. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
posição (política) consciente ou inconscientemente con- 2001.
servadora: com ele (o discurso pregador do momento),
como com a interatividade diariamente praticada (seja BRETON, Philippe. A utopia da comunicação. Lisboa: Instituto
por prazer, seja por necessidade), faz-se o jogo (da re- Piaget, s.d. [original francês: 1992] (Col. Epistemologia e
produção) da ordem e da regra. Sociedade, 11).
25 A modalidade contemporânea de totalitarismo global – BRETON, Philippe; PROULX, Serge. L’explosion de la commu-
que, não obstante, se nega diuturnamente como tal –, nication: la naissance d’une nouvelle idéologie. Paris;
Império, na categorização de Negri e Hardt (2001), na Montreal: La Découverte; Boréal, 1991. (Col. Sciences et
medida em que só podia se realizar com base em Société).
tecnologias e redes audiovisuais em tempo real, ou é
uma construção social-histórica, econômico-financeira e DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e
político-militar própria da velocidade (no sentido de ser esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, v. 5, 1997.)
condicionada e conformada por ela, em versão mediática),
ou não o é. Império, tal como então caracterizado, foco GUILLAUME, Marc. La contagion des passions: essai sur
contextual privilegiado da crítica socialmente orientada, é l’exotisme intérieur. Paris: Plon, 1989.
uma realidade dromocrático-mediática, de forte base bélica.
A coincidência histórica de sua estruturação internacional HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Ed.
com a vigência da cibercultura não deve ser tomada como 70, 2001.
casual, muito menos ser objeto de condescendência.
HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre
as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola,
Referências 1992.
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialéctica del HEIDEGGER, Martin. Essais et conferénces. Paris: Gallimard,
iluminismo. Buenos Aires: SUR, 1970. 1958.
BACHELARD, Gaston. O ar e os sonhos: ensaio sobre a imagi- KROKER, Arthur; WEINSTEIN, Michael. Data trash: the
nação do movimento. São Paulo: Martins Fontes, 2001. theory of the virtual class. New York: St. Martin’s Press,
1994.
BATAILLE, Georges. A parte maldita. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas
BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Ed. 70, teorias sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro:
2000. (Col. Arte e Comunicação). Jorge Zahar, 1997.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua LYOTARD, Jean-François. O pós-moderno. Rio de Janeiro: José
reprodutibilidade técnica. In: COSTA LIMA, Luiz Olympio, 1986.
(Org.). Teoria da cultura de massa. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e
76 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
___. O pós-moderno explicado às crianças. Lisboa: Dom Quixote, 1993. editada pela Federación Latinoamericana de Semiótica).
MARCUSE, Herbert. Ideologia da sociedade industrial. Rio de Ja- ___. Alteridade, corpo e morte no cyberspace: cicatrizes de um
neiro: Zahar, 1967. hipercrime na epifania do virtual. São Paulo: 2003c. 21
p. Cópia reprográfica. (Texto a se publicado na revista
___. El marxismo soviético. 5. ed. Madrid: Alianza, 1984. Famecos: mídia, cultura e tecnologia, editada pelo Programa de
Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC/RS, n.
MATTELART, Armand. A invenção da comunicação. Lisboa: Ins- 23, abr. 2004).
tituto Piaget, s.d. [original francês: 1994]. (Col.
Epistemologia e Sociedade, 42). ___. Comunicação, glocal e cibercultura: “bunkerização” da
existência no imaginário mediático contemporâneo. Fron-
___. História da utopia planetária: da cidade profética à sociedade teiras: estudos midiáticos-Revista do Programa de Pós-Gradu-
global. Porto Alegre: Sulina, 2002. ação em Comunicação da Unisinos/RS, São Leopoldo,
vol. VII, n. 1, p. 61-76, abr. 2005.
NEGRI, Antonio; HARDT, Michael. Império. Rio de Janeiro;
São Paulo: Record, 2001. VIRILIO, Paul. Bunker archeologie. Éditions du CCI, 1975.
TRIVINHO, Eugênio. Cyberspace: crítica da nova comunica- ___. L’insécurité du territoire. Stock, 1976.
ção. São Paulo: Biblioteca da ECA/USP, 1999. 466 p.
___. Vitesse et politique. Paris: Galilée, 1977.
___. O mal-estar da teoria: a condição da crítica na sociedade
tecnológica atual. Rio de Janeiro: Quartet, 2001a. ___. Esthétique de la disparition. Paris: Balland; Galilée, 1980.
___. Glocal: para a renovação da crítica da civilização ___. L’horizon négatif: essai de dromoscopie. Paris: Galilée,
mediática. In: FRAGOSO, Suely; FRAGA DA SILVA, 1984a.
Dinorá (Org.). Comunicação na cibercultura. São Leopoldo:
Unisinos, 2001b. p. 61-104. ___. L’espace critique. Paris: Christian Bourgois, 1984b
___. Cibercultura, iconocracia e hipertexto: autolegitimação ___. Guerra pura: a militarização do cotidiano. São Paulo:
social na era da transpolítica e dos signos vazios. Galáxia: Brasiliense, 1984c.
revista transdisciplinar de comunicação, semiótica, cul-
tura-Programa de Estudos Pós-Graduados em Comuni- __. Logistique de la perception: guerre et cinéma I. Etoile; Cahiers
cação e Semiótica da PUC/SP, São Paulo, EDUC, n. 1, du Cinéma, 1984.
p. 111-125, abr. 2001c.
___. La máquina de visión. Espanha: Cátedra, 1989.
___. Velocidade e violência: dromocracia como regime
transpolítico da cibercultura. In: PORTO, Sérgio Dayrell ___. L’écran du désert: chroniques de guerre. Paris: Galilée, 1991.
(Org.). A incompreensão das diferenças: 11 de setembro em
Nova York. Brasília: IESB, 2002. p. 257-272. (Série Co- ___. La vitesse de libération. Paris: Galilée, 1995.
municação).
___. A arte do motor. São Paulo: Estação Liberdade, 1996a.
___. Cibercultura, sociossemiose e morte: sobrevivência em
tempos de terror dromocrático. In Fronteiras: estudos ___. Cybermonde: la politique du pire. Paris: Textuel, 1996b.
midiáticos-Revista do Programa de Pós-Graduação em
Comunicação da Unisinos/RS, São Leopoldo, vol. V, n. ___. A bomba informática. São Paulo: Estação Liberdade, 1999.
2, p. 97-124, dez. 2003a.
___. L’inertie polaire: essai. Paris: Christian Bourgois, 2002.
___. Estética e cibercultura: arte no contexto da segregação
dromocrática avançada. São Paulo: 2003b. 11 p. Cópia ___. Ville panique: ailleurs commence ici. Paris: Galileé, 2004.
reprográfica. (Texto a ser publicado, em 2004, na revista DeSignis,
Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral 77
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Pau-
lo: Pioneira, 1971.
___. Economia e sociedade. 3. ed. Brasília: Ed. da UnB, v. 1, 1994.
WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano de se-
res humanos. 15a. ed. São Paulo: Cultrix, 1996.
78 Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 28 • dezembro 2005 • quadrimestral
Você também pode gostar
- AAP - Língua Portuguesa - 3º Ano Do Ensino FundamentalDocumento12 páginasAAP - Língua Portuguesa - 3º Ano Do Ensino FundamentalEduardo Silva50% (2)
- Formulando DetergenteDocumento9 páginasFormulando Detergenteufrnylde7846Ainda não há avaliações
- Compreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoNo EverandCompreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoAinda não há avaliações
- Razao, Ontologia e Praxis, Jose Paulo Netto PDFDocumento10 páginasRazao, Ontologia e Praxis, Jose Paulo Netto PDFDanilo AmorimAinda não há avaliações
- Da Produção de Subjetividade - GuattariDocumento18 páginasDa Produção de Subjetividade - GuattariJessica GonçalvesAinda não há avaliações
- O Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteNo EverandO Brasil em dois tempos: História, pensamento social e tempo presenteAinda não há avaliações
- (Ruy Moreira) A Geografia Do Espa O-Mundo ConflitDocumento235 páginas(Ruy Moreira) A Geografia Do Espa O-Mundo ConflitAugusto Gomes Werneck100% (3)
- Embratel White Paper - Carrier EthernetDocumento8 páginasEmbratel White Paper - Carrier EthernetMarcelo HaagAinda não há avaliações
- Prefixos GregosDocumento2 páginasPrefixos GregosMiriane Costa da SilvaAinda não há avaliações
- Plano de Qualidade de SoftwareDocumento13 páginasPlano de Qualidade de SoftwareMarcelo Lourenço100% (1)
- TRIVINHO, E - Introdução À Dromocracia CiberculturalDocumento16 páginasTRIVINHO, E - Introdução À Dromocracia CiberculturalfklacerdaAinda não há avaliações
- Capital TranspolíticoDocumento11 páginasCapital TranspolíticoFlora DaeAinda não há avaliações
- Teorias Da Cidade: Reformas Urbanas ContemporâneasDocumento15 páginasTeorias Da Cidade: Reformas Urbanas ContemporâneasTimothy HayesAinda não há avaliações
- Astor AntonioDocumento34 páginasAstor AntonioGabriele PereiraAinda não há avaliações
- 7SHCU - Futuro e Futurabilidade - Versão 03 (Rev - Final)Documento18 páginas7SHCU - Futuro e Futurabilidade - Versão 03 (Rev - Final)Clara Luiza MirandaAinda não há avaliações
- Alves, Nilda - Ética, Estética e SubjetividadeDocumento10 páginasAlves, Nilda - Ética, Estética e SubjetividadeLucianny AraujoAinda não há avaliações
- Marxismo e CulturaDocumento21 páginasMarxismo e CulturaWAllaceAinda não há avaliações
- Os Tempos HipermodernosDocumento20 páginasOs Tempos HipermodernosCristina GavrilaAinda não há avaliações
- Assis Daniel Gomes 2018Documento15 páginasAssis Daniel Gomes 2018Assis Daniel GomesAinda não há avaliações
- A Teoria Da 'Sociedade Do Espetáculo' e Os Mass Media. Vetores IdeológicosDocumento24 páginasA Teoria Da 'Sociedade Do Espetáculo' e Os Mass Media. Vetores IdeológicosdanielmvsouzaAinda não há avaliações
- O Déficit Da Esquerda É Organizacional - José Paulo NettoDocumento9 páginasO Déficit Da Esquerda É Organizacional - José Paulo NettoLucas Ribeiro PradoAinda não há avaliações
- Transições Demográficas, Transição Urbana, Urbanização ExtensivaDocumento16 páginasTransições Demográficas, Transição Urbana, Urbanização ExtensivaLuiz Antonio ChavesAinda não há avaliações
- Caosmose Felix GuattariDocumento212 páginasCaosmose Felix Guattariursula dart100% (2)
- Ana Clara Torres Ribeiro - Homens Lentos Opacidades e RugosidadesDocumento14 páginasAna Clara Torres Ribeiro - Homens Lentos Opacidades e RugosidadesThais UedaAinda não há avaliações
- Plano Bimestral Ensino Medio (Habilidades Essenciais)Documento8 páginasPlano Bimestral Ensino Medio (Habilidades Essenciais)Kelvia Costa100% (1)
- Homens Lentos Opacidades e Rugosidades PDFDocumento14 páginasHomens Lentos Opacidades e Rugosidades PDFflanmAinda não há avaliações
- Geografia Da Modernidade e Geografia Da Pós-ModernidadeDocumento13 páginasGeografia Da Modernidade e Geografia Da Pós-ModernidadeIsaac Viana Carrafa SoaresAinda não há avaliações
- Pol. NETTO, José Paulo. O Déficit Da Esquerda É Organizacional.Documento7 páginasPol. NETTO, José Paulo. O Déficit Da Esquerda É Organizacional.Gabriel LazzariAinda não há avaliações
- TODOS!Documento27 páginasTODOS!tiagojjalvesAinda não há avaliações
- Bichos de Obra - Lins RibeiroDocumento14 páginasBichos de Obra - Lins RibeiroLopo RafaelAinda não há avaliações
- Geografias Modernas e Pos-ModernasDocumento17 páginasGeografias Modernas e Pos-ModernasElaine TinocoAinda não há avaliações
- Historicidade e Contexto em Perspectiva HistoricaDocumento22 páginasHistoricidade e Contexto em Perspectiva HistoricaTaisAinda não há avaliações
- As Identidades Culturais Na Contemporaneidade: Dilemas e Perspectivas em Uma Conjuntura Pós ModernaDocumento7 páginasAs Identidades Culturais Na Contemporaneidade: Dilemas e Perspectivas em Uma Conjuntura Pós ModernaO Mundo da BiaAinda não há avaliações
- (RESENHA) Caosmose - Um Novo Paradigma EstéticoDocumento2 páginas(RESENHA) Caosmose - Um Novo Paradigma EstéticoGuilherme CuoghiAinda não há avaliações
- Texto 1Documento11 páginasTexto 1FLÁVIO SANTANAAinda não há avaliações
- 7869 33423 1 PBDocumento15 páginas7869 33423 1 PBGleiciane MarrielAinda não há avaliações
- Marcuse e As Traições Da TecnologiaDocumento5 páginasMarcuse e As Traições Da TecnologiamarioAinda não há avaliações
- João Luiz Lafetá PDFDocumento12 páginasJoão Luiz Lafetá PDFSamuel SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento - BraudelDocumento5 páginasFichamento - Braudelanon_937785226Ainda não há avaliações
- Miolo - A Formação Do Cidadão Produtivo - 4 Versão - ULTIMO - PMDDocumento53 páginasMiolo - A Formação Do Cidadão Produtivo - 4 Versão - ULTIMO - PMDEdgar Souza OliveiraAinda não há avaliações
- Economia Política Das GeotecnologiasDocumento21 páginasEconomia Política Das GeotecnologiasvalorizarengenhariaAinda não há avaliações
- Sérgio Adorno - O Social e A Sociologia em Uma Era de IncertezasDocumento27 páginasSérgio Adorno - O Social e A Sociologia em Uma Era de IncertezaspetraAinda não há avaliações
- CHARTIER, Roger. O Mundo Como RepresentaçãoDocumento20 páginasCHARTIER, Roger. O Mundo Como Representaçãomouras02100% (1)
- Caminhos Do Fim Da HistoriaDocumento106 páginasCaminhos Do Fim Da Historiaalexandre_saAinda não há avaliações
- 15-09 AppaduraiDocumento16 páginas15-09 AppadurairejukleinAinda não há avaliações
- Raizesmin, 4Documento15 páginasRaizesmin, 4RadroX CraftAinda não há avaliações
- Eduardo Terren. Postmodernidad, Legitimidad y EducaciónDocumento37 páginasEduardo Terren. Postmodernidad, Legitimidad y EducaciónWilson Gomez100% (1)
- Cairo Henrique Dos Santos Lima - Aula 3 - Tempo (Epistemologia)Documento3 páginasCairo Henrique Dos Santos Lima - Aula 3 - Tempo (Epistemologia)cairo henrique limaAinda não há avaliações
- História e Práxis Social: introdução aos complexos categoriais do ser socialNo EverandHistória e Práxis Social: introdução aos complexos categoriais do ser socialAinda não há avaliações
- Aula 05 PDFDocumento30 páginasAula 05 PDFPatricia MichelleAinda não há avaliações
- A Cidade Da Informalidade - AnaClaraTorresRibeiroDocumento4 páginasA Cidade Da Informalidade - AnaClaraTorresRibeiroGabriel Boraschi RibeiroAinda não há avaliações
- Aula I - 20 de Agosto de 2018Documento64 páginasAula I - 20 de Agosto de 2018Matheus EduardoAinda não há avaliações
- Revista Tempo Gislene NederDocumento24 páginasRevista Tempo Gislene NederKeila Carvalho100% (1)
- Fragmentação Do Conhecimento Ou Interdisciplinaridade PDFDocumento10 páginasFragmentação Do Conhecimento Ou Interdisciplinaridade PDFLuis vasquinhoAinda não há avaliações
- Ferdinand Braudel - História e Ciências SociaisDocumento135 páginasFerdinand Braudel - História e Ciências SociaisCarolina CristinaAinda não há avaliações
- 3 - ABREU, Marcelo e RANGEL, MArcelo - Memória, Cultura Histórica e Ensino de História No Mundo Contemporâneo PDFDocumento18 páginas3 - ABREU, Marcelo e RANGEL, MArcelo - Memória, Cultura Histórica e Ensino de História No Mundo Contemporâneo PDFJade NoronhaAinda não há avaliações
- Fronteira Como Método e Como "Lugar" de Lutas Segundo Sandro Mezzadra - Pedro Claudio Cunca BocayuvaDocumento23 páginasFronteira Como Método e Como "Lugar" de Lutas Segundo Sandro Mezzadra - Pedro Claudio Cunca BocayuvaAdemilson Arruda50% (2)
- AceleraçãoDocumento11 páginasAceleraçãorafael fróes'100% (1)
- Desigualdade e Exclusão Social Maura Pardini VerasDocumento35 páginasDesigualdade e Exclusão Social Maura Pardini VerasGersonAinda não há avaliações
- Ativismos Cartográficos em Abya Yala: O resgate dos mundos que nos foram negadosNo EverandAtivismos Cartográficos em Abya Yala: O resgate dos mundos que nos foram negadosAinda não há avaliações
- Durações e redes de fluxos no cenário cultural contemporâneoNo EverandDurações e redes de fluxos no cenário cultural contemporâneoAinda não há avaliações
- Wolfgang Streeck O Retorno Dos ReprimidosDocumento12 páginasWolfgang Streeck O Retorno Dos ReprimidosElaina ForteAinda não há avaliações
- Ok - Pandemia É Coisa de Mulher - Denise PimentaDocumento12 páginasOk - Pandemia É Coisa de Mulher - Denise PimentaElaina ForteAinda não há avaliações
- Visão Multidimensional de PobrezaDocumento11 páginasVisão Multidimensional de PobrezaElaina ForteAinda não há avaliações
- Vi Congresso Internacional de Direitos HUMANOS DE COIMBRA: Uma Visão Transdisciplinar. 12 A 14 de Outubro de 2021 - Coimbra/PortugalDocumento7 páginasVi Congresso Internacional de Direitos HUMANOS DE COIMBRA: Uma Visão Transdisciplinar. 12 A 14 de Outubro de 2021 - Coimbra/PortugalElaina ForteAinda não há avaliações
- (Re) Consiruir A Maternidade Numa Perspectiva DiscursivaDocumento441 páginas(Re) Consiruir A Maternidade Numa Perspectiva DiscursivaElaina ForteAinda não há avaliações
- Resolução U1 Quimica 10 Livro IAVE (1) - 13Documento8 páginasResolução U1 Quimica 10 Livro IAVE (1) - 13sergiopcm8997Ainda não há avaliações
- 9 Ano Plano de Aula - 11 A 13 de OutDocumento1 página9 Ano Plano de Aula - 11 A 13 de OutElsa Viana BaptistaAinda não há avaliações
- Roteiro de Como Proceder Numa EntrevistaDocumento2 páginasRoteiro de Como Proceder Numa EntrevistaJuliana NascimentoAinda não há avaliações
- Catalogo de IndicadoresDocumento226 páginasCatalogo de IndicadoresVinicius CescaAinda não há avaliações
- (3149) IntroducaoaFilosofiaDocumento186 páginas(3149) IntroducaoaFilosofiaLuiz Felipe PereiraAinda não há avaliações
- CAL3300 9300 9400 Manual English - En.ptDocumento13 páginasCAL3300 9300 9400 Manual English - En.ptmardonioandradeAinda não há avaliações
- Apostila TrentinaDocumento15 páginasApostila TrentinaDd AAinda não há avaliações
- Relatório Massa Especifica Agregados PDFDocumento16 páginasRelatório Massa Especifica Agregados PDFLuan C. RibeiroAinda não há avaliações
- Resumo Sobre A Educação Na Deficiência VisualDocumento35 páginasResumo Sobre A Educação Na Deficiência VisualIsabeli Rodrigues100% (1)
- La VouivreDocumento8 páginasLa VouivreMilena100% (3)
- Método Abelhinha Pelotas RSDocumento12 páginasMétodo Abelhinha Pelotas RSMaiaAinda não há avaliações
- Exercicio de Funcoes Da Linguagem1Documento2 páginasExercicio de Funcoes Da Linguagem1Wilza SantosAinda não há avaliações
- Dinamica Volta As AulasDocumento7 páginasDinamica Volta As AulasGrace TadayAinda não há avaliações
- Norma Bombeiro Civil-NBR-14.608 PDFDocumento45 páginasNorma Bombeiro Civil-NBR-14.608 PDFThiago FelipeAinda não há avaliações
- MCFT3 - Susbsistemas de TerraDocumento3 páginasMCFT3 - Susbsistemas de TerraCristina Moura0% (1)
- Promoção Da Saúde Mental Na Gravidez e Primeira InfânciaDocumento50 páginasPromoção Da Saúde Mental Na Gravidez e Primeira InfânciaJoana CristoAinda não há avaliações
- Atividades de Educação SocioemocionalDocumento20 páginasAtividades de Educação SocioemocionalAndressa Freitas100% (5)
- Barbecue Sofistís - Luciano Gonçalves DiasDocumento8 páginasBarbecue Sofistís - Luciano Gonçalves DiasAna Luíza Alves de SouzaAinda não há avaliações
- Condensador EvaporativoDocumento2 páginasCondensador EvaporativocuerbassAinda não há avaliações
- Ava CCI Unidade 2Documento4 páginasAva CCI Unidade 2Wellinton BatistaAinda não há avaliações
- Prova Do Curso de Topografia, Cartografia e GpsDocumento2 páginasProva Do Curso de Topografia, Cartografia e Gpseduardo machado100% (1)
- Alcool 70%Documento6 páginasAlcool 70%Wilson AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Revista Abho 25Documento44 páginasRevista Abho 25Carlos Akira Tresohlavy100% (1)
- Resumo Simulado 4º Bimestre - Livro ParadidáticoDocumento2 páginasResumo Simulado 4º Bimestre - Livro ParadidáticoNury Kim100% (2)
- Resenha Threadgold (2005) Performing Theories of Narrative. Theorising Narrative PerformanceDocumento7 páginasResenha Threadgold (2005) Performing Theories of Narrative. Theorising Narrative PerformanceDanieldeAugustinisAinda não há avaliações





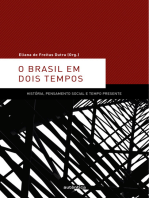










































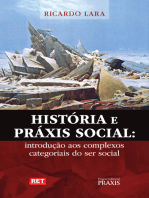









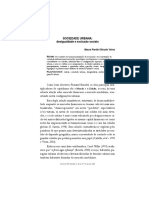

![Edição e [des]alinhamento](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/639651232/149x198/6411d8338c/1707258895?v=1)