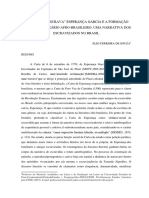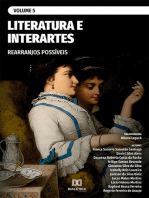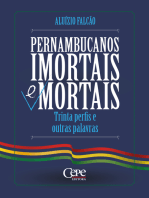Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 PB
1 PB
Enviado por
Giovana de Vasconcellos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações11 páginasTítulo original
244086-166420-1-PB
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações11 páginas1 PB
1 PB
Enviado por
Giovana de VasconcellosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
revista ANTHROPOLÓGICAS
Ano 23, 30(2): 316-326, 2019
ENSAIO BIBLIOGRÁFICO
Diários de Antropologia Griô:
etnografia e literatura na obra de Zora Hurston
Messias Basquesa
HURSTON, Zora Neale. 2018. Barracoon: the story of the last
‘Black Cargo’. Editado por Deborah Plant. New York: Amistad.
“Todas essas palavras dos vendedores, mas nenhuma palavra
dos vendidos. Os Reis e Capitães cujas palavras moveram na-
vios. Mas nenhuma palavra de suas cargas” (Hurston 2008:42).
“Eu quero saber quem é você e como você se tornou um escra-
vo; a qual parte da África você pertence, como era a sua vida
como escravo, e como você tem vivido como um homem livre”
(Hurston 2008:18).
Barracoon é o primeiro livro da antropóloga e escritora afro-ame-
ricana Zora Neale Hurston (1891-1960), embora o manuscrito tenha
permanecido inédito desde 1931, devido ao desinteresse dos editores
em publicá-lo no formato original. Durante todos esses anos, as pági-
nas de Barracoon estiveram depositadas nos arquivos da Universida-
a Doutor em Antropologia, Museu Nacional da UFRJ. Email: messias.
basques@gmail.com
Ensaio Bibliográfico
de de Howard, em Washington. O título faz referência aos barracões
onde eram aprisionados os negros submetidos ao tráfico ultramarino
de escravos. Na língua inglesa, a palavra tem sentido semelhante ao de
senzala, mas diferencia-se das habitações das colônias portuguesas por
seu caráter temporário. Trata-se de um espaço que produzia a trans-
figuração de pessoas em mercadorias à espera de um destino incerto.
Não obstante a proibição do tráfico negreiro no início do sécu-
lo XIX, os barracões de Ouidah, em Daomé (atual República do Be-
nim), continuavam abarrotados. O fato foi noticiado nos jornais da
pequena cidade de Mobile, no estado norte-americano de Alabama, e
atraiu a atenção dos irmãos Meaher e do capitão William Foster. Em
julho de 1860, o navio Clotilda cruzou o Atlântico e atracou na costa
africana, de onde partiu carregado com uma centena de escravos. A
bordo estava Kossola Oluale, um jovem Isha (povo de língua yorubá)
de apenas 19 anos.
Sabe-se que as guerras de captura entre povos africanos preexis-
tem à expansão europeia. Porém, o advento da escravidão e do tráfico
negreiro modificaram o sentido tradicional dos conflitos interétnicos,
provocando o acirramento das disputas pelo acesso aos recursos ofe-
recidos aos reis africanos em troca de cativos. A captura e a venda de
Kossola ilustram um dos capítulos dessa história, pois ocorreram no
momento da ascensão do príncipe Glèlè ao trono de Daomé.
Quase cinquenta anos depois, Kossola recebeu em sua casa a an-
tropóloga Zora Hurston, a quem confiou suas memórias e a tarefa de
divulgá-las em um livro sobre a sua vida. Foram três meses de conver-
sas, entrevistas e passeios de carro, além de ocasiões em que partilha-
ram, em silêncio, a companhia um do outro, provando os pêssegos da
estação e pedaços de presunto, com os quais Zora presenteava o amigo
ao retornar de viagem, dando início a uma nova etapa da pesquisa.
São as palavras do griô que permitiram o encontro de duas pessoas
marcadas pelo desterro. Mas não se trata apenas de um encontro além
-mar, pois também permitiu, como diria o poeta martinicano Aimé
Césaire (2012), ‘um retorno à terra natal’. Ele, guiado pela memória
317
ANTHROPOLÓGICAS 30(2):316-326, 2019
viva da diáspora. Ela, pelas lembranças de seus familiares e por ter
crescido em Eatonville, na Flórida, onde negros libertos fundaram
uma cidade afro-americana. Em sua autobiografia, Zora Hurston
afirma que a jornada de Kossola a afetou de maneira incontornável
e a fez refletir sobre o fato de que o seu povo os vendeu e os brancos
os compraram (Hurston 2006 [1942]:132-133). O que nos permite
compreender a experiência transformadora originada nessa amiza-
de, como na definição do filósofo Giorgio Agamben: “o amigo não
é um outro eu, mas uma alteridade imanente no eu, um devir outro
de si” (2007:34).
A abertura do livro é de autoria de Alice Walker, uma das princi-
pais responsáveis pela redescoberta de Zora Hurston e pela republica-
ção de suas obras nos Estados Unidos. Foi Walker quem localizou, em
1973, o cemitério onde Zora Hurston havia sido enterrada em uma
vala comum e sem identificação, após o ostracismo (causado por uma
falsa acusação de que teria molestado uma criança) e o isolamento
que marcaram os últimos anos de sua vida. Valerie Boyd (2004), au-
tora de uma extensa biografia de Hurston, localizou uma carta onde
ela confidenciava a W.E.B. Du Bois (intelectual negro, precursor da
sociologia e da psicologia norte-americanas) o temor de que os amigos
morressem na miséria. Hurston perguntava a Du Bois a sua opinião a
respeito da criação de um cemitério destinado a ‘negros ilustres’, cuja
missão seria salvá-los do esquecimento na posteridade. Quis o desti-
no que o ‘Dr. Dúbio’, como ela carinhosamente o chamava, tivesse
um ‘funeral de estado’ em Acra, capital de Gana, enquanto Hurston
sucumbiu à própria profecia. Foi Alice Walker quem a resgatou do
anonimato póstumo, reformando o seu túmulo e instalando no local
uma lápide onde se pode ler: “Zora Neale Hurston: um gênio do Sul.
Novelista, folclorista e antropóloga”.
Se Barracoon revela aos leitores as feridas abertas pela escravidão e
pela diáspora, Alice Walker sugere que as palavras de Hurston e Kosso-
la enunciam os elementos necessários ao processo de cura. A seu ver,
trata-se de uma “maestrapiece” (2018:13). O livro contém 12 capítulos,
318
Ensaio Bibliográfico
dos quais sete possuem títulos que registram os principais momentos
da vida de Kossola. No ‘Apêndice’, encontram-se outras seis histórias,
que remetem às tradições e aos costumes dos Isha de Bantè. Coube a
Deborah Plant a edição e a revisão de todas as fontes e referências do
manuscrito original. Plant também assina a ‘Introdução’ e o ‘Posfácio’,
nos quais descreve o contexto em que se deu a pesquisa de campo de
Zora Hurston e as relações ambivalentes com a ‘madrinha’, Charlotte
Osgood Mason (mulher branca da elite nova-iorquina e financiadora
de artistas e escritores negros do Harlem), e com Franz Boas, seu orien-
tador no Barnard College da Universidade de Colúmbia.
No dia 14 de dezembro de 1927, Hurston viajou para a cidade
de Mobile, onde daria início a uma série de entrevistas com Kossola
Oluale, cujo nome norte-americano é Cudjo Lewis. À época, ele era um
dos poucos sobreviventes, senão o único, do último navio negreiro a
cruzar o Atlântico com destino aos Estados Unidos. Com uma ‘bolsa’
de 1.400 dólares, concedida pela Associação para o Estudo da Vida e da
História do Negro e pela Sociedade Americana de Folclore (SAF), Zora
viajava em um Chevrolet e levou em sua bagagem duas câmeras, para o
registro de fotografias e vídeos, e uma pistola. A precaução era justifica-
da, pois, como se sabe, o racismo não se resumia às leis segregacionistas,
instauradas em 1876, e motivava incontáveis agressões e assassinatos de
pessoas negras, sobretudo nos estados do Sul.
No ‘Prefácio’, de 17 de abril de 1931, Zora nos diz que esta é a
história de vida de Kossola, narrada por ele mesmo. Na ‘Introdução’,
descobrimos que o seu ‘jeito barnadesco’, fruto dos anos de formação
acadêmica, inibia os interlocutores da jovem antropóloga, ainda que
ela estivesse iniciando a carreira em um ambiente familiar, cuja orali-
dade revelava um “jeito negro de dizer” (cf. Hurston 2006:226). Algo
semelhante ao que propôs a antropóloga Lélia Gonzalez, ao se referir
ao “pretuguês” (1984:235) como língua materna no Brasil.
Zora Hurston não ocupa a posição de ‘redatora ausente’ ou de
‘escritora fantasma’. Sua presença no texto se evidencia na apresen-
tação de questões que servem de contraponto à narrativa, como se
319
ANTHROPOLÓGICAS 30(2):316-326, 2019
ambos estivessem a conversar diante de um público de leitores. Por
essa razão, as palavras de Kossola aparecem inscritas em uma oratura
própria e não foram submetidas às convenções da linguagem acadê-
mica ou erudita. O que favorece a expressão da escrita de um corpo,
de uma condição e de uma experiência negra, como na ‘escrevivência’
de Conceição Evaristo (2008). Por outro lado, a defesa da oratura
representaria um obstáculo para a publicação do livro, pois ainda que
os editores tenham demonstrado interesse pela história, alegavam que
seria inviável publicá-la enquanto estivesse escrita em um ‘dialeto’. A
mesma reticência foi demonstrada por Franz Boas, que alguns anos
mais tarde hesitaria diante do convite de Hurston para que assinasse
a introdução ao livro ‘Mules and Men’ (1935; cf. Meisenhelder 2007).
No primeiro capítulo de Barracoon, Kossola é questionado sobre
o motivo de se apresentar como um homem cristão. Com o humor
habitual, explicou que o seu povo sabia da existência de Deus, mas
que, por serem analfabetos, ainda não haviam lido a Bíblia e tampou-
co descoberto que Ele possuía um filho. Surpreso com a curiosidade
demonstrada por Hurston, mostrou-se entusiasmado com a possibi-
lidade de que pudessem ler a seu respeito em África e que um dia
alguém dissesse: eu me lembro de Kossola.
Em um dado momento da conversa, quando enveredava pelas
memórias do avô, Hurston o interrompeu a fim de retomar uma nar-
rativa aparentemente inacabada. Contrariado, ele a advertiu com um
provérbio: “Qual é a casa onde um rato é o Rei?” (2018:63). Não se
pode falar do filho antes de falar do pai, e não se pode falar do pai
antes de falar do avô. Em seguida, Kossola recorda que os Isha pos-
suíam cativos, mas que o avô e os chefes não aceitavam vendê-los aos
europeus, nem sequer nos casos de indisciplina ou de faltas graves por
eles cometidas.
O segundo capítulo retrata o cotidiano de uma comunidade Isha
e as regras impostas à caça de leopardos, cuja infração poderia resultar
na morte do caçador em uma festa dedicada à celebração da realeza.
No terceiro, somos apresentados aos rituais funerários e às cenas de
320
Ensaio Bibliográfico
sepultamento de familiares no interior das casas, que constituíam os
primeiros momentos de um longo e penoso período de luto. O quarto
capítulo é dedicado à sua família e às histórias que sua mãe contava
sobre o tempo em que os animais falavam e viviam como humanos.
A iniciação nas tradições isha o levou a aprender algumas das técnicas
de caça e de guerra, mas foi bruscamente interrompida por um ataque
perpetrado pelo Rei de Daomé.
O capítulo cinco aborda o episódio que culminou na sua cap-
tura e aprisionamento nos barracões de Ouidah. O Rei isha teria
se recusado a atender as ordens de Daomé, que exigia a metade das
plantações de milho daquele ano. A traição de um homem isha, que
revelou os segredos dos portões que protegiam a comunidade, per-
mitiu que fossem atacados de surpresa, no meio da noite. As tropas
avançaram com armas de fogo, enquanto as amazonas capturavam
jovens e crianças e recolhiam as cabeças dos mortos, inclusive a do
Rei, como troféus de guerra.
No sexto capítulo, Kossola narra a longa jornada até Abomei, an-
tiga capital de Daomé. Foi nos barracões que ele viu, pela primeira
vez em sua vida, os homens brancos. O comércio era precedido por
uma inspeção minuciosa, mas muitas vezes os cativos eram vendidos
em lotes e levados aos navios em grupos que conservavam parte dos
vínculos de parentesco e de amizade anteriores à escravidão. Kossola
descreve o sentimento de vergonha por ter sido obrigado a viajar nu,
e que os olhares dos americanos que os viram despidos fizeram-no
compreender o significado da palavra “selvagem” (2018:111).
A tripulação do Clotilda oferecia pequenas porções de comida
aos escravos, suficientes apenas para que não morressem de inanição,
e água com vinagre, para evitar que desenvolvessem escorbuto. Kos-
sola e os outros Isha jamais haviam navegado em alto mar. Cercados
por uma imensidão de água, viram-se apavorados com o som das on-
das que se chocavam contra o navio, cujas madeiras rangiam como se
estivessem prestes a se partir. No desembarque em terras norte-ameri-
canas, o navio foi queimado e naufragou, para que não restassem pis-
321
ANTHROPOLÓGICAS 30(2):316-326, 2019
tas do contrabando de escravos. Atacados por nuvens de mosquitos,
foram obrigados a se esconder e a caminhar através de pântanos, antes
de chegar ao destino final nas plantações de Alabama.
Este é o tema do sétimo capítulo. O que causava tristeza, choro
e desespero não era o trabalho exaustivo a que estavam submetidos,
mas o fato de terem sido arrancados de suas casas e submetidos à es-
cravidão. Durante cinco anos e meio, Kossola trabalhou em diversas
plantações nas margens dos rios Alabama e Tennessee, até o início da
Guerra de Secessão. Ele conta que não sabiam o que estava acontecen-
do e que ouviram alguém dizer que as tropas do Norte libertariam os
escravos do Sul. Nos dias seguintes, avistaram soldados que disseram
que estavam livres. Kossola e os outros perguntaram aonde deveriam
ir e os soldados teriam respondido: ‘não sabemos’.
No capítulo oito, a comemoração ao som de tambores e danças
africanas cede lugar à descoberta de que não teriam terras para cons-
truir as suas próprias casas nem recursos para retornar à África. Foram
necessários anos de trabalho, em liberdade, para que pudessem com-
prar as terras onde fundaram a comunidade de Africatown. O capítulo
nove é dedicado à sua esposa e aos filhos, aos quais Kossola e Abila
(Celia Lewis) deram nomes isha e norte-americanos. Os brancos que
viviam na região os tratavam como selvagens, o que provocou confli-
tos e agressões contra sua família. A comunidade negra se viu obriga-
da a construir uma escola, já que as crianças e os jovens não podiam
frequentar as instituições reservadas aos brancos. A sua família e ami-
gos tornaram-se membros de uma Igreja Batista, onde Kossola atuava
como diácono, mas ele conta que ainda podia ouvir os tambores e as
músicas africanas ecoando em seus ouvidos.
Um após o outro os seus filhos faleceram. O primeiro, assassina-
do por um policial branco, com um tiro no pescoço. Outro foi atrope-
lado e decapitado na linha de trem que cruzava a cidade. No capítulo
10, Kossola diz que aprendeu sobre as leis americanas ao também ser
atropelado na mesma ferrovia. Com o apoio de um advogado, ele pro-
cessou a companhia ferroviária e obteve o direito a uma indenização,
322
Ensaio Bibliográfico
cujo pagamento jamais fora realizado. No capítulo 11, ao aceitar o
pedido de Hurston para que posasse para uma sessão de fotografias,
vemos um belo senhor negro, de terno e pés descalços. Segundo ele,
os Isha não tinham o hábito de calçar sapatos e sandálias.
O tema do último capítulo é a solidão de sua velhice, após a mor-
te da esposa e de todos os filhos, restando apenas a companhia de
uma nora e de duas netas que herdaram as suas terras. Em outubro
de 1928, em sua última visita, Hurston se despediu de Kossola e retor-
nou à Nova Iorque. No ‘Posfácio’, Debora Plant recupera a correspon-
dência da antropóloga e revela que ela o descrevia como “um senhor
velho e poético” que sabia contar boas histórias (2018:192).
Antes de Barracoon, Zora Hurston já havia escrito a respeito de
Kossola Oluale para o Journal of Negro History, em 1927. A maior parte
do texto, no entanto, se baseava no livro de Emma Langdon Roche,
publicado em 1914, no qual a autora, da elite escravagista de Alaba-
ma, reconstitui a história do navio Clotilda. Nenhuma acusação de
plágio foi encaminhada ao jornal, mas, há de se convir, que embora
Zora Hurston tenha utilizado os dados históricos e estatísticos sem as
devidas regras de citação, o eventual dano autoral em nada equivale
à apropriação de corpos negros submetidos à escravidão nas fazendas
de Roche e de sua família. É provável que Hurston tenha se sentido
pressionada a publicar um artigo no jornal, editado pela SAF, como
contrapartida ao financiamento que ela havia recebido, em um mo-
mento em que a pesquisa e o manuscrito ainda se encontravam em
estado incipiente. O caráter ambivalente das relações entre escritores
e artistas negros e os seus ‘patronos’ e ‘madrinhas’ brancos, uma das
diversas faces do problema racial nos Estados Unidos, levou Hurston
a escrever um artigo sobre o tema, com um título contundente: ‘O
sistema do negro pet’ (1943).
Em Barracoon (1931), Mules and Men (1935) e Tell my Horse: Voodoo
and Life in Haiti and Jamaica (1938), obras escritas durante a formação
em antropologia e baseadas em pesquisas de campo em comunidades
negras e nas ilhas do Caribe, Zora seguiu a orientação que Franz Boas
323
ANTHROPOLÓGICAS 30(2):316-326, 2019
transmitia aos alunos: cada cultura deve ser compreendida em seus
próprios termos. Porém, como diria Audre Lorde: “As ferramentas
do mestre nunca desmontarão a sua própria casa” (1984:112). Em
outras palavras, e seguindo as críticas do antropólogo sul-africano Ar-
chie Mafeje (2008), pode-se imaginar a improbabilidade de que uma
antropologia euro-americana seja capaz de promover a superação dos
estereótipos criados por ela mesma a partir de conceitos como os de
alteridade e relativismo cultural. Vale lembrar que os conceitos de
selvagem, primitivo, tribo, etc., que foram ostensivamente atribuídos
aos negros em estudos que os tomaram como objetos de observadores
brancos, ainda hoje fundamentam um conjunto de imagens atribuí-
das à África, como se fossem expressões factuais e fidedignas das so-
ciedades africanas.
Nas obras de Zora Hurston, os ‘grandes divisores’ cedem lugar a
um processo de correspondência, polifonia e autoconhecimento, para
além da convencional (o)posição Nós x Eles. Como a renomada bai-
larina afro-americana Katherine Dunham (1909-2006), que produziu
obras de antropologia e logo percebeu que o palco dos teatros permi-
tia uma relação mais fecunda e simétrica com as danças de origem
africana, Hurston desenvolveu uma forma de escrita que, ainda na
década de 1930, apresenta uma solução original às críticas que os pós-
modernistas enunciariam somente cinquenta anos mais tarde.
Barracoon narra a história de Kossola reconhecendo-o como autor
e não como um nativo ou informante. E mesmo em suas obras de lite-
ratura, como o clássico ‘Seus olhos viam Deus’ (1937), Hurston con-
serva a oratura característica da fala e das vidas de seus personagens.
Ao som das palavras do griô, pode-se presumir o cuidado e a engenho-
sidade que serão necessários à tradução de Barracoon ao português.
Dificuldade esta que, de certo modo, assemelha-se àquela imposta aos
tradutores da obra de Guimarães Rosa para outros idiomas.
No artigo ‘O que os editores brancos não publicarão’ (1947),
Hurston defendia a necessidade de uma literatura que revelasse o ne-
gro em sua profundidade, para além das representações que se ba-
324
Ensaio Bibliográfico
seiam em uma estereotipia pseudocientífica, rasa e preconceituosa (cf.
Basques 2019). Uma literatura que estivesse à altura da sabedoria e da
riqueza da vida cotidiana. Em sua opinião, assim como a escrita aca-
dêmica e a literatura de massa, os “Museus de História (Não-)Natural”
(1950:55) teriam contribuído para a formação de uma compreensão
superficial das vidas de povos indígenas e negros, pois a representação
do ‘Outro’ nesses espaços se resumiria à exposição de objetos retira-
dos de seus contextos e a bonecos de cera e palha, incapazes de falar
por si mesmos.
Beatriz Perrone-Moisés comenta que “a tradição de desconsiderar
as traduções propostas pelos índios na língua do antropólogo é anti-
ga e parece obviamente mais um empecilho do que uma garantia de
conhecimento” (2015:20). Se o ‘português dos índios’ costuma ser
submetido a convenções acadêmicas e a processos de tradução imer-
sos em dilemas epistemológicos, o ‘jeito negro de dizer’ que percorre
a obra de Zora Hurston revela, por sua vez, não apenas o interesse
pelo que se costuma chamar de ‘folclore’, mas justamente o empenho
da autora em estabelecer ‘pactos etnográficos’ com os seus interlocu-
tores. Pactos que dependem de uma colaboração discursiva e de um
‘duplo eu’, surgido da relação entre autores, a fim de que o texto supe-
re a “relação hierárquica inerente à situação etnográfica e à produção
escrita que dela decorre” (Albert 2015:536).
Zora Hurston não é uma autora cuja obra se resume ao período
de nascimento e de institucionalização da Antropologia nos Estados
Unidos. Tampouco é suficiente dizer que foi aluna de Franz Boas ou
que sua trajetória deve ser compreendida pelo trânsito incomum e
bem-sucedido entre a etnografia e a ficção. Trata-se de uma antropó-
loga que, em diversos aspectos, esteve adiante de seu tempo e que nos
permite repensar a própria história da disciplina, os seus métodos e
formas de escrita. A cumplicidade e o aprendizado com autores como
Kossola Oluale fizeram de Zora Hurston uma das maiores escritoras
do século XX. Uma antropóloga griô, cuja contribuição às ciências
sociais ainda não foi devidamente reconhecida.
325
ANTHROPOLÓGICAS 30(2):316-326, 2019
Referências:
AGAMBEN, Giorgio. 2007. L’Amitié. Paris: Payot.
ALBERT, Bruce. [2010] 2015. “Postscriptum – Quando eu é um outro (e vice-
versa)”. In KOPENAWA, D. & ALBERT, B. (eds.): A queda do céu: palavras
de um xamã yanomami, pp. 512-549. São Paulo: Companhia das Letras.
BAQUES, Messias. 2019. “Zora Hurston e as luzes negras das Ciências
Sociais. Ayé”. Revista de Antropologia, 1(1):102-105.
CÉSAIRE, Aimé. [1947] 2012. Diário de um retorno ao país natal. São Paulo: EdUSP.
BOYD, Valerie. 2004. Wrapped in rainbows: the life of Zora Neale Hurston. New York:
Lisa Drew Books/Scribner.
EVARISTO, Conceição. 2008. “Escrevivências da afro-brasilidade: história e
memória”. Releitura, 23:1-17.
GONZALEZ, Lélia. 1984. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. Ciências
Sociais Hoje, 2:223-244.
HURSTON, Zora Neale. 1927. “Cudjo’s Own Story of the Last African Slaver.”
Journal of Negro History, 12:648-63.
______. [1935] 1990. Mules and Men. New York: HarperPerennial.
______. [1938] 1990. Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica. New
York: Harper Perennial.
______. [1942] 1996. Dust Tracks on a Road. New York: HarperPerennial.
______.1943. “The ‘Pet Negro’ System.” American Mercury, 56:593-600.
______. 1950. “What White Publishers Won’t Print.” In NAPIER, W. (ed.):
African American Literary Theory: A Reader, pp.54-57. New York: NYU Press.
______. [1937] 2002. Seus olhos viam Deus. Rio de Janeiro: Record.
______. 2018. “Barracoon: the story of the last ‘Black Cargo’”. New York:
Amistad. (Ebook Kindle)
LORDE, Audre. 1984. Sister Outsider: Essays and Speeches. New York: Crossing
Press Feminist Series.
MAFEJE, Archie. 2008. “A commentary on anthropology and Africa”. Codesria
Bulletin, 3-4:88-94.
MEISENHELDER, Susan. 2007. “Conflict and Resistance in Zora Neale Hurston’s
Mules and Men”. In BLOOM, H. (ed.): Zora Neale Hurston – Bloom’s Modern
Critical Views, pp.105-130. New York: Bloom’s Literary Criticism.
PERRONE-MOISÉS, Beatriz. 2015. Festa e Guerra. Tese de Livre-Docência. São
Paulo: Universidade de São Paulo.
Recebido em Novembro de 2019.
Aprovado em Janeiro de 2020.
326
Você também pode gostar
- A Parte Do Cauim - Tânia Stolze Lima - Tese PDFDocumento456 páginasA Parte Do Cauim - Tânia Stolze Lima - Tese PDFPriscilla100% (1)
- Proteste - #427 (Outubro 2020)Documento68 páginasProteste - #427 (Outubro 2020)Cláudio Albuquerque CastroAinda não há avaliações
- Orgia by Tulio Carella (Z-LibDocumento324 páginasOrgia by Tulio Carella (Z-Libarlindo souza netoAinda não há avaliações
- José Rivair Macedo - Pré.história AfricanaDocumento11 páginasJosé Rivair Macedo - Pré.história Africanabrunnoaraujo19100% (1)
- As Almas Do Povo Negro - W.E.B. Du BoisDocumento229 páginasAs Almas Do Povo Negro - W.E.B. Du BoisIvan Cerqueira de Oliveira100% (2)
- HURSTON - O Que Os Editores Brancos Não PublicarãoDocumento10 páginasHURSTON - O Que Os Editores Brancos Não PublicarãoGraziele DaineseAinda não há avaliações
- Zora Hurston e As Luzes Negras Das CiencDocumento4 páginasZora Hurston e As Luzes Negras Das CiencPascoa SarmentoAinda não há avaliações
- O ABC Do Divino MestreDocumento8 páginasO ABC Do Divino MestreDaniel Gomes100% (1)
- A Narrativa Abolicionista No Conto "A Escrava", de Maria Firmina Dos ReisDocumento12 páginasA Narrativa Abolicionista No Conto "A Escrava", de Maria Firmina Dos ReislaureanoAinda não há avaliações
- El Vernacular Margara AverbachDocumento24 páginasEl Vernacular Margara AverbachlanochecircularAinda não há avaliações
- Silva, Vagner Gonçalves Da (Org.), Artes Do Corpo, São PauloDocumento10 páginasSilva, Vagner Gonçalves Da (Org.), Artes Do Corpo, São PauloFelipe BonfimAinda não há avaliações
- Cruz e SousaDocumento4 páginasCruz e SousaEdilson SantosAinda não há avaliações
- Tristes Tópicos - Levi StraussDocumento4 páginasTristes Tópicos - Levi StraussHenrique SilvaAinda não há avaliações
- Repivetta, MÁRCIO SOUZA E O JUDAÍSMODocumento22 páginasRepivetta, MÁRCIO SOUZA E O JUDAÍSMOluanaraujoAinda não há avaliações
- Cruz e SouzaDocumento3 páginasCruz e Souzaretavares34Ainda não há avaliações
- Usos e Abusos Da Mestiçagem e Da Raça No Brasil - Teorias Raciais Século XIXDocumento25 páginasUsos e Abusos Da Mestiçagem e Da Raça No Brasil - Teorias Raciais Século XIXJéssica NunesAinda não há avaliações
- Oracy Nogueira - Tanto Preto Quanto BrancoDocumento3 páginasOracy Nogueira - Tanto Preto Quanto BrancolmachadocAinda não há avaliações
- A Cidade Das Mulheres - Resenha de Regina de Abreu UNIRIO PDFDocumento4 páginasA Cidade Das Mulheres - Resenha de Regina de Abreu UNIRIO PDFAmanda LorenaAinda não há avaliações
- A Escrava EsperançaDocumento26 páginasA Escrava Esperançagabriel silvaAinda não há avaliações
- PDF 2 Sala-De-AulaDocumento43 páginasPDF 2 Sala-De-Aulaandreandre4Ainda não há avaliações
- Literatura e interartes: rearranjos possíveis: - Volume 5No EverandLiteratura e interartes: rearranjos possíveis: - Volume 5Ainda não há avaliações
- Mulheres Negras Séc. XIX e XXDocumento21 páginasMulheres Negras Séc. XIX e XXGeisi DionisioAinda não há avaliações
- Pai João PDFDocumento43 páginasPai João PDFAlice FrancoAinda não há avaliações
- Artigo Um Olhar Sobre o Romance Úrsula, de Maria Firmina Dos ReisDocumento12 páginasArtigo Um Olhar Sobre o Romance Úrsula, de Maria Firmina Dos ReisLetícia MarquesAinda não há avaliações
- Seu Amor É Grosso DemaisDocumento16 páginasSeu Amor É Grosso DemaisFSonyAinda não há avaliações
- Abpn, Gerente Da Revista, 14Documento3 páginasAbpn, Gerente Da Revista, 14Marllon BrendonAinda não há avaliações
- Gênero e Educação Nas Escrevivências de Conceição EvaristoDocumento16 páginasGênero e Educação Nas Escrevivências de Conceição EvaristoAdrise FerreiraAinda não há avaliações
- 9455 33668 1 PBDocumento2 páginas9455 33668 1 PBMaxAinda não há avaliações
- O Pornógrafo Ingênuo....Documento13 páginasO Pornógrafo Ingênuo....Catarina LaraAinda não há avaliações
- admin,+GT+24+-+AMBROSINI,+Camila +Joana+D'Arc,+da+diabolização+à+canonizaçãoDocumento11 páginasadmin,+GT+24+-+AMBROSINI,+Camila +Joana+D'Arc,+da+diabolização+à+canonizaçãoticianaoliveiraaAinda não há avaliações
- APPAIv 1Documento21 páginasAPPAIv 1Leonardo L.Ainda não há avaliações
- Um Defeito de CorDocumento16 páginasUm Defeito de Corjuan peresAinda não há avaliações
- (Analise) Nove Noites PDFDocumento10 páginas(Analise) Nove Noites PDFKatheryn MayaraAinda não há avaliações
- Literatura Norte-Americana Do Século XX A Geração Beat, Seus Precursores e SeguidoresDocumento28 páginasLiteratura Norte-Americana Do Século XX A Geração Beat, Seus Precursores e SeguidoresFrancimar OliveiraAinda não há avaliações
- Analise - Beatriz de NascimentoDocumento3 páginasAnalise - Beatriz de NascimentoCarlos FelipeAinda não há avaliações
- Sobre Heloisa Alberto TorresDocumento44 páginasSobre Heloisa Alberto TorresThomaz SimoesAinda não há avaliações
- Teses e Dissertações Sobre o TemaDocumento28 páginasTeses e Dissertações Sobre o TemaDouglasAinda não há avaliações
- Pernambucanos imortais e mortais: Trinta perfis e outras palavrasNo EverandPernambucanos imortais e mortais: Trinta perfis e outras palavrasAinda não há avaliações
- As Lições de Bernardo Guimarães em A Escrava Isaura - Escravidão e Literatura Na Segunda Metade Do Século XIXDocumento22 páginasAs Lições de Bernardo Guimarães em A Escrava Isaura - Escravidão e Literatura Na Segunda Metade Do Século XIXgeraldo brandãoAinda não há avaliações
- Cascudo o Erudito No Popular1 PDFDocumento10 páginasCascudo o Erudito No Popular1 PDFFrancisca Cardoso FranlemosAinda não há avaliações
- TELLES, Norma - Rebeldes, Escritoras, AbolicionistasDocumento11 páginasTELLES, Norma - Rebeldes, Escritoras, AbolicionistasMarinaAinda não há avaliações
- Artigo O SUICÍDIO de BERTOLEZA EM O Cortiço de Aluisio de AzevedoDocumento11 páginasArtigo O SUICÍDIO de BERTOLEZA EM O Cortiço de Aluisio de AzevedoLemuel DinizAinda não há avaliações
- Poesia Como Questionamento de PreconceitosDocumento11 páginasPoesia Como Questionamento de PreconceitosBruna OliveiraAinda não há avaliações
- Achei Que Meu Pai Fosse DeusDocumento2 páginasAchei Que Meu Pai Fosse DeusProfealevaler100% (2)
- Artigo Cruz e Souza Regina ZilbermanDocumento17 páginasArtigo Cruz e Souza Regina Zilberman2206198OAinda não há avaliações
- Miguel Serrano - Não Celebraremos A Morte Dos Deuses BrancosDocumento52 páginasMiguel Serrano - Não Celebraremos A Morte Dos Deuses BrancosvictorferreiracAinda não há avaliações
- A Escravidão No SeridóDocumento14 páginasA Escravidão No SeridópradofariaAinda não há avaliações
- Euclides Da Cunha - Uma Biografia - Luís Cláudio Villafañe G. SantosDocumento630 páginasEuclides Da Cunha - Uma Biografia - Luís Cláudio Villafañe G. SantosGuilherme. MrAinda não há avaliações
- Minorias ÉtnicasDocumento5 páginasMinorias ÉtnicasLuiza Rosiete G. CavalcanteAinda não há avaliações
- CORREIADocumento6 páginasCORREIANathi FeitosaAinda não há avaliações
- Senhores e Subalternos No Oeste Paulista - Análise Do TextoDocumento9 páginasSenhores e Subalternos No Oeste Paulista - Análise Do TextoPaulo NascimentoAinda não há avaliações
- Entre A Oralidade e A Escrita Um Estudo Dos Folhetos de Cordel NordestinosDocumento13 páginasEntre A Oralidade e A Escrita Um Estudo Dos Folhetos de Cordel Nordestinosjulianaoliveira29Ainda não há avaliações
- Resenha Sobre Caderno de Memorias ColoniaisDocumento5 páginasResenha Sobre Caderno de Memorias ColoniaisAnita MoraesAinda não há avaliações
- Mulheres em Cena - Estudos de Relações de Gênero No TENDocumento16 páginasMulheres em Cena - Estudos de Relações de Gênero No TENCaroline CarvalhoAinda não há avaliações
- Artigo Chica Que Manda Ou A Mulher Que Inventou o Mar de Conceição Evaristo PDFDocumento24 páginasArtigo Chica Que Manda Ou A Mulher Que Inventou o Mar de Conceição Evaristo PDFDenis Moura de QuadrosAinda não há avaliações
- 28876-Texto Do Artigo-102131-1-10-20181214Documento14 páginas28876-Texto Do Artigo-102131-1-10-20181214Literrae TOAinda não há avaliações
- Heitorkirsch, 7 Ito e MarquesDocumento8 páginasHeitorkirsch, 7 Ito e MarquesArii GarciaAinda não há avaliações
- Augusto Dos AnjosDocumento3 páginasAugusto Dos AnjosAlvaro Vieira PintoAinda não há avaliações
- A roupa de Rachel: Um estudo sem importânciaNo EverandA roupa de Rachel: Um estudo sem importânciaAinda não há avaliações
- Stengers - Abertura de PossiveisDocumento6 páginasStengers - Abertura de PossiveisPriscillaAinda não há avaliações
- Ailton Krenak - A Potência Do Sujeito ColetivoDocumento11 páginasAilton Krenak - A Potência Do Sujeito ColetivoPriscillaAinda não há avaliações
- Os Moleques de Bogotá Jacques MeunierDocumento84 páginasOs Moleques de Bogotá Jacques MeunierPriscillaAinda não há avaliações
- Lelia Gonzalez - NannyDocumento8 páginasLelia Gonzalez - NannyPriscillaAinda não há avaliações
- Audre Lorde - Irma Outsider2 - OcrDocumento261 páginasAudre Lorde - Irma Outsider2 - OcrPriscilla100% (6)
- Artigo Nelly - Pontas Dos Dedos PDFDocumento14 páginasArtigo Nelly - Pontas Dos Dedos PDFPriscillaAinda não há avaliações
- LE GUIN, Ursula K. Ciclo Terramar 5 - Num Vento DiferenteDocumento289 páginasLE GUIN, Ursula K. Ciclo Terramar 5 - Num Vento DiferentePriscilla100% (1)
- O Pássaro de Fogo Tania Stolze Lima PDFDocumento20 páginasO Pássaro de Fogo Tania Stolze Lima PDFPriscillaAinda não há avaliações
- Elevador PNEDocumento10 páginasElevador PNESiberianoCoolAinda não há avaliações
- 6 Turismo Sustentavel - Mintur 2007Documento4 páginas6 Turismo Sustentavel - Mintur 2007Liz LizAinda não há avaliações
- SaftDocumento3 páginasSaftCABOMBOAinda não há avaliações
- Atividade Definir e Determinar As Metas Do Projeto SMARTDocumento2 páginasAtividade Definir e Determinar As Metas Do Projeto SMARTScribdTranslations100% (1)
- Analise Dos Conjuntos Habitacionais de Caruaru - PMCMVDocumento23 páginasAnalise Dos Conjuntos Habitacionais de Caruaru - PMCMVRenally MaiaAinda não há avaliações
- FIchamento O Mar MediterrâneoDocumento9 páginasFIchamento O Mar MediterrâneoGabriel AssisAinda não há avaliações
- Saberes e Fazeres Populares: o Artesanato NasDocumento16 páginasSaberes e Fazeres Populares: o Artesanato NasElenice Nogueira SantosAinda não há avaliações
- Planilha Sem TítuloDocumento4 páginasPlanilha Sem TítuloElenilson SampaioAinda não há avaliações
- Calibração (Gestão e Execução)Documento149 páginasCalibração (Gestão e Execução)Ederson Luis AmgartenAinda não há avaliações
- Aula 05 - Exposicao Ocupacional A Materiais Biologicos - PROVA2Documento47 páginasAula 05 - Exposicao Ocupacional A Materiais Biologicos - PROVA2Talita Pereira100% (1)
- Tabela Do Eletricista SILDocumento2 páginasTabela Do Eletricista SILLuiz Carlos Quinto dos SantosAinda não há avaliações
- LiquidoDocumento20 páginasLiquidoyvsonexsAinda não há avaliações
- CNAES Permitidos para MEI em Ordem Por CNAE PDFDocumento24 páginasCNAES Permitidos para MEI em Ordem Por CNAE PDFRodrigo SollatoAinda não há avaliações
- Apostila JejumIntermitente PDFDocumento65 páginasApostila JejumIntermitente PDFSirléia NascimentoAinda não há avaliações
- Relatório TransferênciaDocumento2 páginasRelatório TransferênciaMaiara PerarroAinda não há avaliações
- BreakersDocumento31 páginasBreakersDiogo CarvalhoAinda não há avaliações
- Lista de ExercíciosDocumento2 páginasLista de ExercíciosAllan KardecAinda não há avaliações
- Python POO - SlidesDocumento63 páginasPython POO - SlidesRebeca BrandãoAinda não há avaliações
- Curso Online: SemióticaDocumento19 páginasCurso Online: SemióticaJoão Pedro PereiraBonfimAinda não há avaliações
- Observação de BriófitasDocumento5 páginasObservação de BriófitasAndreson AlvesAinda não há avaliações
- NUTRIÇÃODocumento30 páginasNUTRIÇÃOEnfermagem UBS VILA RIOAinda não há avaliações
- Os Desafios Da Escola Pública Paranaense Na Perspectiva Do Professor Pde ArtigosDocumento18 páginasOs Desafios Da Escola Pública Paranaense Na Perspectiva Do Professor Pde ArtigosCami PereiraAinda não há avaliações
- Quimica 12a Classe Ficha de ApoioDocumento8 páginasQuimica 12a Classe Ficha de ApoioDilva Nota100% (1)
- FST-7 2Documento15 páginasFST-7 2Darwes FreitasAinda não há avaliações
- Osho - O Manifesto Zen - Liberdade de Si MesmoDocumento192 páginasOsho - O Manifesto Zen - Liberdade de Si MesmoandreAinda não há avaliações
- Hoteis de Transito MilitaresDocumento8 páginasHoteis de Transito MilitaresAroldo FerrazAinda não há avaliações
- Chaveiro Jake - AmiBRDocumento4 páginasChaveiro Jake - AmiBRHellen Orizio100% (3)
- Museus de PortugalDocumento5 páginasMuseus de PortugalGraça GonçalvesAinda não há avaliações