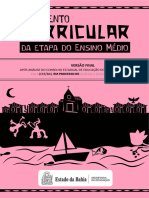Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 PB
1 PB
Enviado por
Isabela GattiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 PB
1 PB
Enviado por
Isabela GattiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
69
A proposta da BNCC para o trabalho com a língua
portuguesa: o eixo análise e reflexão linguística
Milena Morettoi (USF)
Claudia de Jesus Abreu Feitozaii (USF)
Resumo:
Diversos documentos têm sido produzidos, historicamente, para orientar e
prescrever como deve ser o ensino de língua nas escolas, mais
especificamente, o trabalho com a leitura, produção e análise linguística.
Dentre eles, encontra-se, mais recentemente, o texto recém-aprovado
denominado de Base Nacional Comum Curricular (doravante BNCC).
Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo discutir a
proposta de ensino de língua portuguesa contida na BNCC a partir da
análise do documento que trata do eixo de análise e reflexão linguística,
especificamente para o ensino fundamental 2, bem como identificar a
concepção de língua que se faz presente neste documento. Para isso,
pautando-nos nos aportes teóricos da perspectiva enunciativo-discursiva,
analisamos os textos da BNCC que se referem às prescrições sobre a área
de Língua Portuguesa para identificar: 1) qual a concepção de linguagem
que a proposta apresenta sobre o ensino de língua portuguesa e, 2) que
orientações o referido documento prescreve para o ensino da análise
linguística nas aulas de língua materna. Nossas análises apontam que
existem (con)tradições entre a concepção de língua apresentada pelo
documento e as habilidades prescritas que nortearão o trabalho com
análise linguística nas escolas.
Palavras-chave: BNCC; Análise e reflexão linguística; Concepções de
linguagem
Abstract:
Several documents have been produced, historically, to guide and
prescribe how language teaching should be in schools, more specifically,
how to address reading, writing and linguistic analysis. Among these
documents, the National Curricular Common Base has been recently
approved. In this context, this article aims to discuss the proposal of
Portuguese language teaching put forward by the National Curricular
Common Base based on the analysis of the document which deals with the
axis of linguistic analysis and reflection, specifically for elementary
education 2. It also seeks to identify the conception of language in this
document. Hence, based on the theoretical contributions of the
enunciative-discursive perspective, we analyze the BNCC texts which refer
to the prescriptions related to the field of Portuguese Language in order to
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
70
identify: 1) the language conception proposed for the teaching of
Portuguese, and 2) the guidelines prescribed by the document in terms of
teaching of language analysis in Portuguese classes. Our analyses indicate
that there are contradictions between the conception of language put
forward by the document and the prescribed skills that will guide the work
with linguistic analysis in schools.
Keywords: BNCC; Language analysis; Conceptions of language;
Considerações iniciais
O objetivo deste trabalho é discutir a proposta de ensino de língua portuguesa
contida na Base Nacional Comum Curricular (2018) a partir da análise do documento que
trata do eixo de análise e reflexão linguística, especificamente para o ensino fundamental 2,
bem como identificar a concepção de língua que se faz presente neste documento.
O ensino de Língua Portuguesa passou por diversas transformações ao longo das
últimas três décadas. A década de 70 foi marcada pelo ensino em dois estágios: o primeiro
compreendia a fase de alfabetização com ênfase nos métodos sintético e analítico, ambos
limitados ao ensino da frase/palavra; o segundo consistia na produção e reprodução de
textos (geralmente clássicos), bem como o domínio das regras gramaticais tendo em vista a
apropriação da norma padrão. A partir da década de 80, uma nova concepção de linguagem
– como forma de interação - inaugurou uma perspectiva de ensino de língua portuguesa
centrada nos textos de diferentes gêneros (orais e escritos) em que o objetivo era fornecer
ao educando o contato com o maior número possível de gêneros discursivos, tanto para
saber ler/produzir, falar/ouvir quanto para análise e reflexão linguística.
A partir de então – ainda que a passos lentos - a concepção de ensino de gramática
sob a perspectiva de análise e reflexão linguística passou a integrar diversos documentos
curriculares, especialmente diretrizes nacionais como os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) e, mais recentemente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esses documentos
nacionais orientam sobre o que ensinar nas diversas áreas do conhecimento e, de certa
forma, interferem - de forma positiva ou não - em toda uma rede de ensino: desde a
elaboração de materiais didáticos a currículos, planejamentos de ensino ou planos de aula
efetivamente utilizados em sala. Logo, diante dessa diversidade de documentos e papel
dessas prescrições sobre o que ensinar, é preciso analisar criticamente estes documentos de
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
71
modo a verificar em que medida a concepção de linguagem como forma de interação – e
não apenas como forma de transmissão de pensamento – aparece, de fato.
O último documento que tem trazido muitas discussões é a Base Nacional Comum
Curricular. Trata-se de uma diretriz de nível federal instituída no Brasil no final do ano de
2018, e que, no texto introdutório, afirma ser
[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de
modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional
de Educação (PNE) (BRASIL, 2018, p. 1).
De maneira geral, a proposta da BNCC é balizar as competências e habilidades dos
alunos de diferentes esferas municipais, estaduais, federais implicando, mais
especificamente, na construção dos currículos dos diferentes segmentos das redes públicas
ou privadas de ensino.
Apesar de ter sido lançado sob um caráter aparentemente inédito e transformador,
não se trata de um documento de conteúdo necessariamente novo, uma vez que a BNCC é
resultado de um percurso trilhado em diversos documentos anteriores. Para
compreendermos melhor todo processo, organizamos esse artigo da seguinte forma:
primeiramente, apresentaremos o contexto de surgimento da BNCC. Posteriormente,
discorreremos sobre a concepção teórica de linguagem que direciona o ensino de línguas,
bem como as diferenças entre o ensino de gramática e de análise linguística. Em seguida,
apresentaremos os procedimentos metodológicos da pesquisa seguida da análise dos
dados. Por fim, apresentaremos nossas considerações finais.
A trajetória da construção da BNCC
A Constituição Federal promulgada em 1989 instituiu em seu art. 205 que “a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O art. 210, por sua vez, já
preconizava a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental por meio de uma
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
72
“formação básica” ao descrever “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1989, grifos nossos).
Esse mesmo preceito foi reafirmado no art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (BRASIL, 1996), cujo inciso V definia que compete a União “estabelecer,
em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e
diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio" e estas, por sua
vez, “nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação
básica comum” (BRASIL, 1989, grifos nossos).
Embora determinado de maneira genérica na Constituição Federal, o Brasil ainda
não tinha documentos normativos na educação que pudessem subsidiar a garantia desses
direitos. Em geral, os conteúdos eram determinados de forma autônoma e isolada pelos
materiais didáticos, os quais carregavam concepções específicas dos autores ou dos
próprios professores que deles faziam uso. Nesse sentido, foram criados os Parâmetros
Curriculares Nacionais – em 1997 de ensino fundamental 1 e, em 1998, de ensino
fundamental 2 – seguidos, em 2010, das DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Médio) com o intuito de prescrever um ensino tendo com base uma orientação mais
definida.
A partir de 2010, começou-se também a elaboração do PNE (Plano Nacional da
Educação) que foi aprovado e fixado pelo Congresso Nacional em 26 de junho de 2014
(BRASIL, 2014). O documento contém as diretrizes, metas e estratégias que devem reger as
iniciativas na área da educação, servindo de diretriz para estados e municípios na
elaboração de planejamentos específicos para atingir os objetivos previstos, ou seja, as 20
metas de educação a serem alcançadas no Brasil no período de 2014 a 2024.
O documento, proposto por especialistas do Brasil e de diversas partes do mundo,
apontou para a necessidade de criação de uma Base Nacional Comum, cuja necessidade foi
registada na Resolução do Conselho Nacional de Educação de 2017 (BRASIL, 2017).
2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do
2o (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao
Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
73
nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;
2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no
âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta
Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum
curricular do ensino fundamental (BRASIL, 2014, grifos nossos)1.
Também a Meta 7 do PNE, na estratégia 7.1, determina que se deve:
estabelecer e implantar, mediante pactuação inter-federativa, diretrizes
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio,
respeitada a diversidade regional, estadual e local. (PNE, 2014, Meta 7,
grifos nossos).
Segundo informações oficiais do MEC2, em meio a diversas reuniões de conselhos,
congressos, conferências e encontros interinstitucionais, a Base Nacional Comum Curricular
começou a ser discutida em 2013. Sua primeira versão foi disponibilizada em 16 de
setembro de 2015 e no período de 02 a 15 de dezembro foi proposto que a versão preliminar
do documento fosse discutida nas escolas. Segundo o relatório do MEC, a primeira versão
da BNCC também foi “disponibilizada para consulta pública entre os meses de outubro de
2015 e março de 2016, recebendo mais de 12 milhões de contribuições dos diversos setores
interessados”.
Em 03 de maio de 2016, foi disponibilizada a segunda versão, na qual foram
convidados a opinar cerca de 9 mil professores em seminários organizados por Consed
(Conselho Nacional de Secretários de Educação) e Undime (União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação), em todas as unidades da federação, durante o período de 23 de
junho a 10 de agosto de 2016. Os resultados desses seminários foram sistematizados pela
UnB (Universidade de Brasília) e subsidiaram a produção de um relatório expressando o
posicionamento conjunto desses dois órgãos. Esse documento foi a principal referência
para a elaboração da versão final, que também foi revista por especialistas e gestores do
1
Informações disponíveis em: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-
nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. Acesso em 05.07.2019.
2
Informações coletadas do site oficial do MEC contendo as diretrizes e descrição das etapas da BNCC.
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base. Acesso em 05.07.2019.
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
74
MEC com base nos diversos pareceres recebidos. Foi colocada em consulta pública e
recebeu de 44 mil contribuições.
Em agosto de 2016, começou a ser redigida a terceira e última versão da BNCC e, em
abril de 2017, foi entregue pelo MEC a versão final da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que elaborou o parecer e o projeto de
resolução sobre o documento ao Ministério. Em 20 de dezembro de 2017, a Base Nacional
Comum Curricular foi homologada pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e, a partir
de então, se compreende que os sistemas de educação nacionais em todas as instâncias
passaram para a elaboração e adequação dos currículos escolares.
Essa trajetória de construção da BNCC dá a entender que a Base tenha sido
elaborada em cumprimento não apenas da legislação (BRASIL, 2014), mas também visando
a atender os anseios de variadas entidades, representativas dos diferentes segmentos
envolvidos com a Educação Básica, sejam elas da esfera federal, estadual e municipal, das
universidades, escolas, instituições do terceiro setor, professores e especialistas em
educação, brasileiros e estrangeiros. Nesse sentido, o que muitos esperam é que o
documento seja representativo de uma proposta de ensino de língua portuguesa que
atenda às competências gerais propostas e que seja coerente com a ideia de formação de
aluno enquanto cidadão crítico preparado para agir em sociedade. Assim, quando se fala
em “agir em sociedade”, subentende-se o papel e a concepção de linguagem enquanto
ferramenta de interação social que vai além da ideia de instrumento de comunicação, uma
vez que é por meio dela que são sustentadas as relações humanas, seja na esfera escolar ou
fora dela.
Concepções de linguagem que direcionam o ensino da língua
Dentre os diferentes pesquisadores que contribuíram para a identificação e reflexão
de três diferentes concepções de linguagem adotadas no ensino de língua portuguesa no
Brasil, destacamos Geraldi (1991; 1984). Para ele, é preciso ter clara qual concepção de
linguagem embasa o ensino de língua portuguesa, pois é da concepção adotada que
emerge a seleção, a metodologia e o trabalho com textos em sala de aula.
Segundo o autor, o ensino da língua portuguesa foi, desde o século 19 até meados
do século 20, orientado por uma concepção de linguagem tida como forma de expressão do
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
75
pensamento. Nessa tendência, acreditava-se que ler e escrever eram uma consequência do
pensar. Logo, a dificuldade de escrita e leitura estaria relacionada à falta de ideias ou de
pensamentos. Essa concepção é facilmente contestável por duas principais razões: a
primeira é que o pensamento é abstrato e, portanto, inatingível. Aquilo que se escreve ou
fala não pode ser tido como a verdade do que se pensa. A segunda razão é que a capacidade
de criar ou “ter ideias” não se configura, necessariamente, como condição equivalente para
escrever. Prova disso é quando nos deparamos com alunos que apresentam facilidade para
expressar-se oralmente, defender um ponto de vista, argumentar ou relatar um conjunto de
informações, mas não conseguem colocá-las no papel. Nessa concepção, Geraldi (1984)
explica que o ensino de língua portuguesa limitava-se a discussões descritivas e normativas
da língua enquanto objeto desassociado das situações de uso e não a linguagem inserida
em determinado contexto.
A segunda concepção de linguagem é da língua como instrumento de comunicação
baseada na teoria do linguista e estruturalista russo Jakobson. A concepção de língua como
instrumento de comunicação subsidiou o ensino de língua portuguesa de forma massiva,
presente, sobretudo, em materiais didáticos por meio do esquema intitulado de “código de
comunicação”. Nessa concepção, a língua é tida como conjunto de signos que se combinam
levando em conta fatores como: emissor/receptor/mensagem/canal/código. A teoria da
comunicação, como é concebida, não considerava também as condições de produção
específicas de cada texto em situação real de uso, em que emissor/receptor assumem
diferentes papéis sociais.
A terceira concepção – defendida por Geraldi (1984) e assumida por nós, é a
concepção de linguagem como interação, uma vez que “[...] mais do que possibilitar uma
transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é [...] um lugar de
interação humana” (GERALDI, 1984, p.41). A ideia de uso da linguagem como prática de
interação social é proposta com base em Bakhtin/Volóchinov (2010a), que defendem uma
concepção de linguagem enunciativo-discursiva e consideram o discurso como uma prática
social que se faz a partir da interação entre locutor e interlocutor.
O ensino de língua portuguesa defendido por Geraldi (1984) centra-se na ideia de
dominar a língua para situações concretas de uso, dando lugar a práticas sociais de
linguagem. Nessa perspectiva interacionista, o ensino da língua deve ocorrer por meio dos
textos enquanto produto de relações sociais, considerando também as diferentes
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
76
variedades linguísticas que eles mobilizam. É nesse interim que a prática de análise
linguística deve estar ancorada. Na seção seguinte, discutiremos melhor sobre essa
questão.
O ensino de língua portuguesa tendo como eixo norteador a prática de
análise e reflexão linguística
Antes de discutirmos sobre como diversas pesquisas têm orientado o trabalho com a
análise linguística nas escolas, é preciso compreender, de fato, em que consiste essa prática
para que não se confunda análise linguística com ensino de gramática.
Para Teixeira (2011), o ensino de gramática, bem como a prática de análise
linguística estão associados a diferentes concepções de linguagem. Enquanto a primeira
está associada a uma concepção estruturalista de língua, isto é, tida como um sistema
inflexível e invariável, a segunda está voltada a uma concepção interativa, já que a língua é
uma “[...] ação interlocutiva situada, sujeita às interferências dos falantes” (TEIXEIRA, 2011,
p. 168). Para que a diferença entre gramática e análise linguística fique mais clara, a autora
apresenta o seguinte quadro:
QUADRO 1: Diferenças entre ensino de gramática e análise linguística
Ensino da gramática Prática de Análise Linguística
Concepção de língua como sistema, estrutura Concepção de língua como ação interlocutiva
inflexível e invariável. situada, sujeita às interferências dos falantes.
Fragmentação entre os eixos de ensino: as aulas Integração entre os eixos de ensino: a AL é
de gramática não se relacionam ferramenta para a leitura e a produção de
necessariamente com as de leitura e de textos.
produção textual.
Metodologia transmissiva, baseada na Metodologia reflexiva, baseada na indução
exposição dedutiva (do geral para o particular, (observação dos casos particulares para a
isto é, das regras para o exemplo) + conclusão das regularidades/regras).
treinamento.
Privilégio das habilidades metalinguísticas. Trabalho paralelo com habilidades
metalinguísticas e epilinguísticas.
Ênfase nos conteúdos gramaticais como objetos Ênfase nos usos como objetos de ensino
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
77
de ensino, abordando isoladamente e em (habilidades de leitura e escrita), que remetem a
sequência mais ou menos fixa. vários outros objetos de ensino (estruturais,
textuais, discursivos, normativos), apresentados
e retomados sempre que necessário.
Centralidade na norma padrão. Centralidade dos efeitos de sentido.
Ausência de relação com as especificidades dos Fusão com o trabalho com os gêneros, na
gêneros, uma vez que a análise é mais de cunho medida em que contempla justamente a
estrutural e, quando normativa, desconsidera o intersecção das condições de produção dos
funcionamento desses gêneros nos contextos textos e as escolhas linguísticas.
de interação verbal.
Unidades privilegiadas: a palavra, a frase e o Unidade privilegiada: o texto.
período.
Preferência pelos exercícios estruturais, de Preferência por questões abertas e atividades de
identificação e classificação de pesquisa, que exigem comparação e reflexão
unidades/funções morfossintáticas e correção. sobre adequação e efeitos de sentido.
Fonte: Teixeira (2011, p. 169)
Embora a prática de análise e reflexão linguística conste como um dos eixos de
ensino de língua portuguesa desde os PCN (1997) e apareça reiteradamente na proposta da
BNCC (2018), desenvolver mecanismos didáticos, metodologias e estratégias capazes de
efetivá-la é ainda um desafio.
Bezerra e Reinaldo (2013) apontam que a proposta de análise linguística passou por
diferentes formatos. Entre as décadas de 70 e 80, havia uma tendência de conceber análises
menores da língua, com um caráter mais estruturalista. Já no período entre as décadas de
80 e 90 surgiu uma corrente de estudo do componente linguístico do texto, focando,
sobretudo, na compreensão dos elementos de coesão e coerência. Contudo, foi somente a
partir da década de 90, que a proposta de análise linguística passou a assumir o texto como
um todo, isto é, como objeto de ensino, tomando por base seu uso em uma situação
concreta de enunciação e levando-se em conta o gênero discursivo sob o qual ele se
materializa. Mas, afinal, em que consiste ensinar língua portuguesa sob o eixo de análise e
reflexão linguística?
Primeiramente, é preciso ter claro que assumir a análise linguística como objetivo de
ensino não significa abolir a gramática enquanto objeto de ensino, conforme muitos
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
78
discursos equivocados afirmam. O que se propõe, na verdade, é uma reflexão sobre qual
lugar deve ocupar a gramática em sala de aula, assim como o tratamento didático que se dá
a ela. Essa orientação já consta nos PCNs (1997), o qual explica que o
[...] trabalho de análise e reflexão sobre a língua é imprimir maior
qualidade ao uso da linguagem [...] por meio de situações didáticas [...]
focadas na reflexão sobre a língua em situações de produção e
interpretação, como caminho para tomar consciência e aprimorar o
controle sobre a própria produção linguística (BRASIL, 1997, p. 31).
A análise e reflexão linguística na sala de aula deve, portanto, ocorrer a partir de
textos reais que, materializados linguisticamente, assumem a forma de diferentes gêneros
discursivos. Nesse sentido, é preciso reconhecer – também ao se ensinar os conteúdos
linguísticos – que um texto sempre pertence a algum gênero discursivo, que circula em uma
determina esfera da atividade humana e se encontra inserido em um contexto sócio-
histórico-cultural. Por conseguinte, as enunciações discursivas e linguísticas sofrem
interferência e adequações desses aspectos.
A prática de atividades que levem em conta o ensino do texto e da análise linguística
conduz o discente a ampliar os recursos expressivos da fala e da escrita e a operar sobre a
própria linguagem. A prática de análise e reflexão linguística pode ser classificada (ou
perpassar) duas etapas, conforme destaca Geraldi (1991/1984). As atividades em sala de
aula podem se configurar como epilinguísticas ou metalinguísticas: a primeira diz respeito à
reflexão para o uso, no próprio interior da atividade linguística em que se realiza e a
segunda diz respeito ao processo descritivo da língua e das normatizações, ou seja, é a
linguagem descrevendo ela mesma visando as nomenclaturas, classificações e apropriação
de conceitos.
Com a expressão “análise linguística”, pretendo referir precisamente esse
conjunto de atividades que tomam uma das características da linguagem
como seu objeto: o fato de ela poder remeter a si própria, ou seja, com a
linguagem não só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as
coisas, mas também falamos sobre como falamos. Como já vimos, a essas
atividades têm sido reservadas às expressões “atividades epilinguísticas”
ou “atividades metalinguísticas” (GERALDI, 1991, p. 189).
As atividades metalinguísticas, como não estão propriamente vinculadas ao
processo discursivo de uso da língua, só têm sentido se as atividades epilinguísticas as
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
79
tiverem antecedido. Quando isso não ocorre, Geraldi (1991) explica que esta se torna uma
imposição de uma reflexão já pré-determinada por exemplos e exercícios. Contudo, em vez
de permitir a análise e reflexão linguística, “[...] o que se fixa é a metalinguagem utilizada”,
(GERALDI, 1991, p. 191) criando a expectativa de que saber utilizar a língua é saber fazer
metalinguagem.
Nesse sentido, quando a análise linguística cumpre a função de refletir sobre a língua
considerando seu uso efetivo em uma dada situação de interação entre os interlocutores,
espera-se que a atividade metalinguística ocorra dentro de uma situação didática visando
ao levantamento de regularidades de aspectos da língua, à sistematização e à classificação
de suas características específicas, mas principalmente, às implicações semânticas que
essas ocorrências geram.
Um caso concreto pode ser exemplificado com o uso de uma notícia em sala de aula.
Pertencente à esfera jornalística, este gênero discursivo tem como marca linguística o
emprego de verbos no presente em sua manchete. Mais importante do que localizar e
saber classificar o verbo, é o aluno compreender a escolha lexical do verbo (fatores
ideológicos do signo, por exemplo), a pretensão implícita em seu emprego no presente
(trazer ao leitor a sensação de fato recente) e o que isso traz de sentidos ao texto.
Neste caso, a ênfase deixa de ser na norma padrão e passa a ser na semântica a
partir de uma gramática viva e contextualizada. Isso porque em uma proposta de ensino de
análise linguística, o foco passa a ser no texto e no gênero que ele mobiliza, já na
perspectiva de ensino de gramática, há “ausência de relação com as especificidades dos
gêneros, uma vez que a análise é mais de cunho estrutural e, quando normativa,
desconsidera o funcionamento desses gêneros nos contextos de interação verbal”.
(TEIXEIRA, 2011, p.168).
Além disso, no ensino de gramática ocorre a “fragmentação entre os eixos de ensino:
as aulas de gramática não se relacionam necessariamente com as de leitura e de produção
textual.” (TEIXEIRA, 2011, p. 168), enquanto na análise linguística esses eixos são ensinados
simultaneamente, sendo a análise linguística a ferramenta que subsidia as práticas de
leitura e escrita. Por muitas décadas, os exercícios em forma de listas com classificações e
análises isoladas de frases e fragmentos do texto foram a base das aulas de língua
portuguesa. No entanto, apenas a inserção dos textos como objeto de aula não garante que
o que se continua fazendo é diferente do que se fazia. A esse respeito, Teixeira (2011)
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
80
propõe para isso não ocorrer, o emprego de uma metodologia reflexiva, em detrimento de
uma prática de transmissão de informações baseada na exposição de regras, exemplificação
e treinamento de repetição.
Outro fator que determina a análise linguística como prioridade é a “ênfase nos usos
como objetos de ensino (habilidades de leitura e escrita), que remetem a vários outros
objetos de ensino (estruturais, textuais, discursivos, normativos), apresentados e
retomados sempre que necessário” (TEIXEIRA, 2011, p.168). Nesse caso, o ensino dos
aspectos linguísticos faz uma “fusão com o trabalho com os gêneros, na medida em que
contempla justamente a intersecção das condições de produção dos textos e as escolhas
linguísticas”. (TEIXEIRA, 2011, p.168).
Convém ressaltar que há diversos fatores que caracterizam o ensino de análise
linguística. O mais importante, a nosso ver, conforme já afirmado, diz respeito à concepção
de língua adotada, neste caso, a concepção interacionista. Somado a isso, é importante
reconhecer como essas propostas aparecem nos documentos norteadores do ensino de
língua portuguesa, em específico na BNCC. É o que nos propomos a discutir nas próximas
seções.
Procedimentos Metodológicos
Para que pudéssemos responder aos objetivos da nossa pesquisa, selecionamos para
análise as seções intituladas: (i) “Língua Portuguesa” (p. 67) e (ii) “Língua portuguesa no
ensino fundamental – anos finais: práticas de linguagem, objetos de conhecimento e
habilidades” (p.136) disponíveis na seção “A etapa do ensino fundamental” do respectivo
documento (BRASIL, 2018).
Nestes textos, buscamos realizar uma análise enunciativo-discursiva que, de acordo
com Brait (2014, p. 13), leva em conta “as particularidades discursivas que apontam para
contextos mais amplos, para um extralinguístico aí incluído”. Nesse sentido, de acordo com
a autora,
o trabalho metodológico, analítico e interpretativo com textos/discursos se
dá – como se pode observar nessa proposta de criação de uma nova
disciplina, ou conjunto de disciplinas -, herdando da Linguística a
possibilidade de esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar micro e
macro-organizações sintáticas, reconhecer, recuperar e interpretar marcas
e articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) e indiciam
sua heterogeneidade constitutiva, assim como a dos sujeitos aí instalados.
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
81
E mais ainda: ultrapassando a necessária análise dessa ‘materialidade
linguística’, reconhecer o gênero a que pertencem os textos e os gêneros
que nele se articulam, descobrir a tradição das atividades em que esses
discursos se inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de análise,
chegar ao inusitado de sua forma de ser discursivamente, à sua maneira de
participar ativamente de esferas de produção, circulação e recepção,
encontrando sua identidade nas relações dialógicas estabelecidas por
outros discursos, com outros sujeitos (BRAIT, 2014, p. 113).
Como não há categorias a priori, aplicáveis de forma mecânica aos textos, foi a partir
da leitura destes que as estabelecemos buscando identificar: 1) qual a concepção de
linguagem que a proposta apresenta sobre o ensino de língua portuguesa e 2) que
orientações o referido documento prescreve para o ensino da análise linguística nas aulas de
língua materna.
Reflexões sobre a concepção de linguagem descrita na Base Nacional
Comum Curricular
Ao analisarmos o texto intitulado de “Língua Portuguesa” (BRASIL, p. 67) da Base
Nacional Comum Curricular, notamos que o referido documento estabelece um diálogo
com outros documentos prescritivos nacionais que orientaram o ensino de língua materna
nos anos anteriores à implantação da BNCC conforme podemos observar no trecho a
seguir:
O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com
documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas
décadas buscando atualizá-las em relação às pesquisas recentes da
área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste
século [...]. Assume-se aqui a perspectiva enunciativ0-discursiva de
linguagem, já assumida em outros documentos, como Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) para os quais a linguagem é “uma
forma de ação interindividual orientada para uma finalidade
específica: um processo de interlocução que se realiza nas práticas
sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua
história” (BRASIL, 2018, p. 67).
Assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998, a Base Nacional Comum
Curricular diz assumir uma concepção enunciativo-discursiva de linguagem, isto é, uma
linguagem dialógica e interativa que toma o texto como unidade de trabalho. Essa
concepção considera que “mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
82
emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana”
(GERALDI, 1984, p. 43).
Para realizar um ensino de língua baseado nessa concepção, o referido documento
sugere o trabalho com textos ao mencionar que
Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de
trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de
forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e
o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem
em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias
mídias e semioses. (BRASIL, 2018, p. 67).
Além disso, assume que os textos se materializam em gêneros discursivos
denominados por Bakhtin (2010b, p. 261) como “tipos relativamente estáveis de
enunciados”. Esses enunciados, por sua vez, refletem as condições específicas e as
finalidades dos campos da atividade humana “não só por seu conteúdo (temático) e pelo
estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais
da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional” (BAKHTIN, 2010b, p.
261).
No texto prescritivo da base, encontramos uma referência a esses dizeres de Bakhtin
(2010a; 2010b) quando o documento aponta para um ensino do texto, dos gêneros e da
língua que esteja associado às diversas esferas da atividade humana:
[...] o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e
objetivos, considerado a partir de seu pertencimento a um gênero
discursivo que circula em diferentes esferas/campos sociais de
atividade/comunicação /uso da linguagem. Os conhecimentos sobre os
gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a norma-padrão, sobre as
diferentes linguagens (semioses) devem ser mobilizados em favor do
desenvolvimento das capacidades de leitura, produção e tratamento das
linguagens que, por sua vez, devem estar a serviço da ampliação das
possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas/campos de
atividades humanas (BRASIL, 2018, p. 67).
Para 0rganizar esse ensino, a Base Nacional Comum Curricular sugere que o ensino
de língua se organize em quatro eixos que são denominados de práticas de linguagem. São
eles: 1) oralidade; 2) leitura/escuta; 3) produção (escrita e multissemiótica) e, 4) análise
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
83
linguística/semiótica. Na seção a seguir, discutiremos o último eixo, objetivo primeiro desse
artigo.
As orientações prescritas no eixo denominado análise linguística na Base
Nacional Comum Curricular: as (con)tradições do referido documento
Tradicionalmente, o ensino de língua materna esteve arraigado no que chamamos
de conteúdos gramaticais, uma vez que, por muitos anos, acreditou-se que esta seria uma
forma de sistematizar e/ou oferecer um suporte ao falante para uma melhora do seu
desenvolvimento linguístico. No entanto, de acordo com Geraldi (2009), a sistematização
desses conteúdos, ou melhor, o ensino efetivo da língua, algo que realmente signifique aos
estudantes, parece longe de ocorrer. Isso porque, na escola,
[...] as análises resultantes das teorias gramaticais que inspiram os
conteúdos ensinados são respostas dadas a perguntas que os alunos
(enquanto falantes da língua) sequer formularam. Em consequência, tais
respostas nada lhes dizem e os estudos gramaticais passam a ser ‘o que se
tem para estudar’ sem saber bem para que aprendê-los’ (GERALDI, 2009,
p. 122).
Nesse sentido, para um efetivo trabalho de análise linguística, torna-se necessário
mais do que a memorização e ensino de regras gramaticais. É preciso levar o estudante a
refletir sobre uma dificuldade real a partir de textos concretos e em contextos de uso. É,
inclusive, esse o propósito que a Base Nacional Comum Curricular estabelece quando
descreve como o ensino de análise linguística/semiótica deve ocorrer na escola. De acordo
com o documento,
Se uma face do aprendizado da Língua Portuguesa decorre da efetiva
atuação do estudante em práticas de linguagem que envolvem a
leitura/escuta e a produção de textos orais, escritos e multissemióticos,
situadas em campos de atuação específicos, a outra face provém da
reflexão/análise sobre/da própria experiência de realização dessas práticas.
Temos aí, portanto, o eixo da análise linguística/semiótica, que envolve o
conhecimento sobre a língua, sobre a norma-padrão e sobre as outras
semioses, que se desenvolve transversalmente aos dois eixos –
leitura/escuta e produção oral, escrita e multissemiótica – e que envolve
análise textual, gramatical, lexical, fonológica e das materialidades das
outras semioses (BRASIL, 2018, p. 80).
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
84
O que se observa perante essa descrição da proposta de ensino de análise linguística
do texto de nosso objeto de estudo é que, mais do que a memorização de regras
gramaticais, o trabalho deve se pautar no conhecimento linguístico sobre a língua para
contribuir com a leitura e produção escrita – modalidades estas que todo falante utiliza para
o uso nas práticas de linguagem das quais participa. O documento aponta, então, que a
análise linguística deve se desenvolver a partir desses dois eixos que se utilizam de textos e,
mais especificamente, como já apontamos, de diversos gêneros discursivos. O documento
traz ainda exemplos de como esse trabalho deve ocorrer ao considerarmos os textos orais e
escritos, como podemos observar abaixo:
O eixo da análise linguística/semiótica envolve os procedimentos e
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os
processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e
multissemióticos), das materialidades dos textos, responsáveis por seus
efeitos de sentido, seja no que se refere às formas de composição dos
textos, determinadas pelo gênero (orais, escritos e multissemióticos) e pela
situação de produção, seja no que se refere aos estilos adotados nos
textos, com forte impacto nos efeitos de sentido. Assim, no que diz
respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de composição dos
textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da progressão
temática dos textos, influenciadas pela organização típica (forma de
composição) do gênero em questão. No caso de textos orais, essa análise
envolverá também os elementos próprios da fala – como ritmo, altura,
intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada,
estilização etc. - , assim como os elementos paralinguísticos e cinésicos –
postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange ao estilo, serão
levadas em conta as escolhas de léxico e de variedade linguística ou
estilização e alguns mecanismos sintáticos e morfológicos, de acordo com
a situação de produção, a forma e o estilo de gênero. Já no que diz respeito
aos textos multissemióticos, a análise levará em conta as formas de
composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram (Brasil,
2018, p. 80).
A proposta de trabalho com análise linguística da Base Nacional Comum Curricular,
como podemos ver até então parece associada a uma concepção de linguagem interativa e
que tem o texto como centro norteador do ensino de língua portuguesa.
O referido documento apresenta, após definir a concepção de linguagem que
assume, bem como descrever os eixos de aprendizagem, um quadro especificando
habilidades e competências a serem trabalhadas em cada ano do ensino fundamental. A
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
85
título de exemplificação, utilizamos duas habilidades descritas e direcionadas aos alunos do
8º ano do ensino fundamental.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamentos de orações
em períodos, incorporando-as às suas próprias produções.
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso
frequente, incorporando-as às suas próprias produções.
Fica-nos uma questão diante da descrição dessas habilidades. A prescrição está
voltada mais ao ensino da gramática ou da análise linguística?
É, neste exemplo, que se apresenta uma (con)tradição do trabalho prescrito.
Primeiro, porque, ao falar de habilidades e competências, o ensino volta-se para uma
tendência mais cognitivista que atribui aos sujeitos a responsabilidade de suas
aprendizagens, de seus sucessos e fracassos. Não se considera que, conforme a perspectiva
interacionista, o desenvolvimento humano se dê através das relações sociais.
Segundo, porque a base diz assumir uma concepção de linguagem interativa e
orientar uma prática de análise linguística que se faz por meio de textos, não como pretexto
para o ensino da gramática, mas como instrumentos para o trabalho com o uso da língua
viva, dialógica. E isso não se percebe nas habilidades descritas quando o documento solicita
para identificar agrupamentos de orações em períodos e/ou orações subordinadas. A mera
identificação não permite o reconhecimento dos efeitos de sentido que esses enunciados
possibilitam no texto. Outras habilidades descritas em todo documento possuem essa
natureza. Por essa razão, uma nova dicotomia se apresenta: as habilidades direcionam os
professores a uma prática de análise linguística ou da metalinguagem?
Conforme já nos dizia Geraldi (1984, p. 45),
[...] uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da
língua em situações concretas de interação, entendendo e produzindo
enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma de expressão e
outra. Outra, é saber analisar uma língua dominando conceitos e
metalinguagens a partir dos quais se fala sobre a língua, se apresentam
suas características estruturais e de uso.
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
86
Resta acreditarmos na potencialidade de nossos professores para que o ensino de
análise linguística não se torne o ensino das normas, da memorização e da mera
identificação de orações e frases, mesmo que as avaliações de larga escala, pautadas em
habilidades e competências, exijam isso deles. Resta-nos torcer para que a dialogicidade (no
sentido bakhtiniano) impere.
Considerações Finais
O presente estudo objetivou analisar a concepção de linguagem que subjaz o ensino
de língua portuguesa proposto pela BNCC, mais especificamente, o eixo de análise e
reflexão linguística proposto na seção de língua portuguesa do ensino fundamental 2.
Por meio de uma análise de natureza linguístico-discursiva, observamos que o
documento assumido como nosso objeto de análise – embora assuma uma concepção
interacionista de língua – apresenta, ainda, resquícios de um ensino centrado em uma
perspectiva estruturalista. Nesse tipo de proposta, nota-se a contradição do documento que
– mesmo assumindo a necessidade de ter os textos na íntegra como centro do ensino e em
suas condições de produção – descreve no eixo de análise e reflexão linguística uma série de
habilidades de natureza metalinguística.
Assim, levando-se em conta que a análise e reflexão linguística deve ser feita de forma
associada às particularidades da situação de produção, foi possível notar que ainda perdura
o desafio de trabalhar com a análise linguística de forma não fragmentada aos demais eixos
de ensino (leitura, escrita e oralidade). Quando isso ocorre, é indiscutível que a língua não é
vista (e aprendida) na interação, mas sim como mero objeto de descrição e conceituação, o
que pouco contribui para o desenvolvimento da formação linguística dos sujeitos.
Referências Bibliográficas
BAKHTIN, Mikhail; VOLÓCHINOV, Valentin. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 12ª ed.
São Paulo: HUCITEC, 2010a.
_____. Estética da criação verbal. 2ª ed. São Paulo: Wmf Martins Fontes, 2010b.
BEZERRA, Maria Auxiliadora; REINALDO, Maria Augusta. Análise linguística: questões
teóricas. In: BEZERRA, Maria Auxiliadora; REINALDO, Maria Augusta. Análise linguística:
afinal a que se refere? São Paulo: Cortez, 2013.
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
87
BRAIT, Beth. Análise e teoria do discurso. In: BRAIT, Beth (org.) Bakhtin: outros conceitos-
chave. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2014, p. 9-31.
BRASIL. Plano Nacional de Educação. 2014. Disponível em: http://pne.mec.gov.br/18-
planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014.
Acesso em 06.07.2019.
_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 1996. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em 06.07.2019.
_____. Resolução do Conselho Nacional de Educação de 2017. Resolução CNE/CP nº 2, de
22 de dezembro de 2017. Disponível em: http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-
de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. Acesso em 06.07.2019.
_____. Constituição Federal de 1989 (atualizada). Disponível em:
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/anexo/CF.pdf. Acesso em
06.07.2019.
_____. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Disponível em:
www.basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em: 04 jul.2019
GERALDI, João Wanderley. Concepções de linguagem e ensino de português. In: GERALDI,
João Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura & produção. 2 ed. Cascavel:
Assoeste, 1984, p. 41-48.
______. Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
_____. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. Campinas: Mercado de
Letras, 2009.
JAKOBSON, Roman. Linguística e poética. In: JAKOBSON, Roman. Linguística e
Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1991.
TEIXEIRA, Claudia de Souza. Ensino de gramática e análise linguística. Revista Ecos. n. 11.
Dez, 2011, p. 163-173. Disponível em:
http://www.unemat.br/revistas/ecos/docs/v_11/163_Pag_Revista_Ecos_V-11_N-02_A-
2011.pdf. Acesso em 06.07.2019.
i
Doutora em Educação e Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da
Universidade São Francisco. Itatiba-SP/Brasil.
E-mail: milena.moretto@yahoo.com.br.
ii
Doutora em Educação e Professora do curso de Pedagogia da Universidade São Francisco. Itatiba-SP/Brasil.
E-mail: clauabreu_20@hotmail.com.
RECEBIDO EM 06/07/2019
ACEITO EM 07/08/2019
Eutomia, Recife, 23(1): 69-87, Jul. 2019
Você também pode gostar
- A Magica de Pensar Grande - David J - Resumo PDFDocumento8 páginasA Magica de Pensar Grande - David J - Resumo PDFFree TesteAinda não há avaliações
- Ensaio Linguistica AplicadaDocumento8 páginasEnsaio Linguistica AplicadaFlavio AlbertoAinda não há avaliações
- LP Nos Anos Iniciais Do FundamentalDocumento13 páginasLP Nos Anos Iniciais Do FundamentalKarol DantasAinda não há avaliações
- 11455-Texto Do Artigo-43497-3-10-20210426Documento15 páginas11455-Texto Do Artigo-43497-3-10-20210426Gilvan LealAinda não há avaliações
- TCC - Mariana (Versão Final) PDFDocumento48 páginasTCC - Mariana (Versão Final) PDFMariana SousaAinda não há avaliações
- DANTAS e SANTOS - 2020 - As Ideias Ling Do Círculo Na BNCCDocumento17 páginasDANTAS e SANTOS - 2020 - As Ideias Ling Do Círculo Na BNCCElisangela Krum de SouzaAinda não há avaliações
- Material PDFDocumento28 páginasMaterial PDFCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Texto Base Nacional Comum Lngua PortuguesaDocumento23 páginasTexto Base Nacional Comum Lngua PortuguesaHugo Vinícius Ferreira SilvaAinda não há avaliações
- Yasmin, Maria Emilia, IlderlandioDocumento16 páginasYasmin, Maria Emilia, IlderlandioLukas Reginato MartinezAinda não há avaliações
- Base Nacional Comum CurricularDocumento28 páginasBase Nacional Comum Curricularfernanda100% (1)
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC) : Comentários CríticosDocumento17 páginasBase Nacional Comum Curricular (BNCC) : Comentários CríticosLuiz Fernando PiresAinda não há avaliações
- A BNCC e o Componente Curricular de Lingua InglesaDocumento10 páginasA BNCC e o Componente Curricular de Lingua InglesaThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Resumo Do Estudo Realizado Por Milena Moretto e Claudia FeitozaDocumento1 páginaResumo Do Estudo Realizado Por Milena Moretto e Claudia FeitozaDanielle MoraesAinda não há avaliações
- Os Novos PCNS para o Ensino Médio - Concepções de Língua, Cultura e EnsinoDocumento12 páginasOs Novos PCNS para o Ensino Médio - Concepções de Língua, Cultura e EnsinovictorlimacrAinda não há avaliações
- A Transposição Didática Da Coesão Referencial Na Base Nacional Comum Curricular - Marcos Bispo - RBLADocumento25 páginasA Transposição Didática Da Coesão Referencial Na Base Nacional Comum Curricular - Marcos Bispo - RBLAAnderson CarninAinda não há avaliações
- Cópia de Thank You Letter Doc in Black and White Simple Elegant StyleDocumento10 páginasCópia de Thank You Letter Doc in Black and White Simple Elegant Stylepaullyanna.marques.2022Ainda não há avaliações
- 40608-Texto Do Artigo-185735-1-10-20180921 PDFDocumento41 páginas40608-Texto Do Artigo-185735-1-10-20180921 PDFFlávia Manduca IeneckAinda não há avaliações
- Nova Escola BNCC Lingua Portuguesa PDFDocumento44 páginasNova Escola BNCC Lingua Portuguesa PDFSilvânia SouzaAinda não há avaliações
- Desafios Do BNCC em Torno DoDocumento10 páginasDesafios Do BNCC em Torno DoAnonymous CGrN4oAinda não há avaliações
- PCN - Mudança de Paradigma PDFDocumento7 páginasPCN - Mudança de Paradigma PDFFranLiberatoAinda não há avaliações
- Do Professor Suposto Pelos PCNs Ao Professor Real Da Língua Portuguesa - São Os PCNs PraticáveisDocumento18 páginasDo Professor Suposto Pelos PCNs Ao Professor Real Da Língua Portuguesa - São Os PCNs PraticáveisMarkus Santos100% (1)
- 3979 14359 1 PBDocumento16 páginas3979 14359 1 PBTrabalho de Conclusão de Curso I - EADAinda não há avaliações
- Elaboração e Implementanção Da BNCC (2015-2017) Na Educação Pública Brasileira - Aproximações Com o IdeárioDocumento20 páginasElaboração e Implementanção Da BNCC (2015-2017) Na Educação Pública Brasileira - Aproximações Com o IdeárioEliane Monteiro Mendes de MeloAinda não há avaliações
- Evolucao Da BNCC O Que Mudou de Uma Versao para A OutraDocumento18 páginasEvolucao Da BNCC O Que Mudou de Uma Versao para A Outrahrob05Ainda não há avaliações
- TRICHES e ARANDA - O Percurso de Formulação Da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)Documento15 páginasTRICHES e ARANDA - O Percurso de Formulação Da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)Clara RibeiroAinda não há avaliações
- Trabalho Ev140 MD1 Sa8 Id6265 01102020235734Documento13 páginasTrabalho Ev140 MD1 Sa8 Id6265 01102020235734GilvanyAinda não há avaliações
- Análise Crítica Das Práticas de Ensino de Língua Portuguesa No Ensino Médio Segundo A BNCCDocumento4 páginasAnálise Crítica Das Práticas de Ensino de Língua Portuguesa No Ensino Médio Segundo A BNCCVanessa LyraAinda não há avaliações
- E-Booke-Docente Rufino2023Documento23 páginasE-Booke-Docente Rufino2023Alison Nascimento FariasAinda não há avaliações
- Apresentação Estágio IIDocumento31 páginasApresentação Estágio IImarcosvenanciodanetAinda não há avaliações
- Material PDFDocumento22 páginasMaterial PDFCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Do Conceito de Sequencia Didatica Ao de Projeto DidaticoDocumento26 páginasDo Conceito de Sequencia Didatica Ao de Projeto DidaticoRosely BastosAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Leitura e Documentos OficiaisDocumento18 páginasArtigo Sobre Leitura e Documentos Oficiaisnatanael romarioAinda não há avaliações
- O Que Dizem Alguns Documentos Oficiais Sobre o Ensino Tradicional de Língua Portuguesa. - Graziela Lucci de ANGELODocumento15 páginasO Que Dizem Alguns Documentos Oficiais Sobre o Ensino Tradicional de Língua Portuguesa. - Graziela Lucci de ANGELOSylviaRodriguesAlmeida100% (1)
- A Proposta de Análise Linguística/semiótica Na BNCC: A Natureza Dos Objetos de ConhecimentoDocumento20 páginasA Proposta de Análise Linguística/semiótica Na BNCC: A Natureza Dos Objetos de ConhecimentoDiogo LimaAinda não há avaliações
- Bem Me QuerDocumento18 páginasBem Me QuerRosenilson Araújo RodriguesAinda não há avaliações
- Letras e educação: encontros e inovações: Volume 2No EverandLetras e educação: encontros e inovações: Volume 2Ainda não há avaliações
- O Conceito de Leitura Na BNCC Do Ensino FundamentalDocumento14 páginasO Conceito de Leitura Na BNCC Do Ensino FundamentalRothschild Antunes100% (1)
- LH. AZEREDO JÚNIOR Diacronia e Ensino de Língua - Um Diálogo NecessárioDocumento17 páginasLH. AZEREDO JÚNIOR Diacronia e Ensino de Língua - Um Diálogo NecessárioThiago OliveiraAinda não há avaliações
- Material PDFDocumento27 páginasMaterial PDFCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Literatura Na BNCC - Artigo Revista Literatura História e MemóriaDocumento16 páginasLiteratura Na BNCC - Artigo Revista Literatura História e MemóriaAnaAinda não há avaliações
- 14598cba47dd29c6e195dd1591fbaa93Documento11 páginas14598cba47dd29c6e195dd1591fbaa93Antonio José AlvesAinda não há avaliações
- Resenha Da BNCC LilianDocumento7 páginasResenha Da BNCC LilianLilian SayonaraAinda não há avaliações
- Elisete Medianeira TomazettiDocumento24 páginasElisete Medianeira TomazettiLuciana CamacamAinda não há avaliações
- 11 - A Língua Inglesa Na Base Nacional Comum CurricularDocumento16 páginas11 - A Língua Inglesa Na Base Nacional Comum CurricularGustavo Nonato Alves Paiva100% (1)
- Prática Pedagógica E Metodologia Do Ensino de Língua E LiteraturaDocumento14 páginasPrática Pedagógica E Metodologia Do Ensino de Língua E LiteraturaVictor HugoAinda não há avaliações
- DCRB - Orientador Curricular Linguagem e Suas TecnologiasDocumento64 páginasDCRB - Orientador Curricular Linguagem e Suas TecnologiasJANIELIAinda não há avaliações
- Análise Crítica BNCC - DenisDocumento6 páginasAnálise Crítica BNCC - DenisDenis JosephAinda não há avaliações
- Revista Educação Pública - Arte e Música Na Base Nacional Comum CurricularDocumento5 páginasRevista Educação Pública - Arte e Música Na Base Nacional Comum CurricularAlanMarcosdaCunhaAinda não há avaliações
- Livro Didatico de Arte Do 6 Ano Do Ensino FundamenDocumento21 páginasLivro Didatico de Arte Do 6 Ano Do Ensino FundamenBabis HueAinda não há avaliações
- Apoio BNCC - Somente Leitura 20 09 23Documento21 páginasApoio BNCC - Somente Leitura 20 09 23eliane arts & mimosAinda não há avaliações
- TCC Elia - Uniaselvi PosDocumento15 páginasTCC Elia - Uniaselvi PosAdriana R. CuoreAinda não há avaliações
- Ead Completo - Iveuta LopesDocumento150 páginasEad Completo - Iveuta Lopesfrancivan111Ainda não há avaliações
- Estágio Curricular Obrigatório I - LPDocumento20 páginasEstágio Curricular Obrigatório I - LPeduardo.brunesAinda não há avaliações
- LAWALL - Interculturalidade - e - Transversalidade - TeDocumento14 páginasLAWALL - Interculturalidade - e - Transversalidade - TeJulio MárquezAinda não há avaliações
- 10 JaneteCamargoDocumento5 páginas10 JaneteCamargoGiovana MiglioAinda não há avaliações
- Revisao - 2024-05-20T154218.315Documento3 páginasRevisao - 2024-05-20T154218.315Ilioni OliveiraAinda não há avaliações
- A base nacional comum curricular: Discussões sobre a nova prescrição curricularNo EverandA base nacional comum curricular: Discussões sobre a nova prescrição curricularNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Implementacao BNCCDocumento12 páginasImplementacao BNCCPhilipe AndreAinda não há avaliações
- BNCC - Língua PortuguesaDocumento11 páginasBNCC - Língua PortuguesaBárbara RicchAinda não há avaliações
- Artigo - Concepções de Linguagem e Conceitos Correlatos - BelotiDocumento16 páginasArtigo - Concepções de Linguagem e Conceitos Correlatos - BelotiMárcia KraemerAinda não há avaliações
- 2 Os Gen Orais em Livros de LPDocumento14 páginas2 Os Gen Orais em Livros de LPRenilda FigueiredoAinda não há avaliações
- Leitura Complementar - (Opcional) Marxismo e Filosofia Da Linguagem - Volóchinov Direto RussoDocumento18 páginasLeitura Complementar - (Opcional) Marxismo e Filosofia Da Linguagem - Volóchinov Direto RussoDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Bakhtin e BenjaminDocumento28 páginasBakhtin e BenjaminDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Texto 14 - O Problema Da Instrução e Do DesenvolvimentoDocumento30 páginasTexto 14 - O Problema Da Instrução e Do DesenvolvimentoDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Texto Complementar 1 - Van Der Veer e Valsiner, 1996 - Lev VygotskyDocumento16 páginasTexto Complementar 1 - Van Der Veer e Valsiner, 1996 - Lev VygotskyDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Delari - Sobre A Negligência ConceitualDocumento3 páginasDelari - Sobre A Negligência ConceitualDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Aula Sobre AbstraçãoDocumento26 páginasAula Sobre AbstraçãoDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- 2 PS Matemática Perímetros P 49Documento219 páginas2 PS Matemática Perímetros P 49Douglas OliveiraAinda não há avaliações
- RESENDE, V. M. Análise deDocumento5 páginasRESENDE, V. M. Análise deDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- 3 TESE-Sobre-a-dinâmica-da-Produção-de-Significados - P 47Documento244 páginas3 TESE-Sobre-a-dinâmica-da-Produção-de-Significados - P 47Douglas Oliveira0% (1)
- Analise LinguisticaDocumento3 páginasAnalise LinguisticaDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- Intelectual Organico PDFDocumento17 páginasIntelectual Organico PDFDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- CONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA Praticas Letradas Academicas e Escolares PDFDocumento10 páginasCONCEPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA Praticas Letradas Academicas e Escolares PDFDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- CLARICE Vaz Peres ALVES - Tese A ESCRITA NO CONTEXTO ACADÊMICO PDFDocumento232 páginasCLARICE Vaz Peres ALVES - Tese A ESCRITA NO CONTEXTO ACADÊMICO PDFDouglas OliveiraAinda não há avaliações
- MetáforasDocumento8 páginasMetáforashjbortolAinda não há avaliações
- Teoria Gestao ConhecimentoDocumento4 páginasTeoria Gestao ConhecimentoLeandro Sanches SilvaAinda não há avaliações
- Teorico Aprender 6Documento28 páginasTeorico Aprender 6Arnaldo VivianAinda não há avaliações
- Corporeidade e Ação Profissional Na ReabilitaçãoDocumento16 páginasCorporeidade e Ação Profissional Na ReabilitaçãoViniihAraujoAinda não há avaliações
- Pedagogia: 6 Série Projeto de Extensão À ComunidadeDocumento6 páginasPedagogia: 6 Série Projeto de Extensão À ComunidadealesearchvianaAinda não há avaliações
- Sob o Véu Da Motivação - Palestra PDFDocumento24 páginasSob o Véu Da Motivação - Palestra PDFHellen SalazarAinda não há avaliações
- Twitter MicrocontoDocumento157 páginasTwitter MicrocontoviniciuscarpeAinda não há avaliações
- Iniciacao CientificaDocumento52 páginasIniciacao CientificasauloAinda não há avaliações
- Noções Básicas Sobre Linguagem (Variedades Linguisticas)Documento11 páginasNoções Básicas Sobre Linguagem (Variedades Linguisticas)Léo JúniorAinda não há avaliações
- TomazettiDocumento13 páginasTomazettiluiz_lira_1Ainda não há avaliações
- MANUAL DE Avaliação Da FormaçãoDocumento202 páginasMANUAL DE Avaliação Da Formaçãoraquel100% (3)
- Introdução A Linguistica 20183 LET SEC PDFDocumento112 páginasIntrodução A Linguistica 20183 LET SEC PDFDebora Caetano100% (1)
- A Gestão Da Sala de Aula.Documento49 páginasA Gestão Da Sala de Aula.Cecília Neila100% (1)
- CADERNO - 5 - Lingua Portuguesa - Estratégia ConcursosDocumento61 páginasCADERNO - 5 - Lingua Portuguesa - Estratégia Concursossamuel souzaAinda não há avaliações
- Comunicado - Orientações Sobre Papéis, Rotinas e Registros Durante As Atividades Escolares Não PresenciaisDocumento4 páginasComunicado - Orientações Sobre Papéis, Rotinas e Registros Durante As Atividades Escolares Não PresenciaisEdson Bispo PalmeiraAinda não há avaliações
- Acordo Didático e FuncionalDocumento2 páginasAcordo Didático e FuncionalMarthamefiAinda não há avaliações
- Teste 11º Ano Março 2024 1º V Teste BDocumento5 páginasTeste 11º Ano Março 2024 1º V Teste B70906Ainda não há avaliações
- Superdotação 2Documento3 páginasSuperdotação 2alexandre coragemAinda não há avaliações
- Zatividade Identificar Efeitos de Humor e IroniaDocumento4 páginasZatividade Identificar Efeitos de Humor e IroniaEDNALVA BARBI DA SILVAAinda não há avaliações
- Texto - 1 - Slides - Neurociências - Métodos de Estudos Da Relação Entre Cérebro, Comportamento e CogniçãoDocumento29 páginasTexto - 1 - Slides - Neurociências - Métodos de Estudos Da Relação Entre Cérebro, Comportamento e CogniçãoÉrica ArrudaAinda não há avaliações
- Pequeno Manual Do ProfessorDocumento104 páginasPequeno Manual Do ProfessorVânia SargesAinda não há avaliações
- Ebook - People SkillsDocumento44 páginasEbook - People SkillsThyago AraújoAinda não há avaliações
- Piaget - Nova EscolaDocumento8 páginasPiaget - Nova EscolaAllan MendesAinda não há avaliações
- EbookDocumento44 páginasEbookAndré AraújoAinda não há avaliações
- Universidade Aberta - Unisced Departamento de Ciências de Educação Licenciatura em Ensino de GeografiaDocumento59 páginasUniversidade Aberta - Unisced Departamento de Ciências de Educação Licenciatura em Ensino de GeografiaAvenaldo BanzeAinda não há avaliações
- Manuais Escolares 17-18Documento4 páginasManuais Escolares 17-18bruh2Ainda não há avaliações
- MIJ - Saber Fazer - Resumo Ou Sintese - AulaDocumento4 páginasMIJ - Saber Fazer - Resumo Ou Sintese - AulaShirley Janfar100% (1)
- Etapas de Planificação Do Pré, Durante e Pós-Visita de Estudo: Uma Revisão de LiteraturDocumento6 páginasEtapas de Planificação Do Pré, Durante e Pós-Visita de Estudo: Uma Revisão de LiteraturKailane JuízoAinda não há avaliações
- Competências para A VidaDocumento1 páginaCompetências para A VidaMarcondes LostAinda não há avaliações