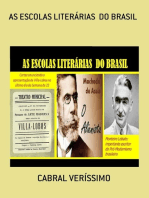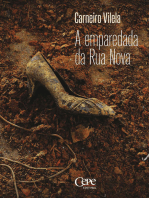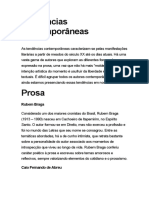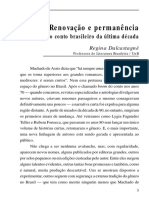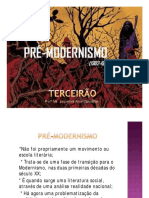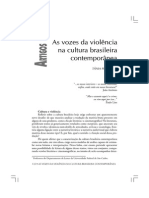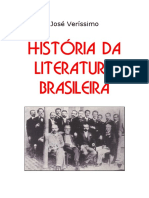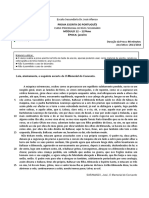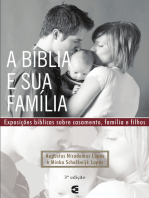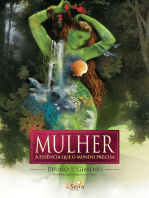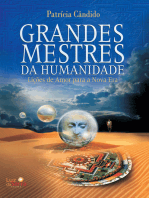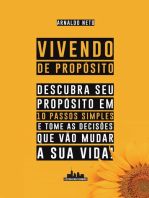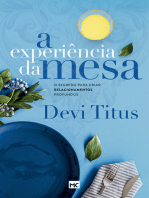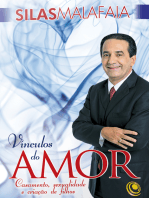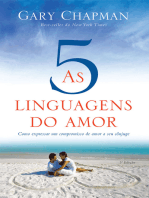Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Prosa de Luiz Vilela
Enviado por
Islan SantosDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Prosa de Luiz Vilela
Enviado por
Islan SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P.
150-165 | JAN/JUN 2019
A PROSA DE LUIZ VILELA http://dx.doi.org/10.11606/issn.2237-1184.v0i29p150-165
Ariovaldo Vidal
Universidade de São Paulo (USP)
RESUMO PALAVRAS-CHAVE:
Este ensaio é formado de duas partes: a primeira Luiz Vilela;
analisa o romance Os novos (1971), romance de ditadura militar;
geração que trata de um grupo de universitários às Os novos;
voltas com a opressão do regime militar e as dúvidas contos;
diante dos caminhos possíveis. A segunda parte do lirismo.
ensaio trata dos contos de Luiz Vilela (também
situados nesse período), mas procurando antes
compreender alguns procedimentos do autor na
construção da narrativa, bem como apontar o lirismo
presente em muitas de suas histórias.
ABSTRACT KEYWORDS
This essay is presented in two parts: the first part analyzing Luiz Vilela;
the novel Os novos (1971), a generation novel, talking military dictatorship;
about a group of academic students dealing with the Os novos;
oppression of a military regimen and the doubts before the tales;
possible paths. The second part of the essay deals with the lyricism.
tales by Luiz Vilela (also located in the same period), but
instead, trying to understand some procedures by the
author to construct the narrative, as well as to point out the
lyricism present in several of his stories.
A primeira parte deste ensaio foi publicada originalmente no Jornal da USP. São Paulo, 26 de março de
2018; a segunda parte, inédita, foi escrita originalmente para um livro em homenagem a Luiz Vilela.
150 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
omance e contexto
Em meados da década de 70, eu fazia o curso de Letras na FFLCH,
mas andava também às voltas com teatro amador e por isso aparecia na
Biblioteca da ECA algumas vezes por conta do acervo de peças
mimeografadas. Numa dessas vezes, estava no final de uma pequena fila
de espera e vi no balcão um cartaz em PB que me chamou atenção: nele
havia uma fila e o último sujeito da fila, um homem na casa dos trinta anos,
de terno “de bater” e com expressão cansada, olhava para trás atendendo
ao chamado da legenda, que dizia: “Ei! Os escritores brasileiros estão
falando de você.” Criava-se uma situação curiosa, um jocoso mise en abyme
pois eu era o último da pequena fila, que certamente nada tinha a ver com
a fila simbólica do cartaz; esta falava de um Brasil de filas imensas que a
literatura do tempo tematizava (com perdão do lugar-comum)
kafkianamente. Mas o mais importante dessa imagem estava no fato de
que os jovens escritores de então, seguindo ainda a lição do Modernismo,
falavam da vida de seu leitor, agora perdido nos meandros de um país
sujeito à ditadura e à burocracia.
A legenda se referia a um grupo de escritores jovens ou novos que
estavam fazendo por aqueles anos uma literatura que ganhava feição
própria, identificando não propriamente um grupo, mas um movimento.
De certo modo, se a literatura brasileira não entrava no boom da literatura
hispanoamericana por razões óbvias ou compreensíveis, o fato é que havia
no Brasil daqueles anos um bunzinho de nossa literatura, com uma
significativa penetração nos ambientes escolares, o que veio acompanhado
de um trabalho editorial sagaz, especialmente concentrado na imagem da
editora Ática (edições ilustradas e chamativas, paratextos voltados à
linguagem dos adolescentes etc.), bem como da editora Brasiliense, com
suas coleções destinadas ao público jovem, as “cantadas literárias” que
traziam uma literatura em boa parte marcada de erotismo e aventura.
Dei essa pequena volta para chegar ao ponto que mais interessa: o
romance brasileiro do período, e também, ou sobretudo, o conto brasileiro
que se alastrou enormemente naqueles anos, queriam falar do presente do
País, adotando nessa empresa muitas vezes uma linguagem despojada ou
coloquial, de uma maneira particularmente nova, nem sempre feliz, uma
linguagem de desrecalque (para usar um termo de Antonio Candido ao
falar de 22) em que o palavrão, de livre curso, tinha mesmo uma conotação
151 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
política.1 Se a matéria da literatura sempre fora a vida presente, os homens
presentes, o fato é que agora havia um sentimento de urgência na literatura
feita por esses novos escritores (e não só na ficção, nem só na literatura),
urgência que dava ao conto e ao romance quase sempre uma feição de
denúncia, querendo transformar a matéria realista imediata em alegoria do
País, conforme a notação crítica de Davi Arrigucci Jr.2
Um dos autores mais característicos desse período completou
recentemente 50 anos de literatura: Luiz Vilela. Vilela estreou com um
volume de contos chamado Tremor de terra, em 1967, ganhando com ele o
Prêmio Nacional de Ficção, em Brasília. Depois desse vieram muitos outros
livros e alguns prêmios, passando por Tarde da noite (contos, 1970), O fim de
tudo (contos, 1973), O inferno é aqui mesmo (romance, 1979), Lindas pernas
(contos, 1979), Entre amigos (romance, 1983), para citar apenas alguns, até
chegar a O filho de Machado de Assis (2016) — que eu saiba o mais recente —
totalizando cerca de três dezenas de obras entre contos, romances, novelas
e várias antologias.
A crítica já observou o que de certo modo é sentimento de grande
parte dos leitores de Luiz Vilela, a saber, que sem se dar conta o leitor vai
se sentindo personagem do autor. Mas quem é esse leitor, questão que
sempre se impõe quando se fala de recepção? Não é fácil definir, até porque
muitos leitores não têm essa empatia com a obra, mas é possível dizer duas
ou três coisas sobre ele — ou sobre um desses leitores —, a partir de uma
evidência de época e de alguns traços de seu personagem central, espécie
de alter ego do escritor.
Como se sabe, as grandes cidades brasileiras começaram a inchar
ainda mais aceleradamente na passagem dos anos 60 aos 70; e nesse
movimento migratório, surgiu uma camada particular de viventes que
vinham não do campo para a cidade, mas do interior para a capital,
fenômeno que se deu em muitas partes do País. Era uma população jovem,
formada de estudantes que pisavam pela primeira vez o chão de uma
universidade (o primeiro da família a entrar no ensino superior,
geralmente público), deixando para trás uma formação católica de classe
média e a segurança do mundo estável e geralmente opressivo dos pais.
Na cidade (e na universidade) encontravam também novas formas de
sociabilidade, mais abertas e desafiadoras, concentradas na metonímia da
“república”. Não era uma “juventude transviada”: era antes uma
juventude em trânsito, que não se reconhecia mais no mundo católico dos
pais, nem tinha chegado ainda onde queria ou sonhava, pois entre outras
1
A expressão de Antonio Candido está em “Literatura e cultura de 1900 a 1945”, In: Literatura e
sociedade. 7. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985, p. 121.
2
Refiro-me ao conhecido “Jornal, realismo, alegoria: o romance brasileiro recente”, publicado em
Achados e perdidos. São Paulo: Polis, 1979, pp. 79 e ss.; republicado em Outros achados e perdidos. São
Paulo: Companhia das letras, 1999, pp. 77 e ss.
152 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
angústias o País vivia o entrave da ditadura; e esse era um dado novo: uma
juventude que ganhava uma visão politica dos fatos, em meio ao
anonimato da grande cidade.
Em muito a personagem central de Luiz Vilela é esse mesmo jovem,
e não é por acaso que em sua obra haja um grande número de estudantes
e adolescentes. O romance que melhor concentra esse universo de relações
é Os novos (1971), que conta a história de um grupo de universitários em
Belo Horizonte, vivendo os impasses de escolhas novas, num país também
em impasse. O romance se passa no final dos anos 60, no contexto do
nefasto AI-5: Nei é a personagem central que, recém-formado, já dá aulas
de filosofia, escreve contos, frequenta bares com os amigos, mantém uma
relação afetiva com o pai distante que às vezes vem visitá-lo, e vive o drama
sentimental de fazer dos amantes dois inimigos.
O livro retoma de maneira clara a tradição mineira dos romances que
misturam a crônica de grupo e a confissão do protagonista; é visível a
presença de O amanuense Belmiro (1937), de Cyro dos Anjos, nas cenas vivas
da roda de amigos que contrastam com um lirismo subjacente ao
protagonista (diga-se que no romance de Cyro, o lirismo está por toda
parte, enquanto no de Vilela o prosaísmo está por toda parte); mas retoma
também e de modo mais claro o livro de Fernando Sabino, O encontro
marcado (1956), com o qual compartilha um mesmo grupo de amigos que
dividem suas preocupações e impasses: “Estou cansado de tudo isso —
disse Nei. — Cansado dessa confusão, cansado da literatura, cansado dessa
cidade e dessa chuva, cansado até dessas nossas conversas, que não levam
a nada. Dá vontade de sumir pra longe daqui”.3 E compartilha também o
fato de ser o depoimento vivo de uma geração, na expressão de Alfredo
Bosi para o livro de Sabino.4
O romance possui um andamento solto (não desordenado),
contando a história de uma geração de jovens escritores, não mais
formados em medicina, farmácia ou direito, mas agora ganhando a vida
com o magistério ou o jornal, e a caminho do universo da publicidade.
Trata-se de um romance de geração, abusando de um prosaísmo pesado,
com o palavrão correndo solto e — como romance de geração — tendo no
bar o espaço por excelência em que transcorre a ação. Nele (ou neles)
habitam as personagens que vivem os impasses de sua geração: além do
protagonista Nei, aparecem seus dois amigos mais próximos Vítor e Zé,
além de outros que transitam bastante ou pouco pelos mesmos espaços:
Ronaldo, Martinha, Milton, Leopoldo, Queiroz, Dalva, Mário Lúcio,
Gabriel e Telmo.
Nas conversas que preenchem o livro, aparecem os temas do período
e daquele contexto: o papel da literatura, a comédia provinciana dos
3
VILELA, Luiz. Os novos. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1984, p. 172.
4
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 1991, p. 475.
153 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
medalhões conservadores, a liberdade sexual (tratada na chave do
preconceito quase o tempo todo), as saídas políticas contra o autoritarismo
etc. E o problema que mais avulta é o sentimento de impotência diante da
situação política e a consequente autoironia com a literatura que fazem, por
não sentirem vocação para a ação política; e algumas cenas são simbólicas
nesse sentido: numa delas, Nei e alguns amigos assistem ressentidos
(sentados numa mureta...) a exibição de heroísmo de alguns alunos que
haviam sido presos numa passeata no dia anterior; em outra cena, num
bar, cogitam as possibilidades de escolha: no primeiro chope, a saída é a
revolução; num dos seguintes, a saída é o suicídio; e entre as duas
possibilidades acabam escolhendo um filé a palito.
Ainda em outra cena, definem-se como sendo uma “esquerda festiva
e manifestiva”5; mas o romance não é uma sátira a esse comportamento, e
o fato é que as angústias pequeno-burguesas (como dizia o chavão da
época) de suas personagens são verdadeiras e garantem o melhor da obra;
suas criaturas não dependem ou se explicam por um momento político
(ainda que tão nefasto), e sim pelo processo histórico que ultrapassa e
explica esse momento.
Não é difícil perceber a composição da tríade central: de um lado,
Vítor, o poeta fracassado, que assume de vez ao final a vida burguesa de
pai de família, funcionário público, agora “viciado em tevê” e que combate
precariamente o vício da cerveja e as idas ao bar com uma horta que cultiva
no fundo da casa; de outro, a figura pungente de Zé, funcionário
escravizado a um banco, preso irremediavelmente aos cuidados com a
mãe, sabendo que não fará nada de bom na vida, pois o talento — que
todos reconhecem nele — ressecará na vida burocrática e doméstica a que
está preso. Entre os dois, situa-se a figura discreta do personagem central
Nei, aquele que parece encontrar uma saída, tantas vezes protelada e
desacreditada.
A saída está indiciada numa cena em abismo no meio do romance,
que antecipa o próprio romance que estamos lendo: os amigos decidem
escrever uma peça — que acaba (mal) escrita e censurada – para denunciar
e protestar contra a opressão política; ocorre que de início a peça não está
saindo e Nei pondera que a discussão para a escrita pode ser a própria
peça: “Está divertido — disse Nei. — Essa preparação para a peça daria
outra peça, talvez melhor do que a própria. Ou então: a peça nem chegaria
a ser escrita”.6 E o romance que Nei escreverá (e que Vilela escreveu) é
justamente a história da preparação para o romance, talvez melhor do que
o próprio, relação entre a obra planejada ou desejada e a obra vicária e
precária que acabou saindo, mas por isso mesmo mais visceral. No final da
narrativa, diz o protagonista que irá retomar o romance e, quem sabe,
5
VILELA, Luiz. Op. cit., p. 26.
6
Idem, ibidem, p. 119.
154 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
conseguir escrevê-lo; de fato, é isso que acontecerá: depois de tanta
negação, ele finalmente se encaminhará para seu encontro marcado.
Mas para além desse romance, a mesma personagem aparece em
diferentes contos e novelas, com outros nomes e roupas, não sem um
sentimento de desconcerto que se traduz num olhar solidário (da
personagem ou do autor que subjaz ao texto) a outros viventes igualmente
sofridos — as mulheres, os velhos, as crianças, os que passam por alguma
tragédia. No caso das primeiras, trata-se de um olhar feminino que deixa
ver uma condição de opressão num mundo que vai deixando de ser
patriarcal; no caso dos segundos, o sentimento de rejeição, de inutilidade,
num mundo que vai ficando cada vez mais jovem. Tudo isso filtrado por
um olhar melancólico, que não deixa de se disfarçar muitas vezes em
humor.
Não vai sem crítica um comentário à prosa do autor, pois a questão
é saber o quanto do que estava preso ao momento (“estão falando de você”)
não envelheceu com o tempo. Um incômodo evidente a muitos leitores (e
a mim) é certo vezo do escritor em buscar um final impactante, que se
traduz em revelação algo suspeita ou mesmo em carga patética. Por razões
de gênero, isso é mais comum no conto que no romance, mas ainda assim
— e por justiça com o autor — é necessário fazer uma leitura modulada do
problema. De qualquer modo, sua linguagem sempre às voltas com um
coloquial desataviado, seu diálogo que tantas vezes a crítica elogiou, o
olhar de ternura para criaturas indefesas ou deslocadas são ainda motivos
para seduzir novos e jovens leitores que acabarão sentindo-se personagens
do autor.
Conto e lirismo
Nos anos em que Luiz Vilela se firmou como um grande contista de
sua geração, o conto havia se tornado a expressão por excelência dos jovens
que iniciavam a carreira literária lá pelos anos 70. Dizer que o sujeito tinha
um romance na gaveta era coisa da geração anterior; a de agora tinha, na
verdade, um livro de contos na gaveta e, quando não, ao menos algum
espécime havia para participar das inúmeras e efêmeras antologias. Disse
um crítico certa vez numa resenha que o conto havia se tornado o soneto
de nossa época, uma frase significativa porque o conto era de fato o veículo
de expressão da subjetividade daquela geração; a primeira pessoa, o Eu —
instância por excelência da lírica —, estava presente de maneira intensa e
extensa nos volumes publicados, uma geração que não se sentia mais
envergonhada da confissão, pelo contrário, expor-se publicamente era um
ato de urgência num tempo em que se confessar tornava-se uma ação
política, uma denúncia das mazelas do presente (enquanto do outro lado
da linha, a “confissão” era obtida sob violência). Não se deve esquecer
155 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
também que esse movimento, que teve lugar num determinado momento
da literatura brasileira de maneira concentrada, vinha na esteira da
mudança maior ocorrida com o romance no século XX, com a perda do
distanciamento épico, a dificuldade cada vez maior em compreender a
realidade, a descrença do próprio narrador no ato de narrar, tudo agora
reduzido ao âmbito de sua subjetividade; enfim, pressupostos que estavam
dados na base desse novo romance e que a melhor crítica procurou
descrever.7
Voltando ao nosso contista e à sua obra, a melhor definição para a
personagem central da literatura de Luiz Vilela pode ser feita lançando
mão livremente da expressão com que Hegel definiu o romance burguês
enquanto gênero: são personagens que vivem “o conflito entre a poesia do
coração e a prosa oposta das relações”.8 Não se trata de encontrar nessa
formulação original uma linha direta com a obra do contista brasileiro, e
seria tolo pensar dessa forma dada a situação histórica do escritor; mas
tomada a expressão em si, ela descreve como nenhuma outra o sentido e a
condição desses seres deslocados, constrangidos, tímidos perante os
convites ou recusas que a vida oferece. Trazem consigo uma interioridade
rica e afetiva, angustiada muitas vezes por não encontrar na objetividade
do mundo aqueles mesmos conteúdos que são a promessa de uma
plenitude capaz de superar a finitude do tempo; são quase sempre seres
melancólicos, herdeiros ainda do “romantismo da desilusão”.9
Mas se quisermos aproximar a caracterização dessa personagem do
lugar histórico em que se encontra, talvez seja melhor mesmo dizer que são
todos seres que sorrir já não podem, e vão embora solitários quando os
bares se fecham e as virtudes se negam, para falar com a voz do mineiro
que melhor os compreendeu. De fato, não seria difícil tomar Drummond
como um apoio decisivo para a leitura dos seres e contos de Vilela: bastaria
pensar nas inúmeras maneiras com que o poeta caracterizou sua persona
lírica, o gauche que se sente sempre inadequado no mundo que o cerca,
pois quando funcionário respeitável, aparece vestido num terno de vidro;
quando numa festa, fica torto no seu canto; e quando está amando, faz de
Fulana um mito.
Mesmo quando o conto se resume a uma cena ou sequência de
humor, como é o caso de “Velório”, de Tremor de terra (1967), o olhar lírico
7
Penso, por exemplo, nos ensaios conhecidos de Erich Auerbach, “A meia marrom”; Theodor Adorno,
“Posição do narrador no romance contemporâneo”; e Anatol Rosenfeld, “Reflexões sobre o romance
moderno”.
8
HEGEL, G.W.F. “A épica como totalidade plena de unidade”. Cursos de estética. Trad. de Marco
Aurélio Werle e Oliver Tolle. São Paulo: Edusp, 2004, vol. IV, p. 138.
9
Refiro-me ao capítulo de Georg Lukács em A teoria do romance. Trad. de José Marcos M. de Macedo.
São Paulo: Duas cidades/Editora 34, 2000. Num ensaio sobre Fernando Gabeira e a prosa do período, ao
mencionar alguns romances sobre o jornalismo Davi Arrigucci Jr. já definia O inferno é aqui mesmo
(1979) como um “romance de ilusões perdidas”. Cf. “Gabeira em dois tempos”. Enigma e comentário.
São Paulo: Companhia das letras, 1987, p. 120.
156 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
está presente, ou melhor, implicado na organização da cena, pois o leitor
sente que ele se retira para deixar à mostra o prosaísmo grosseiro das
personagens que detêm o poder (ao menos do discurso), quando então o
humor que se revela está na proporção inversa do lirismo que se cala. Mas
é preciso dizer também que nesse e em outros casos o perigo é sempre o
do contraste fácil, em que o outro aparece numa condição rebaixada
demais para fazer sobressair a elevação do primeiro.
Caso mais sutil, ainda na chave do humor, está num conto como
“Boa de garfo” ou “Todas aquelas coisas”, ambos de Lindas pernas (1979):
nesses contos, o lirismo aparece como expressão de personagens singelas
(algo quixotescas) e aquela mesma falta de vocação para o mundo prático,
havendo por parte do narrador uma simpatia gratuita e profunda para com
os seres insólitos às voltas com as agruras da vida, e que se refugiam em
suas fantasias.
Vejamos mais de perto como essas observações se materializam nos
contos, ou seja, como o lirismo se manifesta em algumas das narrativas,
especialmente aquelas que falam do conflito entre sujeito e mundo em
diferentes níveis de tensão. Nessas narrativas aparecem personagens que
vão configurando a persona ficcional de Vilela e definindo a perspectiva
dessa instância autoral implicada na obra para além das diferentes vozes
que dão vida ao universo do autor. Para isso, a multiplicidade dos contos
pode ajudar mais do que o romance, sem pretender com os exemplos a
seguir dar conta de todos os modos de narrar, muito menos das diferentes
situações sociais: num caso, o próprio narrador-protagonista vive o drama
do deslocamento; em outro, a voz narrativa pertence a um personagem
situado na periferia dos acontecimentos, dando maior ênfase à solidão
daqueles seres desgarrados que aparecem em vários espaços sociais; em
outros ainda, trata-se de um narrador em terceira pessoa (neutro ou
intruso) que se encarrega de dizer esse drama, situando a personagem
eleita no centro dos acontecimentos.10
a) Narrador confessional
O primeiro dos contos abordados mais de perto é “Tremor de terra”,
publicado no livro de mesmo nome. A escolha se justifica por duas razões:
a primeira é que nele encontramos um exemplo claro dessa voz
confessional de que falávamos acima, pois o conto todo é preenchido por
um discurso em primeira pessoa, de um jovem narrador que conta a
desventura amorosa com sua professora num curso noturno (um dos
10
Com referência às categorias de foco narrativo, trabalho livremente com a terminologia do ensaio de
Norman Friedman, “O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um conceito crítico”. Trad. de Fábio
Fonseca de Melo. Revista USP. São Paulo: mar./maio 2002, n. 53; e o livro de Ligia Chiappini, O foco
narrativo. 6. ed. São Paulo: Ática, 1993, baseado no ensaio de Friedman.
157 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
vários estudantes na obra do autor); a segunda razão da escolha, o fato de
que o conto inaugura a obra de Luiz Vilela, pois dá título ao livro de estreia
e, mais importante do que o dado histórico, é o fato de que o conto mostra
aos leitores a fisionomia dessa persona e personagem que marcará a partir
dali sua obra futura. O conto encerra o volume e ganha por isso mesmo a
condição de resumo dos contos anteriores: síntese do que veio antes, índice
do que virá depois.
Disse acima que o conto narra a desventura de um caso amoroso
entre o jovem narrador e sua professora do curso noturno; mas não é bem
assim. De fato, em toda sua obra, Vilela vai demonstrar uma vocação
marcada para a criação do anedótico, às vezes cômico, mas, na maior parte
das vezes, enquanto expressão de casos sérios que valem por si; é um
grande contador de causos urbanos. Mas nesse conto de que tratamos,
justamente isso está de fora: não se trata de uma história de amor, não se
trata nem mesmo de uma história: é na verdade um fragmento de discurso
amoroso do jovem e solitário aluno que um dia vê entrar na sala de aula
uma nova professora e, ao vê-la, como bom lírico, deixa a alma falar.
Assim, o conto se resume enquanto ação dramática a uma esquálida fábula:
na primeira vez, conhece a professora; na segunda, volta a vê-la com algum
distanciamento; na terceira, segue-a e a seu marido pela rua noturna e
chuvosa, perdendo-a para sempre.
Nas três marcações temporais, o que se tem é uma voz que preenche
o que falta em ação com a reflexão lírica que procura dar conta do caráter
revelador da experiência. De fato, na primeira noite quando a nova
professora entra na sala, o discurso narrativo é expressão poética de uma
imagem epifânica: não há marcação de tempo, espaço e movimento, a não
ser aquela propiciada por algum distanciamento da memória que fala do
desconcerto do rapaz; no mais, apenas a descrição da beleza da professora,
do que está para além da beleza e é acionado por ela; um dizer que gira em
torno de um centro misterioso, como Wolfgang Kayser definiu o lírico.11
Assim, em poucas frases o amador vai tomando o lugar da coisa amada e,
da beleza epifânica do outro, o discurso passa a penetrar a interioridade do
próprio narrador e falar do vazio que a imagem preenche; para dizer com
suas palavras, naquele momento “descobria que era ela que eu havia
procurado todo aquele tempo, a coisa decisiva, a mais importante, a que
daria sentido a todas as outras”.12 Assim, o pensamento vai preenchendo
de metáforas, metonímias e outras figuras mais o espaço agora ocupado
11
Cf. KAYSER, Wolfgang. “A estrutura do gênero”. Análise e interpretação da obra literária. Trad. de
Paulo Quintela. 7. ed. Coimbra: Arménio Amado, 1985, p. 380. Além do ensaio de Kayser, utilizo também
na definição da voz lírica os ensaios de Emil Staiger, “Estilo lírico: a recordação”. Conceitos fundamentais
da poética. Trad. de Celeste Aída Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975; e Anatol Rosenfeld, “A
teoria dos gêneros”. O teatro épico. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1985.
12
VILELA, Luiz. Tremor de terra. 5. ed. São Paulo: Ática, 1977, p. 115.
158 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
pelo ser até então inexistente. O resto é a angústia pela espera da aula na
noite do terceiro dia.
O segundo segmento do conto começa quando volta a vê-la na aula
seguinte, e se estende quase até o fim da narrativa, com algumas marcações
que mostram a narração sumariada de vários dias em que a viu, com quem
não falou, e cuja narração intensifica o desconcerto do aluno, cada vez mais
mergulhado na busca por compreender o sentido dessa ausência em sua
vida.
Há dois aspectos que se destacam mais claramente nesse momento
da voz narrativa: de um lado, seu lugar social; de outro, a significação que
aquela imagem ganha nesse mergulho. A certa altura, depois de perceber
que não pensava em sexo com relação à professora, se pergunta: “Bolas, se
não era sexo, o que que eu queria com ela? O que que eu queria: era isso
que eu me perguntava. E eu não sabia responder”.13 Desse fato, o narrador
passa a responder a todas as imposições que sente na vida, num universo
opressivo cheio de papeis e expectativas, momento em que a linguagem
lírica cede mais ao prosaísmo do período, para falar abertamente da vida
sexual, reduzida a preconceitos e encontros de prostíbulo, para falar ainda
mais em sua solidão.
Opondo-se a essa condição, a misteriosa e cotidiana professora vai
cada vez mais ganhando uma significação extensa em seu imaginário, em
belos momentos de um estilo reiterativo, adicionando imagem sobre
imagem, metáfora a metáfora, que acabam por configurar a sua fragilidade
diante de um sol indiferente e perfeito, que aqueceu o primeiro ser da Terra
e aquecerá o lírico narrador, quando este for apenas um punhado de terra
na sepultura. É justamente nesses momentos que a linguagem poética do
autor melhor se mostra, sem abrir mão do prosaico que a ela se mistura,
para dizer a beleza que emerge do chão a que o narrador está preso. E toda
a significação da figura aparece sintetizada na imagem sublime e selvagem
que dá título ao conto — o tremor de terra —, que o narrador deseja
ardentemente desde criança, que esperava acontecer um dia como as
outras crianças esperavam pelo Papai Noel.
Na última e breve sequência do conto, ocorre o desfecho da história,
quase sem desfecho: o aluno segue a professora, com quem nunca
conversou, na sua caminhada até a casa, ao lado do marido, ambos belos e
felizes. Passa por um bordel, como última tentativa frustrada de preencher
o vazio descoberto, que ele sabe que o acompanhará pela vida afora, ainda
que esteja ao lado de “Sônia ou Lúcia ou Marta ou Regina ou Beatriz ou
Marisa”.14
Na releitura do conto, lembrei-me da novela de Raymond Radiguet,
O diabo no corpo (1923), lida na mesma época em que li o volume de contos
13
Idem, ibidem, p. 119.
14
Id., ib., p. 122.
159 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
de Vilela. Se a memória não estiver ficcionalizando a lembrança das
leituras, diria que há muita proximidade entre as questões tratadas no
conto e na novela, salvo, é claro, a distância que os separa no tempo. É que
da mesma forma que ocorre na novela de Radiguet, no conto de Vilela mais
do que o diabo estar no corpo, ele está nas palavras. Dessa forma, o conto
não conta uma história de amor, uma aprendizagem amorosa; conta na
verdade uma aprendizagem literária, a formação de um escritor que tem
no conto a sua profissão de fé: preencher de palavras o vazio deixado pela
imagem materna da professora, antes que o tempo — para aproveitar o
motivo central do conto —, com ou sem tremor, o preencha de terra.
b) Narrador confidente
Outra voz lírica presente na obra está em “Françoise”, conto de Tarde
da noite (1970), que recebeu uma adaptação para um curta-metragem
dirigido por Rafael Conde em 2001, tendo no papel principal a boa atriz
Débora Falabella. O conto é muito marcante na obra de Luiz Vilela, ficando
na memória de seus leitores como um dos mais significativos desse lirismo
que dá feição a seu universo. Todo ele praticamente é a expressão
espontânea de uma garota de dezessete anos num diálogo casual com o
narrador que está de passagem numa rodoviária. E é na fala dessa
personagem que se manifesta o lirismo a que nos referimos, mas que se
constrói com todos os elementos estruturais que compõem a breve
narrativa.
O primeiro aspecto que estrutura o lirismo está na figura do narrador
e sua relação com a insólita e graciosa personagem. Todo o peso do conto
está em Françoise, cuja fala praticamente ocupa a narrativa e corrobora um
dos lugares-comuns da crítica sobre o autor, a saber, sua decantada
vocação para o diálogo. Assim, se Françoise dá nome ao conto e é sua
protagonista, o narrador fica na condição de testemunha, um Eu que antes
de tudo sabe ouvir e a quem a estranha personagem intuitivamente
reconhece como um igual. Ou seja, arma-se uma identificação inicial que
está em muitos contos do autor, com o narrador discreto, retraído, que ama
ocultar-se — para falar com o verso de Drummond —, disposto a ouvir e
receber o halo de ternura dos estranhos que se reconhecem íntimos;
dizendo de outro modo, Françoise e o narrador formam uma identidade
visível, com a diferença de que a inocência da garota é a contraface do
narrador marcado pelos dados da experiência: se o discurso da garota é
expressão de sua solidão (comentaremos os motivos depois), o do narrador
não o é menos, pois viaja à noite sozinho, vem de longe e vai para longe,
marcado portanto pelo signo da passagem e do provisório; e as dores da
vida que Françoise não entende — a falta que ama — parece ecoar no
cansaço do sujeito, na companhia de seus poetas preferidos, o que o
160 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
aproxima de Beto, o irmão e mentor de Françoise, identidade reconhecida
pela própria garota ao dizer que, como o irmão, o narrador também a faz
rir. Fica cada vez mais evidente que este ocupa o lugar vazio deixado pelo
pai e pelo irmão (supostamente em viagem), com a diferença de que se Beto
ensina a irmã a ser livre na sua fantasia, para escapar ao pragmatismo do
cotidiano representado pelo tio, não deixa de mostrar sua face jovem ao
brigar com a irmã; nesse sentido, parece que o estranho de passagem
conjuga a figura do irmão — pois também reconhece a sabedoria dos
loucos — e a maturidade da figura do pai, com a notação da barba
funcionando como índice dessa madureza.
Dos motivos que preenchem a conversa, chamo atenção brevemente
para três deles que estão ligados ao que se disse até agora: o fascínio pelas
palavras, com o trocadilho criado pelo irmão da garota, o que alimenta e
se alimenta da poesia como forma de suportar a realidade desencantada; é
significativo que a garota seja fascinada pelos ônibus que chegam ou
partem para Lindoia, não a cidade turística, mas aquela que ficou gravada
na memória com o canto nostálgico da mãe; mais do que isso, o lugar de
encontro em que a garota gosta de estar não deixa de mostrar também sua
condição propícia ao lírico — por mais prosaico que ele seja —, pois como
o aeroporto no poema de Bandeira, poeta da predileção do narrador, a
rodoviária do conto também dá lições de partir.
O segundo motivo da conversa entre os dois aparece na condição de
mulher da garota, pois fica evidente nas atitudes e pensamento do
preocupado tio a falta de liberdade de Françoise, bem como a falta de
perspectiva para o futuro já planejado pelo tio, sobretudo agora que o
irmão está ausente e o peso da repressão familiar recai somente em seus
ombros. Finalmente, o terceiro motivo que gostaria de mencionar, o desejo
de Françoise se tornar objeto, como ao olhar e identificar-se com a corrente
que separa o passeio dos passageiros, objeto sempre ali, sem as angústias
que a fazem transitar de um lado para outro, livre de desejo e memória.
O desfecho do conto ocorre com a entrada do tio em cena e sua figura
a um tempo paternal e autoritária: Françoise foge assustada, mas o
narrador é justo com ele, pois o velho cardíaco aparece cheio de
preocupações e zelo com a filha-sobrinha, cheio de amor e compreensão
com a garota. Mas a entrada do tio cria um problema agora para o leitor: o
desfecho do conto se dá com a explicação da suposta estranheza de
Françoise, que além de perder o pai sem conhecê-lo, a mãe aos nove anos,
ficou com “perturbação psíquica”15 já que Beto, seu irmão e guru, morreu
faz quase um ano num desastre, levando a garota a criar a fantasia da
viagem. Há um contraste visível no conto entre a cena protagonizada por
Françoise, na chave do diálogo lírico, e o final episódico protagonizado
15
VILELA, Luiz. Tarde da noite. São Paulo: Vertente editora, 1970, p. 109.
161 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
pela fala do tio, ao explicar o comportamento da garota. O peso da
explicação incomoda o leitor por duas razões: primeiro, pelo peso
naturalista da explicação, o rosário de sofrimentos da garota com a perda
da família e a perturbação mencionada; a segunda, pela própria explicação
em si; ou seja, ao fazer isso o conto retira a força misteriosa da figura central
e dá (ou tenta dar) peso ao drama relatado pelo tio. Não conheço as edições
recentes do livro e, por isso, não sei se o autor mexeu no texto, pois no curta
de Rafael Conde (salvo engano) não há menção ao desastre, apenas à
morte. Talvez valha a pena deter-se um pouco nessa questão que está
presente em outras narrativas do autor, pois é um traço marcante de sua
poética, isto é, o modo como Vilela termina seus contos.
c) Desfechos
Penso que há uma tensão na poética do autor, especialmente nesse
aspecto, que parece não ser apenas uma impressão: de modo geral, seu
conto se faz de maneira a mais desataviada possível, com uma
naturalidade realmente admirável; muito de seu prestígio junto à crítica e
aos leitores vem dessa capacidade de tornar o leitor uma espécie de
interlocutor de narradores e personagens tão próximos, falando sua
linguagem e compartilhando com ele uma mesma sensibilidade; nesse
sentido, os contos ganham muitas vezes certo ar de crônica, pela
simplicidade do todo, em que o leitor reconhece o cotidiano brasileiro mais
familiar, especialmente o da formação interiorana marcada pelo etos da
vida cordial e cristã. Também de modo geral, essa maneira de representar
a cena social leva para uma solução em tom menor, isto é, uma narrativa
cuja ação dramática se resolve sem o peso da peripécia. Mas em muitos
casos, o final tende a subir de tom, elevando a dramaticidade a diferentes
níveis de tensão, o que me parece nem sempre dar em bom resultado.
Dizendo de outro modo, em muitos contos há a impressão de que o autor
busca criar um final expressivo ou impactante, geralmente na chave de
alguma revelação ou, para citar o conto lido, de alguma explicação (é certo
também que a própria forma do conto é propícia a essa revelação).
Comentarei brevemente três casos em que aparece essa particularidade,
indo do mais carregado de peso dramático ao mais espraiado.
O primeiro caso é o do conto “Deus sabe o que faz”, de Tremor de
terra. Como se recorda o leitor, trata-se de uma história bastante curta
(coisa de uma página), narrada numa única frase sem ponto, apenas com a
conjunção aditiva fazendo a marcação sintática e temporal das ações, o que
dá ao conto um ímpeto muito grande, criando o efeito de precipitação dos
acontecimentos, como se de fato houvesse uma condenação trágica para a
personagem. O lugar-comum do título perpassa o conto todo, em chave
irônica, pois serve de consolação ao protagonista que nasceu pobre e cego,
162 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
mas que teve uma vida digna e respeitável como grande violonista,
amparando os pais na pobreza e sendo feliz ao lado da esposa numa
casinha modesta, enquanto o irmão criminoso e a irmã prostituta eram a
desgraça da família. A construção acumulativa e veloz das frases, com a
passagem rápida dos acontecimentos narrados de forma sumariada, leva à
revelação final das últimas linhas, quando ficamos sabendo que o
criminoso (já fora da cadeia) se apaixona pela cunhada e o cego, para não
ouvir o som dos beijos adúlteros na sala de casa, tocava na maior altura
possível, “até que as cordas rebentaram, até que ele rebentou o ouvido com
um tiro”.16 De forma expressiva, a voz do lírico nesse conto (que não se
ouve) começa pela música e termina num estampido.
Assim, a revelação final vira a frase decisiva do avesso; é um conto
muito marcante do momento em que foi publicado, como expressão dessa
geração de novos escritores vindos de uma classe média católica, e disposta
a jogar no lixo a mentalidade carola com a qual teve de conviver; para
perceber esse contexto de que se fala, basta pensar na canção antológica de
Chico Buarque — “Bom conselho” — lançada alguns anos depois do conto
de Vilela, em que vários provérbios são também virados do avesso, numa
tentativa de liquidar essa mentalidade conservadora. Mas o fato é que o
conto tem uma gravidade e uma herança naturalista que incomodam o
leitor; o acúmulo de negatividade (a cegueira do músico, a miséria da
família, o irmão alcoólatra e criminoso, a irmã adúltera e depois prostituta,
a esposa infiel), aliado ao grandiloquente da cena final, dá ao conto uma
camada de melodrama carregado de um pathos supostamente trágico que
se resolve, na verdade, de forma patética. Nesse sentido, difere do primeiro
conto lido — “Tremor de terra” — pois esse não trazia impacto algum no
final, cuja força dependia da manutenção da voltagem lírica da linguagem,
sem lançar mão de qualquer peripécia.
Caso intermediário se dá, por exemplo, com o conto “Bárbaro”, de
Tarde da noite. A oposição entre as vozes aqui é bastante clara – como a
figura dos dois irmãos no conto anterior —, mas agora feita na chave do
prosaico: os dois estudantes conversam num quarto de pensão ou
república (o conto é um grande diálogo), e um deles conta a história da
festa a que esteve no dia anterior; sua voz ocupa praticamente todo o conto,
do início ao fim, numa linguagem de um prosaísmo pesado, feito de gíria
e palavrões, traço marcante de boa parte da prosa dos anos 70, quando esse
tratamento despachado da linguagem era também um ato político. A
matéria da festa acompanha no mesmo nível a fala da personagem: é
simplesmente o caso de um grupo de amigos estudantes que vão a uma
festa na casa dos pais de um deles (que não está presente) e ficam
incomodados com a “caretice” da festa, de um ambiente a que não estão
16
VILELA, Luiz. Tremor de terra, p. 73.
163 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
acostumados, e resolvem já bem mais tarde “zoar” com o velho pai do
colega ausente, primeiro o embebedando e, depois, jogando-o no ridículo,
ao tentar fazê-lo se despir.
Assim, o conto todo é formado pela cena grosseira dos jovens de
classe média, numa linguagem igualmente grosseira. A oposição se dá
porque o interlocutor, ao lado de fazer uma ou outra pergunta
demonstrando interesse, em três oportunidades deixa ouvir sua voz ao
leitor, falando na chave da confidência: primeiro para dizer que abriu o
livro; depois para dizer que voltou ao livro e, finalmente, a mais
significativa das três, encerrando o conto ao repetir os clichês e
preconceitos do colega de quarto, num registro irônico da boçalidade do
outro. Nos três apartes junto ao leitor, as frases vêm entre parênteses, o que
indicia a voz subjetiva, recurso recorrente da lírica. Mas há o mesmo desejo
de criar o desfecho enfático, pois o que transparece é a solidão dessa
personagem de que vimos falando, num contraste que se quer expressivo
— mas longe do patético anterior — ao criar o efeito de impacto pela
oposição ostensiva das vozes: de um lado, a falastrice pesada e ininter-
rupta; de outro, a voz lírica literalmente sufocada.
Para o terceiro e último caso, quero fazer alguns comentários ao
conto “A moça”, de Lindas pernas (sem trocadilho). O conto se faz
exatamente em sentido contrário aos anteriores: trata-se agora de uma
história a que chamei anteriormente de causo urbano, pois aqui de fato se
conta uma história (o interesse está na história) no sentido que marcou a
própria noção de conto antes que a modernidade esvaziasse o enredo de
qualquer traço anedótico, curiosamente retomando um tema largamente
identificado com o realismo do XIX — o caso de adultério —, aqui tratado
numa chave contemporânea. Também diverso em relação aos anteriores,
não há agora o desejo do impacto ao final, nem da frase de efeito, nem da
explicação, ainda que o desfecho corra esse risco. Mas a força da revelação
se faz no âmbito da interioridade, de maneira discreta e sugestiva.
O conto é narrado por uma voz onisciente e neutra, no sentido de
não interferir na história com suas opiniões (o que não quer dizer que não
interfira de outros modos), mas cuja intenção primeira é a de ser um
observador interessado nos meandros da mente de suas personagens. Pela
própria distância que se impõe, o lirismo agora se torna também ele
discreto, feito mais de silêncio ou gesto que de palavra. O conto é narrado
numa única sequência, formada por duas cenas: a primeira se passa num
bar do Rio de Janeiro, onde Marialva, a moça do interior do Brasil, espera
pelo marido que foi resolver um problema bancário, para voltarem a
desfrutar a lua-de-mel na Cidade Maravilhosa. Enquanto espera é
observada com insistência pela moça do título, cuja beleza impressiona
Marialva que, depois de abordada, sente-se constrangida pela
superioridade e segurança da outra (que fuma, mora sozinha, dirige seu
164 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
LITERATURA E SOCIEDADE | Nº 29 | P. 150-165 | JAN/JUN 2019
automóvel, paga suas contas); intimidada, fascinada e aos poucos
compreendendo as motivações da outra, resolve fugir do lugar, assim que
o marido aparece, e a quem recrimina, agastada com a demora. Ao
voltarem para o hotel, a jovem esposa insiste com o marido para
continuarem os dias de passeio em outra cidade, numa decisão brusca e
inexplicável. Na segunda cena, já no quarto de hotel, ocorre a revelação
para Marialva que, enquanto o marido toma banho, se despe diante do
espelho e, ao se despir, começa a reconstituir a cena do bar, ou mais
propriamente, a figura sedutora, cedendo ao mistério, ao impulso
desconhecido com a lembrança viva do toque da outra em seu colo. Mais
uma vez surpreende o marido, ao ter mudado de ideia e querer ficar no
Rio mesmo, abraçando-o “enquanto seu pensamento voava cheio de
expectativa para outra pessoa, longe dali, num outro ponto da cidade”.17
Assim, em duas breves cenas ocorre o efeito transformador e
revelador que a sedução da estranha causa na protagonista, em tudo
diferente da outra e, também por isso, cedendo a seu encanto. Diferente
também dos demais, o lirismo aqui é antes expressão de júbilo, promessa
de felicidade, do que de uma sensibilidade nostálgica ou melancólica que,
até certo ponto, sugeria o comportamento anterior de Marialva. Em contos
como esse, o final parece descer de tom quase a um ritmo “pianíssimo”,
conforme a conhecida definição de Tchekhov para seus contos e peças.18
Sendo assim, não deixa de ocorrer uma revelação, curiosamente aliada a
uma peripécia pela mudança da ação no seu contrário; mas ambas —
revelação e peripécia — tratadas naquela chave da tensão interiorizada,
sem querer impactar o leitor. O narrador acompanha discretamente os
movimentos da subjetividade de sua personagem, até o momento em que
o desejo que aflora faz nascer um lirismo que se mostra de maneira discreta
e secreta.
São alguns dos modos de se manifestar o lírico na narrativa de Luiz
Vilela — certamente já abordados pela crítica do escritor — que construiu
uma das mais coesas obras da contística brasileira contemporânea.
Ariovaldo Vidal é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada
(DTLLC), da Universidade de São Paulo. Publicou os livros Roteiro para um narrador (2000), Leniza
& Elis (2002) em parceria, e Atando as pontas da vida (no prelo). Trabalha com a prosa brasileira
moderna, a poesia brasileira do mesmo período, bem como com as relações entre literatura e
cinema, procurando compreender a poética do autor em suas implicações com a tradição literária
e a matéria social. Contato: ari.vidal@usp.br
17
VILELA, Luiz. Lindas pernas. São Paulo: Livraria Cultura Editora, 1979, p. 114.
18
Cf. ANGELIDES, Sophia. A.P. Tchekhov: cartas para uma poética. São Paulo: Edusp, 1995, p. 192.
165 | D O S S I Ê : AMÉRICA LATINA ENTRE OS ANOS 50 E 60 – Novos Olhares
Você também pode gostar
- Literatura e Sociedade 2019Documento263 páginasLiteratura e Sociedade 2019alamedaitu100% (1)
- Literatura ContemporâneaDocumento30 páginasLiteratura ContemporâneaCarlos Lerina75% (4)
- Guia de leitura: 100 autores que você precisa lerNo EverandGuia de leitura: 100 autores que você precisa lerLéa MasinaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Resistência Na Literatura Brasileira ContemporâneaDocumento7 páginasResistência Na Literatura Brasileira ContemporâneaMatheus Muller100% (1)
- Portugues Clio 2019Documento9 páginasPortugues Clio 2019Leandro CardosoAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira Do Início Do Século XX Pré-Modernismo 2Documento19 páginasLiteratura Brasileira Do Início Do Século XX Pré-Modernismo 2renzo.logan100% (1)
- Modernismo 2a Fase 30 A 45Documento66 páginasModernismo 2a Fase 30 A 45francisco3antonio7Ainda não há avaliações
- A Hora Da EstrelaDocumento27 páginasA Hora Da EstrelaMarta Cavalcante FerreiraAinda não há avaliações
- Pré ModernismoDocumento4 páginasPré ModernismoNatália ConceiçãoAinda não há avaliações
- Euclides Da Cunha Entre A História e A Poesia: Danton, Marat, Robespierre e Saint-Just Nas Ondas Euclidianas - Márcio MoraesDocumento15 páginasEuclides Da Cunha Entre A História e A Poesia: Danton, Marat, Robespierre e Saint-Just Nas Ondas Euclidianas - Márcio MoraesMárcio Adriano MoraesAinda não há avaliações
- Artigo Cruz e Souza Regina ZilbermanDocumento17 páginasArtigo Cruz e Souza Regina Zilberman2206198OAinda não há avaliações
- Sergio RabeloDocumento5 páginasSergio RabeloingridAinda não há avaliações
- Regina IgelDocumento5 páginasRegina IgelEva Lana100% (2)
- 4 - Astrojildo Negro e Branco Pobre, Tudo É EscravoDocumento21 páginas4 - Astrojildo Negro e Branco Pobre, Tudo É EscravoTayana Costa de SouzaAinda não há avaliações
- PDF 70Documento13 páginasPDF 70Delano ValentimAinda não há avaliações
- Trabalho 2º Fase Do ModernismoDocumento9 páginasTrabalho 2º Fase Do ModernismojhonathkAinda não há avaliações
- Lavadeiros, Padeiros e MarinheirosDocumento10 páginasLavadeiros, Padeiros e MarinheirosRenato RodriguesAinda não há avaliações
- Pré ModernsimoDocumento7 páginasPré ModernsimoRegina SouzaAinda não há avaliações
- Literatura ContemporâneaDocumento10 páginasLiteratura ContemporâneaAny Caroline SenaAinda não há avaliações
- 332 1353 1 PB PDFDocumento13 páginas332 1353 1 PB PDFeu_riqueAinda não há avaliações
- Pré - ModernismoDocumento2 páginasPré - ModernismoSamuel HenriqueAinda não há avaliações
- A Atuação de Cecília Meireles Na Imprensa BrasileiraDocumento11 páginasA Atuação de Cecília Meireles Na Imprensa BrasileiraAna M D OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura Infantil - Alves RedolDocumento18 páginasLiteratura Infantil - Alves RedolMaria José GonçalvesAinda não há avaliações
- Slides ContistassDocumento56 páginasSlides ContistassLemuel DinizAinda não há avaliações
- Cultura É o QueDocumento15 páginasCultura É o QueFabiana RuizAinda não há avaliações
- Literatura - TrabalhoDocumento9 páginasLiteratura - TrabalhoLETICIA NUNESAinda não há avaliações
- Alcantara MachadoDocumento13 páginasAlcantara MachadoMarcela TatajubaAinda não há avaliações
- Uma Situação Colonial (Paulo Emílio Sales Gomes) (Z-Library)Documento431 páginasUma Situação Colonial (Paulo Emílio Sales Gomes) (Z-Library)Gustavokw SantosAinda não há avaliações
- Pré ModernismoDocumento3 páginasPré ModernismoRenata BarrosoAinda não há avaliações
- Literatura BrasileiraDocumento6 páginasLiteratura Brasileiracheylacosta43Ainda não há avaliações
- Manuelzao e MiguilimDocumento13 páginasManuelzao e MiguilimRaquel SantosAinda não há avaliações
- Literatura - Aula 26 - Modernismo No Brasil - 3 FaseDocumento11 páginasLiteratura - Aula 26 - Modernismo No Brasil - 3 FaseLiterature Literatura93% (28)
- Uma Mulher Fora de Seu TempoDocumento8 páginasUma Mulher Fora de Seu Tempoalinice alves jardim lopesAinda não há avaliações
- O - Cortico - Objetivo Unicamp - 01122013Documento10 páginasO - Cortico - Objetivo Unicamp - 01122013Maria Inês Sabino GuimarãesAinda não há avaliações
- A Poesia Brasileira Como Testemunho Da Historia Rastros de Dor Tracos de Humor A Exemplo de ChacalDocumento20 páginasA Poesia Brasileira Como Testemunho Da Historia Rastros de Dor Tracos de Humor A Exemplo de ChacalMatthew HudsonAinda não há avaliações
- Geração de 45Documento27 páginasGeração de 45evily silvaAinda não há avaliações
- Slide - Pre-Modernismo e Modernismo 16-10-10 - LiterarteDocumento138 páginasSlide - Pre-Modernismo e Modernismo 16-10-10 - LiterarteJordyr Matheus100% (2)
- Texto 11. DALCASTAGNÈ, R. Renovação e Permanência - o Conto Brasileiro Da Última DécadaDocumento15 páginasTexto 11. DALCASTAGNÈ, R. Renovação e Permanência - o Conto Brasileiro Da Última DécadaFelipe SouzaAinda não há avaliações
- Realismo X Naturalismo TextoDocumento8 páginasRealismo X Naturalismo TextoManassés SilvaAinda não há avaliações
- A Literatura Como Arquivo Da DitaduraDocumento2 páginasA Literatura Como Arquivo Da DitaduraNalu AlineAinda não há avaliações
- Pre ModernismoDocumento17 páginasPre ModernismoMayla PrattAinda não há avaliações
- RomantismoDocumento9 páginasRomantismoLareskaAinda não há avaliações
- Literatura Resumo 40 50Documento9 páginasLiteratura Resumo 40 50Clayton BaroneAinda não há avaliações
- A Crítica Literária No Brasil (Wilson...Documento609 páginasA Crítica Literária No Brasil (Wilson...Tainá CavalieriAinda não há avaliações
- Orgia by Tulio Carella (Z-LibDocumento324 páginasOrgia by Tulio Carella (Z-Libarlindo souza netoAinda não há avaliações
- Surrealismo No Brasil em 10 LaudasDocumento12 páginasSurrealismo No Brasil em 10 LaudasdanieldeaguiarAinda não há avaliações
- Mário Faustino e Benedito NunesDocumento17 páginasMário Faustino e Benedito NunesgeisyydiasAinda não há avaliações
- Morte e Vida SeverinaDocumento7 páginasMorte e Vida SeverinaMaria ClaraAinda não há avaliações
- SUSSEKINDDocumento3 páginasSUSSEKINDThemis Rondão0% (1)
- O Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXDocumento20 páginasO Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXLeonardo MendesAinda não há avaliações
- Ligia Fonseca Luiz GamaDocumento22 páginasLigia Fonseca Luiz GamaIsabella FerraroAinda não há avaliações
- O Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXDocumento20 páginasO Naturalismo Na Livraria Do Seculo XIXLeonardo MendesAinda não há avaliações
- As Vozes Da Violência Tania PellegriniDocumento22 páginasAs Vozes Da Violência Tania Pellegrinirenatorocha171990Ainda não há avaliações
- 1696 7167 1 PBDocumento15 páginas1696 7167 1 PBheitortanusAinda não há avaliações
- Pellegrini As Vozes Da ViolênciaDocumento22 páginasPellegrini As Vozes Da ViolênciaFernanda AlvesAinda não há avaliações
- Reading Complex Texts Literature Education Presentation Green and White Free Hand StyleDocumento19 páginasReading Complex Texts Literature Education Presentation Green and White Free Hand Stylecarolina.videira.cruzAinda não há avaliações
- Segunda Geração Modernista o Romance Social de 1930Documento26 páginasSegunda Geração Modernista o Romance Social de 1930renzo.loganAinda não há avaliações
- O Lugar Da Literatura Na Sociedade Contemporânea em Da Inutilidade Da Poesia, de Antonio BrasileiroDocumento51 páginasO Lugar Da Literatura Na Sociedade Contemporânea em Da Inutilidade Da Poesia, de Antonio BrasileiroIslan SantosAinda não há avaliações
- O BufaloDocumento4 páginasO BufalosandreginaAinda não há avaliações
- Capítulo Narrativa de Jonathan CullerDocumento6 páginasCapítulo Narrativa de Jonathan CullerelderAinda não há avaliações
- Praticas Digitais em Educacao Musical EbookDocumento275 páginasPraticas Digitais em Educacao Musical EbookcmgarunAinda não há avaliações
- CULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma IntroduçãoDocumento70 páginasCULLER, Jonathan - Teoria Literária - Uma IntroduçãoLarissa Goulart100% (10)
- Budismo - Psicologia Do Auto ConhecimentoDocumento222 páginasBudismo - Psicologia Do Auto Conhecimentosonia_russin6315Ainda não há avaliações
- Poema em Prosa e Modernidade Lírica, Antônio Donizeti PiresDocumento10 páginasPoema em Prosa e Modernidade Lírica, Antônio Donizeti PiresIslan SantosAinda não há avaliações
- TextoDocumento18 páginasTextoJean Paul Costa SilvaAinda não há avaliações
- 2009 Unioeste Portugues Artigo Alice Soares Paranhos Da SilvDocumento23 páginas2009 Unioeste Portugues Artigo Alice Soares Paranhos Da SilvIslan SantosAinda não há avaliações
- A Metapoesia em Obras de Manoel de Barros, Júlio César Alexandre JúniorDocumento26 páginasA Metapoesia em Obras de Manoel de Barros, Júlio César Alexandre JúniorIslan SantosAinda não há avaliações
- Sobre A Noção de Ironia RomânticaDocumento14 páginasSobre A Noção de Ironia RomânticaIslan SantosAinda não há avaliações
- Uma Noção de Poeta, Letícia Pereira de AndradeDocumento18 páginasUma Noção de Poeta, Letícia Pereira de AndradeIslan SantosAinda não há avaliações
- Inclinações Da Metapoesia de Manoel de Barros, Wellington B. Da SilvaDocumento61 páginasInclinações Da Metapoesia de Manoel de Barros, Wellington B. Da SilvaIslan SantosAinda não há avaliações
- A Forma Do Paradoxo - SchlegelDocumento19 páginasA Forma Do Paradoxo - SchlegelRogério MattosAinda não há avaliações
- A Ironia e Suas Refrações - Um Estudo Sobre A Dissonância Da Paródia e Do Riso PDFDocumento209 páginasA Ironia e Suas Refrações - Um Estudo Sobre A Dissonância Da Paródia e Do Riso PDFRafaelAinda não há avaliações
- Você É Você - Personagem e Alteridade No Conto Françoise de Luiz Vilela-DesbloqueadoDocumento65 páginasVocê É Você - Personagem e Alteridade No Conto Françoise de Luiz Vilela-DesbloqueadoIslan SantosAinda não há avaliações
- Monografia Conceito de Critica de Arte Segundo Walter Benjamin PDFDocumento58 páginasMonografia Conceito de Critica de Arte Segundo Walter Benjamin PDFRoberto MedeirosAinda não há avaliações
- A Prosa de Luiz VilelaDocumento16 páginasA Prosa de Luiz VilelaIslan SantosAinda não há avaliações
- 4487 16339 2 PBDocumento13 páginas4487 16339 2 PBIslan SantosAinda não há avaliações
- Você É Você - Personagem e Alteridade No Conto Françoise de Luiz Vilela-DesbloqueadoDocumento65 páginasVocê É Você - Personagem e Alteridade No Conto Françoise de Luiz Vilela-DesbloqueadoIslan SantosAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre o Ciúme em Dom Casmurro e São BernardoDocumento11 páginasUm Estudo Sobre o Ciúme em Dom Casmurro e São BernardoIslan SantosAinda não há avaliações
- Antologia de Contos de Luiz Vilela Integra Lista Da Seleção de 2015Documento3 páginasAntologia de Contos de Luiz Vilela Integra Lista Da Seleção de 2015Islan SantosAinda não há avaliações
- A Retórica Da Escrita em Dom Casmurro e São BernardoDocumento17 páginasA Retórica Da Escrita em Dom Casmurro e São BernardoIslan SantosAinda não há avaliações
- 2009 Unioeste Portugues Artigo Alice Soares Paranhos Da SilvDocumento23 páginas2009 Unioeste Portugues Artigo Alice Soares Paranhos Da SilvIslan SantosAinda não há avaliações
- 4487 16339 2 PBDocumento13 páginas4487 16339 2 PBIslan SantosAinda não há avaliações
- Antologia de Contos de Luiz Vilela Integra Lista Da Seleção de 2015Documento3 páginasAntologia de Contos de Luiz Vilela Integra Lista Da Seleção de 2015Islan SantosAinda não há avaliações
- ASA - Entre As Palavras10 - Complemento Do Nome - 10ºDocumento8 páginasASA - Entre As Palavras10 - Complemento Do Nome - 10ºAntónia ManchaAinda não há avaliações
- Portugues GiseleDocumento3 páginasPortugues GiseleGisele Resende BevevinoAinda não há avaliações
- Gabarito O MEU GURIDocumento5 páginasGabarito O MEU GURIMarciano SouzaAinda não há avaliações
- Exercícios - EscansãoDocumento4 páginasExercícios - Escansãoevandro100% (1)
- História Da Literatura Brasileira - José - Veríssimo PDFDocumento381 páginasHistória Da Literatura Brasileira - José - Veríssimo PDFDébora Diones Esteves100% (2)
- Tipografia Dinâmica Contributo para A Compreensão Da Tipografia Como Expressão MultimédiaDocumento130 páginasTipografia Dinâmica Contributo para A Compreensão Da Tipografia Como Expressão MultimédiaBernardo EspindolaAinda não há avaliações
- Trabalho AlanaDocumento5 páginasTrabalho AlanaAlana ThaísAinda não há avaliações
- Teste Poesia 5º Fevereiro 15Documento5 páginasTeste Poesia 5º Fevereiro 15Sandra Sofia MaiaAinda não há avaliações
- Marleide Lins em Comprimidos, Minutos de PoesiaDocumento6 páginasMarleide Lins em Comprimidos, Minutos de PoesiaKelly Machado CarvalhoAinda não há avaliações
- 1 LP 2 Quinzena 3 CorteDocumento5 páginas1 LP 2 Quinzena 3 CorteCida MouraAinda não há avaliações
- Pensamento LinearDocumento3 páginasPensamento LinearMarcelo HenriqueAinda não há avaliações
- Livro - Foco e Enfoques LiteráriosDocumento301 páginasLivro - Foco e Enfoques LiteráriosEllen SantosAinda não há avaliações
- Conto Alvaro Magalhaes Limpa Palavras Ficha de PoesiasDocumento28 páginasConto Alvaro Magalhaes Limpa Palavras Ficha de Poesiasamrco44100% (5)
- Bruna Beber - CravoDocumento16 páginasBruna Beber - CravoDavi AraújoAinda não há avaliações
- Analise 2 Cartas ChilenasDocumento38 páginasAnalise 2 Cartas ChilenasHayane KimuraAinda não há avaliações
- Exercícios de Morfossintaxe IIDocumento4 páginasExercícios de Morfossintaxe IIInêzNerezAinda não há avaliações
- 1852 Job Traduzido em Verso Por José Eloy OttoniDocumento201 páginas1852 Job Traduzido em Verso Por José Eloy OttoniguttomelloAinda não há avaliações
- Cantigas de AmorDocumento5 páginasCantigas de AmorSofia RibeiroAinda não há avaliações
- A Farsa de Inês PereiraDocumento15 páginasA Farsa de Inês PereiramarieAinda não há avaliações
- Dicas Redação EnemDocumento2 páginasDicas Redação EnemPriscila Borges Ferreira PiresAinda não há avaliações
- PROVA Recuperação Módulo 12 Jan 14Documento4 páginasPROVA Recuperação Módulo 12 Jan 14Alice FerroAinda não há avaliações
- Cronograma Obras 2024Documento4 páginasCronograma Obras 2024Tulio FábioAinda não há avaliações
- Trabalho - Seminário Pré-ModernismoDocumento13 páginasTrabalho - Seminário Pré-ModernismoEnzo TomasAinda não há avaliações
- Livro de Exame - Mensagens 12ºDocumento49 páginasLivro de Exame - Mensagens 12ºAna Luisa GonçalvesAinda não há avaliações
- Teste12 - Pessoa Ortonimo e Alberto - CaeiroccDocumento8 páginasTeste12 - Pessoa Ortonimo e Alberto - CaeiroccJuliana RochaAinda não há avaliações
- MedeiaDocumento54 páginasMedeiaCarmo de Sousa50% (2)
- Leitura e Produção de Textos PDFDocumento55 páginasLeitura e Produção de Textos PDFCarla CristinaAinda não há avaliações
- Apostila Inglês Instrumental Ciências Da ComputaçãoDocumento62 páginasApostila Inglês Instrumental Ciências Da ComputaçãoPatrícia Argôlo RosaAinda não há avaliações
- André Malta - Crítica À Tradução de Trajano Vieira PDFDocumento7 páginasAndré Malta - Crítica À Tradução de Trajano Vieira PDFTiago da Costa GuterresAinda não há avaliações
- Nota de Aula ClassicismoDocumento8 páginasNota de Aula ClassicismoIsadora RibeiroAinda não há avaliações
- A Bíblia e sua família: Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhosNo EverandA Bíblia e sua família: Exposições bíblicas sobre casamento, família e filhosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3)
- Grandes mestres da humanidade: Lições de amor para a Nova EraNo EverandGrandes mestres da humanidade: Lições de amor para a Nova EraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (5)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNo Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (57)
- Vivendo de Propósito: Descubra seu Propósito em 10 Passos Simples e Tome as Decisões que Vão Mudar a sua VidaNo EverandVivendo de Propósito: Descubra seu Propósito em 10 Passos Simples e Tome as Decisões que Vão Mudar a sua VidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- As 5 linguagens do amor para homens: Como expressar um compromisso de amor a sua esposaNo EverandAs 5 linguagens do amor para homens: Como expressar um compromisso de amor a sua esposaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (7)
- Como ter o Coração de Maria no Mundo de Marta: Fortalecendo a Comunhão com Deus em uma Vida AtarefadaNo EverandComo ter o Coração de Maria no Mundo de Marta: Fortalecendo a Comunhão com Deus em uma Vida AtarefadaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Faça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNo EverandFaça o tempo trabalhar para você: e alcance resultados extraordináriosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- O cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNo EverandO cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (10)
- A experiência da mesa: O segredo para criar relacionamentos profundosNo EverandA experiência da mesa: O segredo para criar relacionamentos profundosNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (10)
- As cinco linguagens do amor - 3ª edição: Como expressar um compromisso de amor a seu cônjugeNo EverandAs cinco linguagens do amor - 3ª edição: Como expressar um compromisso de amor a seu cônjugeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (50)