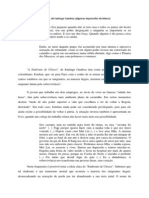Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Resiliência e Seus Desdobramentos - Complementar
A Resiliência e Seus Desdobramentos - Complementar
Enviado por
Jane SousaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Resiliência e Seus Desdobramentos - Complementar
A Resiliência e Seus Desdobramentos - Complementar
Enviado por
Jane SousaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
www.psicologia.
pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
A RESILIÊNCIA E SEUS DESDOBRAMENTOS:
A RESILIÊNCIA FAMILIAR
2014
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho
Estudante do curso de Psicologia do Centro Universitário Jorge Amado (UNIJORGE).
Salvador, BA, Brasil
E-mail de contato:
alex.gfilho@hotmail.com
RESUMO
Este artigo busca fazer um levantamento das ideias acerca do conceito de resiliência,
buscando perceber, ao longo de seu desenvolvimento, as variações do mesmo até observar seus
aspectos grupais e coletivos, objetivando identificar a construção do caráter familiar da
resiliência. A pesquisa foi feita por meio de revisão bibliográfica com artigos científicos de, no
máximo, quinze anos a contar de sua data de publicação. Durante o desenvolvimento da pesquisa
percebeu-se a escassez de trabalhos sobre o tema, tanto em sua forma geral quanto em suas
formas derivadas e buscou-se abranger o máximo de trabalhos possível, dentro dessa linha do
tempo, no que concerne ao conceito e suas derivações, apreendendo suas conceituações em todas
as suas nuances. Mas mesmo com a dificuldade em encontrar trabalhos sobre o tema foi possível
observar as condições básicas para a resiliência, a inexistência de sua correlação com classe
social ou inteligência e seu desenvolvimento ao longo da vida do indivíduo. Então, percebe-se a
necessidade de mais trabalhos na área sobre o assunto.
Palavras-chave: Resiliência, resiliência familiar, famílias e resiliência.
1. INTRODUÇÃO
O conceito de resiliência é um conceito relativamente recente e que causa divergências
teóricas para vários autores, suscitando tanto discordância completa como parcial. A resiliência
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 1 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
provoca discussões e debates quando é pensada individualmente e gera questionamentos quando
abordada em variados aspectos psicológicos, o que demonstra que não pode ser diferente quando
visto enquanto coletividade familiar.
A resiliência vem sendo investigada na psicologia como área de interesse e pesquisa há
aproximadamente 30 anos (Poletto e Koller, 2008; Rutter, 1981; 1985; 1993 apud Rooke, 2012).
Dessa forma, existe um consenso na literatura que o conceito de resiliência está associado a duas
condições básicas: uma situação adversa enfrentada, e uma resposta positiva diante do
sofrimento, ainda que o sofrimento influencie negativamente sobre a saúde e o desenvolvimento
do indivíduo. Além disso, a resiliência é entendida não somente como uma característica inata,
mas, sobretudo, uma interação dinâmica entre as características individuais e a complexidade do
contexto social, o que demonstra um caminho de investigação sobre a resiliência familiar,
explicitando que o contexto social tem influência direta no surgimento da mesma (Rooke, 2012).
A resiliência familiar retrata o sucesso no enfrentamento de situações adversas pelos
membros familiares, de acordo com Black e Lobo (2008 apud Rooke 2012), logo, isso implica
que esse conceito está baseado na convicção de que todas as famílias têm pontos fortes e
potenciais para o crescimento (Rooke, 2012). Podemos também afirmar que a resiliência familiar
envolve mais do que a simples administração de situações de adversidades e sobrevivência,
realçando a capacidade de utilizar esse construto para direcionar intervenções no campo da
prevenção da saúde com o intuito de apoiar e fortalecer as famílias vulneráveis em crise (Walsh,
1996, 2002 apud Rooke, 2012).
O presente trabalho busca encontrar as nuances sobre o conceito de resiliência já
estabelecidas na literatura e também as suas mudanças e desdobramentos, caso existam, até
encontrar um aspecto coletivo do mesmo que leve à coletividade familiar. Essa compreensão é
importante quando correlacionada à sua utilidade dentro da terapia familiar, para compreender
quais características de uma família a ajudam ou a vulnerabilizam para o enfrentamento de
adversidades, das mais rotineiras e comuns até as tragédias e dificuldades mais peculiares a cada
grupo.
É importante se compreender a resiliência no contexto familiar, pois ela traz a possibilidade
de fortalecimento de potencialidades e recursos das famílias para superação de crises e desafios
futuros, podendo auxiliar no desenvolvimento de características da pessoa diante do contexto de
risco ou situação adversa que auxiliem nesse processo (Rooke, 2012).
Dessa forma, aliando-se a essa compreensão, a terapia familiar pode estimular esse
desenvolvimento de características que fortalecem tanto o indivíduo como a família como um
todo a partir do momento que permite a ele se inserir em seu contexto familiar munido dessas
características e alterando-o à medida que ele se modifica.
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 2 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
A terapia familiar parte do pressuposto de que um indivíduo que modifica suas atitudes e
sua postura pode alterar inteiramente seu contexto familiar. Estendendo isso à resiliência
familiar, pode-se inferir que um indivíduo, dotado de determinadas características positivas
adquiridas em face à dor ou à adversidade, pode acabar por estimular ou criar mudanças em seu
contexto familiar, fazendo com que seus familiares adotem ou obtenham posturas ou
características semelhantes.
Então, surge o ponto de partida do trabalho, a pergunta-problema “Como o conceito de
resiliência surgiu e se modificou ao longo do tempo até chegar à coletividade familiar?”. Essa
pergunta tem o propósito de descrever possíveis desdobramentos do conceito de resiliência,
identificando a existência ou inexistência de um aspecto coletivo do mesmo, levando em
consideração a abordagem da terapia familiar sistêmica.
Uma vez que não é totalmente clara a caracterização do conceito de resiliência ao longo do
tempo e enquanto coletividade, nem suas mudanças e diferentes caracterizações, este estudo
permite construir novas reflexões e atualizações que podem contribuir para o debate a respeito do
conceito em questão.
Além disso, este trabalho pode ser útil socialmente, por buscar identificar um novo aspecto
do conceito de resiliência, que é passível de auxiliar na construção de conhecimento e discussões
sobre diferentes modalidades de terapias centradas em questões de catástrofes e calamidades.
Assim, o conceito de resiliência familiar seria de grande relevância na busca de resoluções para
estes desafios sociais enfrentados coletivamente.
2. METODOLOGIA
Segundo Minayo (1999), o tema de uma pesquisa indica uma determinada área de interesse
a ser investigada, sendo uma delimitação bastante ampla que, no presente trabalho, se determina
como resiliência familiar. A partir disso, o problema surge como um aprofundamento do tema,
através de estudos preliminares, individualizado e específico, segundo a mesma autora.
A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, desenvolvida a partir de “material já
elaborado, constituído de livros e artigos científicos” (Gil, 2008, p. 50), por meio de artigos
encontrados em sites especializados em publicações do gênero, como Scielo e Biblioteca Virtual
de Saúde, e livros que abordem o tema para estruturar a pesquisa.
As palavras-chave utilizadas foram “resiliência”, “resiliência familiar”, “terapia familiar e
resiliência”, “resiliência e famílias” e “psicologia e resiliência”. O espectro temporal
contemplado foi de quinze anos, com artigos que tem, no máximo, esse mesmo tempo desde sua
data de publicação até a data presente.
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 3 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
3. RESILIÊNCIA
A palavra resiliência geralmente é utilizada para se referir à superação de momentos ou
situações difíceis e principalmente a capacidade do indivíduo de enfrentar essas situações e
outras adversidades, bem como ser transformado por elas (Yunes, 2003; Pinheiro, 2004).
No Brasil, o uso do conceito de resiliência é recente. O dicionário Michaelis (1998), define
a palavra resiliência como “ato de retorno de mola; elasticidade; ato de recuar (arma de fogo);
coice; poder de recuperação; trabalho necessário para deformar um corpo até seu limite elástico”
(p. 1826), não dando nenhum espaço à outra significação da palavra. No dicionário Houaiss
(2008), já surge a definição no sentido figurado, como “capacidade de se recobrar ou de se
adaptar à má sorte, às mudanças” (p. 649).
Melillo (2005, p. 15) define a resiliência como sendo “a capacidade humana para enfrentar,
vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências de adversidade”, postulando ainda que
a maioria das definições de resiliência são variações dessa. O mesmo autor também afirma que a
resiliência tem como papel desenvolver a capacidade humana de enfrentar, vencer e sair
fortalecido de situações adversas, ficando transformado.
Melillo (2005) também afirma que um dos primeiros elementos que aparecem na literatura
desses últimos anos é o acordo explícito entre os especialistas em resiliência, de que há duas
gerações de pesquisadores. A primeira, dos anos 1970, procura identificar os fatores de risco e de
resiliência que influem no desenvolvimento de crianças que se adaptam positivamente, apesar de
viverem em condições de adversidade. Enquanto que a segunda, dos anos 1990, foca no estudo
da dinâmica entre fatores que estão na base da adaptação resiliente (Melillo, 2005).
Para Yunes (2003 apud Pinheiro 2004), a resiliência é um fenômeno que procura explicar
os processos de superação de adversidades, mas não se confunde com invulnerabilidade, pois não
é uma resistência absoluta às adversidades. Para Flach (1991, apud Pinheiro, 2004) o uso do
termo vem de 1966, visando descrever as forças psicológicas e biológicas exigidas para
atravessar com sucesso as mudanças na vida, e sua ideia é que o indivíduo resiliente tem
habilidade para reconhecer a dor, perceber seu sentido e tolerá-la até resolver os conflitos de
forma construtiva para si mesmo.
Autores mais recentes da segunda geração de pesquisadores entendem resiliência como um
“processo dinâmico em que as influências do ambiente e do indivíduo interatuam em uma relação
recíproca, que permite à pessoa se adaptar, apesar da diversidade” (Melillo, 2005, p. 25). A maior
parte dos pesquisadores dessa mesma geração simpatizam com o modelo ecológico-transacional
de resiliência, com bases no modelo ecológico de Bronfenbrenner. Esse modelo parte do
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 4 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
pressuposto de que o indivíduo está inserido em uma ecologia determinada por diferentes níveis
inter-atuantes entre si que contribuem para o desenvolvimento humano (Melillo, 2005).
Tavares (2001) apud Pinheiro (2004) definiu o conceito psicológico de resiliência como
sendo a capacidade das pessoas, individualmente ou em grupo, resistirem a situações adversas
sem perder o seu equilíbrio inicial. Alguns teóricos reconhecem a resiliência como um fenômeno
comum ao desenvolvimento de todo ser humano (Masten, 2001 apud Yunes, 2003), enquanto
outros aconselham cautela ao uso “naturalizado” do termo (Martineau, 1999; Yunes, 2001 apud
Yunes, 2003).
Os precursores do conceito de resiliência são os termos “invulnerabilidade” e
“invencibilidade” (Yunes, 2003). Contudo, Ralha-Simões (2001 apud Pinheiro 2004), destaca
que:
(...) não se trata de uma espécie de escudo protetor que alguns indivíduos possuiriam,
explicitando que essa ideia não condiz com os conceitos precursores supracitados, mas sim uma
possibilidade de flexibilidade interna que os permite interagir com êxito, modificando-se de
forma produtiva e adaptativa, em face ao mundo exterior e suas adversidades. (p. 70).
Resiliência e invulnerabilidade não são termos equivalentes, segundo Zimmerman e
Arunkumar (1994, apud Yunes 2003). De acordo com eles, resiliência é uma habilidade de
superar as adversidades que não implica no indivíduo sair ileso da crise pela qual passou. Ainda
assim, essa ideia mais inicial de resiliência enquanto invulnerabilidade, apesar da discordância de
vários autores, é que sustentou e ainda orienta a produção científica da área.
Outros teóricos acreditam que flexibilidade e versatilidade são características do indivíduo
resiliente, enquanto outros vêem a resiliência como traço de personalidade, chegando até a
questionarem-se se a resiliência seria uma característica inata ou se surgiria da interação com o
ambiente (Flach, 1991; Garmezy, 1985; Wolin, 1993 apud Pinheiro, 2004).
Um resumo dos conceitos de resiliência foi feito por Kotliarenco (1997 apud Melillo,
2005), em que se pode sintetizar que as diferentes definições enfatizam determinadas
características do sujeito resiliente, tais quais “habilidade, adaptabilidade, baixa suscetibilidade,
enfrentamento efetivo, capacidade, resistência à destruição, condutas vitais positivas,
temperamento especial e habilidades cognitivas”, sendo que todas são desenvolvidas durante
situações adversas e estressantes da vida, e que permitem ao indivíduo atravessá-las e superá-las
(p. 61).
Um ponto em comum entre as diferentes descrições é que o processo psicológico da
resiliência se desenvolve ao longo da vida, principalmente levando em conta os fatores de risco
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 5 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
(eventos estressantes, ameaças e etc.) comparados com os fatores de proteção (forças,
competências e etc.), que definirão para qual lado o sujeito se inclina mais: se o da
vulnerabilidade ou da resiliência (Trombeta e Guzzo, 2002 apud Pinheiro, 2004).
Um aspecto apontado por Melillo (2005) é que:
(...)a resiliência se produz em função de processos sociais e intrapsíquicos. Não se nasce
resiliente, nem se adquire a resiliência “naturalmente” no desenvolvimento: depende de certas
qualidades do processo interativo do sujeito com outros seres humanos, responsável pela
construção do sistema psíquico humano (p. 61).
Outra observação muito importante realizada por Melillo (2005) é a de que “todos os
sujeitos que se tornaram resilientes tinham pelo menos uma pessoa (familiar ou não) que os
aceitara de forma incondicional, independentemente de seu temperamento, aspecto físico ou
inteligência” (p. 62). Dessa forma, a existência ou inexistência de resiliência em um indivíduo
dependerá da interação dele com seu entorno humano (Melillo, 2005).
Assim, nota-se como o surgimento da resiliência é resultado, também, de uma interação, da
relação do sujeito com seu entorno humano (Melillo, 2005). Sem essa relação a criança não
conseguiria sua condição de ser humano, em primeiro lugar, como relatado por MacLean (1977,
apud Melillo, 2005):
MacLean (1977) relatou o caso de duas crianças que, em 1922, numa aldeia bengali, foram
resgatadas de uma família de lobos que as tinha criado, longe de todo contato humano. A maior
tinha 8 anos e a menor, 5; esta logo faleceu e a maior viveu dez anos junto com outros órfãos. As
crianças não andavam sobre os dois pés e, sim, de quatro, rapidamente. Tinham hábitos noturnos,
rechaçavam o contato humano e preferiam estar com os cachorros ou com os lobos. Não falavam
nem mostravam expressões nos rostos. Eram sadias e sua separação dos lobos lhes produziu uma
profunda depressão, inclusive a morte da menor. A família que cuidou da sobrevivente nunca a
sentiu verdadeiramente humana, mesmo que tenha aprendido a caminhar como humano e a falar
algumas palavras. Viveu somente dez anos mais. A conclusão é que careceram do contato
humano inicial para serem verdadeiramente humanas em suas condutas, que, por outro lado,
seriam normais se elas fossem pequenas lobas (p. 66, nota de rodapé).
Isso explicita como o contato humano é primordial para o desenvolvimento, o que permite
uma compreensão maior de que não poderia deixar de ser semelhante no que diz respeito a uma
característica tão singular e formidável dos seres humanos como a resiliência, em que o ser
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 6 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
necessita do contato com determinada figura de referência para que isso o impulsione ao
desenvolvimento.
Alguns atributos importantes considerados os “pilares da resiliência”, identificados nos
sujeitos resilientes e que também serão discutidos posteriormente no que diz respeito à resiliência
comunitária, são apresentados por Suárez Ojeda (1997, apud Melillo, 2005, pag. 62 e 63). Entre
eles estão:
a) Introspecção: arte de se perguntar e se dar uma resposta honesta.
b) Independência: saber fixar limites entre si mesmo e o meio com problemas; capacidade
de manter distância emocional e física, sem cair no isolamento.
c) Capacidade de se relacionar: habilidade para estabelecer laços e intimidade com outras
pessoas (...).
d) Iniciativa: gosto de se exigir e se por à prova em tarefas progressivamente mais
exigentes.
e) Humor: encontrar o cômico na própria tragédia.
f) Criatividade: capacidade de criar ordem, beleza e finalidade, a partir do caos e da
desordem.
g) Moralidade: consequência para estender o desejo pessoal de bem-estar a toda a
humanidade e capacidade de se comprometer com valores (...).
h) Auto-estima consistente: base dos demais pilares e fruto do cuidado afetivo consequente
da criança ou adolescente por parte de um adulto importante.
Tais atributos são adquiridos ao longo do desenvolvimento, dessa forma Melillo (2005)
destaca a relação entre resiliência e desenvolvimento humano, afirmando a importância de
realizar uma contextualização da mesma de acordo com as etapas desse processo para ter um
guia a respeito do procedimento da resiliência em cada etapa desse processo.
As primeiras pesquisas em resiliência trataram principalmente de identificar os fatores e as
características das crianças que viviam em condições adversas e eram capazes de superá-las e de
aprender com elas, diferenciando-as de outras crianças que viviam em situações semelhantes,
mas que não conseguiam vencer ou enfrenta-las de forma positiva. Identificou-se o papel do
desenvolvimento humano e dos fatores de gênero na capacidade de ser resiliente. Meninas
tendem a ter mais força interna e facilidade de relações interpessoais e meninos tendem a ser
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 7 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
mais pragmáticos, apesar de ambos terem a mesma frequência de condutas resilientes (Melillo,
2005).
A resiliência não se correlaciona com o nível socioeconômico, como mostra Melillo
(2005), ao realizar um estudo no ano de 1999 em 27 lugares de 22 países diferentes, que
demonstrou não existir relação determinante entre estes dois fatores. Melillo (2005, p. 18) afirma
que “a pobreza é uma condição inaceitável, mas não impede o desenvolvimento da resiliência”.
George Vsillant e Timothy Davis (2000, apud Melillo, 2005) apresentaram evidências
longitudinais de que não há nenhuma relação entre inteligência e resiliência ou de classe social e
resiliência.
Percebe-se uma consonância em determinados momentos, em que a maioria dos autores
entende que a resiliência não é uma invulnerabilidade ou resistência absoluta a uma adversidade,
e também que o indivíduo, mesmo sendo resiliente, não sai dessa mesma adversidade
completamente ileso. Além disso, é importante ressaltar a inexistência de correlação observada
entre resiliência e inteligência, bem como da resiliência e classes socioeconômicas. Essas
observações apontam um aspecto muito relevante ao demonstrar que o conceito não pode ser
enxergado ou utilizado como algum tipo de mecanismo de segregação, em que pessoas de classes
mais desfavorecidas possuiriam, por viverem em situações que implicam adversidades e
dificuldades, ou que, inversamente, pessoas de classes mais privilegiadas economicamente a
teriam devido ao seu acesso facilitado à educação de maior qualidade.
4. A TERAPIA FAMILIAR
A Terapia Familiar Sistêmica surge como uma mudança de paradigma nas ciências naturais
e sociais à medida que se percebe como os fenômenos são contextualizados, ou seja, estão
organizados em sistemas em constante movimento e inter-relacionados, de tal modo que qualquer
alteração em um sistema provoca alterações nos demais, rompendo com a ideia de um mundo
objetivo a ser comodamente observado pelo cientista de forma neutra e imparcial. Dessa forma, o
terapeuta deve compreender a família como um sistema e se unir a ela, formando um sistema
terapêutico, em que ele participa e atua como um observador comprometido, a partir de suas
próprias convicções (Piszezman, 2006).
A queixa é enxergada e abordada, então, como o sintoma de alguma disfunção do sistema
familiar, sendo transformado em um problema para a família, com base na concepção de que as
doenças mentais são o produto de uma relação insatisfatória entre os membros da família
(Piszezman, 2006).
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 8 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
Mudando a posição dos membros da família nesse sistema, o terapeuta modifica as
exigências subjetivas de cada um, pois as mudanças em uma estrutura familiar contribuem para
uma mudança no comportamento e nos processos psíquicos internos dos integrantes do sistema.
(Piszezman, 2006). Esse é o aspecto que justifica a atuação do terapeuta na promoção da
resiliência, em que ele buscará realçar as características dos indivíduos para que isso atue dentro
do sistema familiar, levando em consideração os pilares da resiliência descritos anteriormente,
ele poderá perceber e criar estratégias facilitadoras de sua ocorrência, tanto na perspectiva da
família quanto de grupos de indivíduos.
Nessa perspectiva, a função do terapeuta é ajudar o paciente e a família, facilitando a
transformação do sistema familiar unindo-se a ela em uma posição de liderança, descobrindo e
avaliando a estrutura familiar subjacente e criando circunstâncias que permitirão a transformação
dessa estrutura. O resultado é uma família transformada de forma significativa para todos os
membros, principalmente o paciente identificado, que é liberado de sua posição desviante
(Piszezman, 2006).
Isso pode ser utilizado como uma estratégia para o desenvolvimento da resiliência em
diversos contextos, seja para um paciente atendido individualmente, dentro de seu contexto de
vida, ou um caso de terapia familiar ou de casal, realçando as características necessárias para esse
desenvolvimento.
5. RESILIÊNCIA COMUNITÁRIA E RESILIÊNCIA FAMILIAR
Outro aspecto é a resiliência comunitária, que se origina do fato de que a maior utilidade do
conceito advém dos países em desenvolvimento, principalmente da América Latina, que têm as
zonas mais pobres e dominadas pela miséria. Alguns pensadores chegaram a elaborar uma teoria
latino-americana da resiliência, com enfoques mais adequados a essa realidade social. Além
disso, inúmeras instituições incorporam o conceito de resiliência, tanto implícita quanto
explicitamente, principalmente na área da saúde e educação (Melillo, 2005).
A partir disso, identificam-se os “pilares da resiliência comunitária”, que consistem em
“auto-estima coletiva” (um sentimento de orgulho pelo lugar em que se vive), “identidade
cultural” (persistência do ser social em sua unidade e identidade nas mudanças e circunstâncias
diversas), “humor social” (capacidade dos grupos de encontrar o humor na própria tragédia) e
“honestidade estatal” (manejo decente e transparente da “coisa pública). Essas características
sociais não são as únicas que favorecem a resiliência comunitária, mas são as mais significativas
(Melillo, 2005).
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 9 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
Há também as características, ou condições, que reduzem a resiliência comunitária ou
inibem a capacidade solidária de reação diante da adversidade coletiva, que são descritas como
“malinchismo”, que seria uma admiração obcecada por tudo que é estrangeiro, que se opõe aos
valores de auto-estima coletiva e identidade cultural; “fatalismo”, entendido como passividade
em face às adversidades; “autoritarismo”, como inibidor da capacidade de lideranças espontâneas
para lidar com as crises coletivas, e a “corrupção”, subentendida como o interesse privado dos
funcionários públicos que se sobrepõe ao interesse público, mesmo na prática cotidiana em
pequena escala (Melillo, 2005).
Da mesma forma que os pilares que favorecem a resiliência comunitária, a lista de fatores e
condições que tem o efeito contrário também poderia ser maior, mas foram observados os
aspectos mais recorrentes e que têm maior transcendência no que diz respeito ao
desfavorecimento da resiliência comunitária (Melillo, 2005).
Perceberemos a seguir que há características semelhantes no que diz respeito à construção
do conceito de resiliência familiar, em que as mesmas reforçam ou facilitam a existência do
comportamento resiliente em famílias. Logo, tendo em vista que o desenvolvimento do conceito
de resiliência é recente, pode-se afirmar que essa construção da resiliência familiar é tão recente
quanto, senão mais. Dos estudos baseados no indivíduo, poucos consideram o aspecto familiar na
construção do conceito (Yunes, 2003).
Um dos primeiros trabalhos deste tipo foi realizado por McCubbin e McCubbin (1988,
apud Yunes, 2003) e era a “tipologia de famílias resilientes”, que partia da definição de que
famílias resilientes são as que resistem aos problemas decorrentes de mudanças e adaptam-se às
situações de crise. Os autores buscaram identificar características das famílias que as ajudassem a
lidar com situações adversas, desde tragédias até simples transições naturais no ciclo de vida.
Chegaram, então, a quatro tipos de famílias como resultados: as vulneráveis, as seguras, as
duráveis e as regenerativas, de acordo com a forma com que lidavam e estruturavam as situações
difíceis ou tragédias pelas quais passavam, levando em conta também as relações entre os
membros. Isso foi útil a partir do momento que se estudou a resiliência em famílias, mas também
teve aspectos negativos ao contribuir com os “rótulos”, como os mencionados anteriormente
(Yunes, 2003).
Retomando o conceito de resiliência da física, em que um material sofre uma força e
retorna ao seu estado original sem se alterar, as ciências sociais utilizam-se dessa metáfora para
observar fenômenos que ocorrem com pessoas que desenvolvem condutas melhores e com maior
qualidade de vida ao enfrentarem situações de adversidade (Melillo, 2005).
As observações, tanto de pessoas como grupos que enfrentam adversidades e saem
positivamente das mesmas contradizem totalmente os paradigmas atuais, em que a família é
sempre enxergada pelos seus problemas, assim como o indivíduo é enxergado pelo seu sintoma
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 10 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
ao entrar no consultório médico. O conceito de resiliência propõe justamente o oposto, que se
deve focalizar e enfatizar os recursos das pessoas e grupos sociais para continuar prosseguindo
(Melillo, 2005).
De acordo com Walsh (1998, apud Yunes, 2003), a maioria das pesquisas e teorias sobre
resiliência tem abordado o contexto relacional de maneira limitada pois, ao observar famílias
geralmente procuram-se conflitos e desajustes. Focalizar, compreender e fortalecer os aspectos
sadios e de sucesso do grupo familiar significa estudar processos e percepções de elementos das
experiências de vida, compreendidos na ótica sistêmica (Yunes, 2003).
Sem deixar de considerar as vulnerabilidades das pessoas e suas relações, também para que
não se caia em uma rotulação, os estudiosos das resiliências familiares definiram condições que
as reforçam, como crenças, atitudes e aptidões. Mas pelo fato de a ideia não ser a de definir
indivíduos ou famílias resilientes, como uma “essência” que alguns possuem e outros não, busca-
se reforçar as qualidades potencialmente presentes nos indivíduos sociais (Melillo, 2005).
Para Walsh (1996, apud Yunes, 2003), o foco da resiliência em família deve ser o de
identificar e programar os processos-chave que possibilitam que famílias lidem mais
eficientemente com situações de crise ou estresse permanente e saiam delas fortalecidas,
independente se a fonte de estresse é interna ou externa à família.
Entre as mais importantes características facilitadoras da resiliência, observadas por Walsh
(apud Melillo, 2005, p. 81) estão: reconhecer os problemas e limitações a enfrentar, comunicá-los
aberta e claramente, registrar recursos pessoais e coletivos existentes e organizar e reorganizar
estratégias. Ele ainda observa que nas relações é necessário que se sustentem “atitudes
demonstrativas de apoio emocionais”, “conversações em busca de acordos” (sobre prêmios e
castigos) e “conversações em que se construam significados compartilhados sobre os
acontecimentos prejudiciais” (p. 81).
A maioria dos profissionais de saúde mental teve uma formação baseada no paradigma dos
modelos de enfermidades, o que explicita uma necessidade de questionamento sobre as
formações em saúde com intuito de ampliar esta perspectiva restritiva. Assim, se tornará possível
parar de enxergar somente o problema e se buscará destacar também os recursos de quem viveu e
superou determinado sofrimento (Melillo, 2005).
Dessa forma, deve-se observar que é possível reconhecer e impulsionar as competências
individuais e familiares, principalmente com os recursos sociais, se os profissionais de saúde
mental, por exemplo, dentro de sua prática, ampliarem os enfoques terapêuticos para enfoques
psicossociais (Melillo, 2005).
Hawley e DeHann (1996, apud Yunes, 2003) definem a resiliência familiar como a
trajetória da família no sentido de sua adaptação e prosperidade diante de situações de estresse,
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 11 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
tanto no presente como ao longo do tempo. Isso explicita uma característica duradoura,
demonstrando mais uma consonância com outras definições, principalmente nas definições em
que o foco é o indivíduo (Yunes, 2003).
Assim, o nível de análise é que deve ser diferente, deixando de ser considerado como uma
característica individual que sofre a influência da família, para ser considerado como uma
qualidade sistêmica de determinadas configurações familiares (Yunes, 2003).
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A resiliência é um assunto muito recente na literatura científica e durante esta pesquisa
observou-se uma escassez de trabalhos e artigos científicos sobre o tema na área da psicologia.
Foi mais fácil encontrar trabalhos de outras áreas que abordem o tema, como enfermagem e
assistência social, considerando a resiliência a partir de uma perspectiva mais útil para cada área
em si, do que da psicologia. Ainda assim, ficam evidentes as múltiplas variações do conceito na
literatura científica (resiliência familiar e resiliência comunitária) à medida que se analisa os
poucos trabalhos que existem sobre o assunto na língua portuguesa.
Objetivou-se um levantamento sobre o conceito ao longo do tempo e também discernir seus
variados significados atribuídos por diferentes autores e áreas. A partir disso, notou-se o termo
ter sido importado da física, em que um material resiliente é um material que pode sofrer
determinada força retornando ao seu estado original sem se deformar, e também o aspecto
metafórico, enquanto capacidade de atravessar uma adversidade e ser transformado por ela, do
termo nas outras áreas, principalmente a psicologia, que vem adotando o conceito como área de
interesse e pesquisa há 30 anos aproximadamente (Poletto e Koller, 2008; Rutter, 1981; 1985;
1993 apud Rooke, 2012).
Percebeu-se o consenso na literatura de que são necessárias duas condições básicas às quais
o conceito está associado: uma situação adversa a ser enfrentada pelo indivíduo e uma resposta
positiva de sua parte diante do sofrimento (Rooke, 2012). Além disso, um dos pontos em comum
nas diferentes conceituações é que o processo psicológico da resiliência se desenvolve ao longo
da vida do sujeito, esclarecendo-o como uma característica humana que pode ser desenvolvida e
depende ainda do seu entorno humano, tendo em vista que todos os sujeitos que se tornaram
resilientes tinham uma pessoa em sua vida que os aceitaram de forma incondicional,
independente de seu aspecto físico, temperamento ou inteligência (Melillo, 2005). Isso pode
surgir como estratégia terapêutica quando se observar uma pessoa significante na vida do sujeito
e utilizar a relação de ambos para impulsionar seu desenvolvimento e facilitar o enfrentamento
ou a superação de adversidades.
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 12 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
Um aspecto importante destacado durante a pesquisa foi o de não haver correlação entre
nível socioeconômico e resiliência (Melillo, 2005) e nem de inteligência e resiliência ou classe
social e resiliência (Vsillant e Davis, 2000 apud Melillo, 2005). Isso exclui uma possibilidade de
utilização do conceito de resiliência como mecanismo de exclusão de qualquer natureza, pois
evita rotulações, como as ocorridas com as tentativas de categorizar famílias resilientes citadas
anteriormente, e melhora a utilidade do conceito ao permitir enxergá-lo como uma característica
humana que pode ser desenvolvida independentemente desses fatores.
Após isso, percebeu-se a existência da resiliência comunitária, em que o conceito de
resiliência encontra utilidade nos países em desenvolvimento, principalmente na América Latina,
e identificou-se os “pilares da resiliência comunitária” (Melillo, 2005). Um aspecto interessante,
mas ainda muito modesto na literatura que explicita a possibilidade de pesquisa do conceito em
outros âmbitos da sociedade e abre um leque de caminhos diferentes para o mesmo,
demonstrando ainda mais como muitos de seus aspectos são inexplorados.
Então, expandido para a resiliência familiar, percebeu-se como ela tem sido muito
abordada de maneira limitada devido ao fato de que, ao observar famílias, sempre se procuram
conflitos e desajustes, sem levar em conta o aspecto relacional da mesma (Walsh, 1998 apud
Yunes, 2003). Isso sempre dificultou o enfoque da resiliência em famílias por não se considerar
os elementos das experiências de vida, compreendidos através de uma ótica sistêmica. (Yunes,
2003).
Dessa forma, o trabalho demonstra também características facilitadoras da resiliência
familiar e observa a necessidade de reforçar qualidades potencialmente presentes nos sujeitos
para que ela se desenvolva em seu contexto familiar a partir de seu próprio desenvolvimento
(Melillo, 2005), o que permite uma possibilidade de trabalho muito grande em terapia quando se
percebe a abertura e utilidade do conceito em contextos familiares que demandam superação e
realce de qualidades para auxiliar nesse processo.
Finalizando, observa-se que o foco da resiliência em família deve ser o de justamente
identificar e programar os processos-chave que possibilitam às famílias lidarem mais
eficientemente com situações de crise e se fortaleçam a partir delas (Walsh, 1996 apud Yunes,
2003).
Assim, percebemos a utilidade da pesquisa sobre o tema pela escassez de trabalhos na área,
tanto em sua forma familiar ou grupal como em sua aplicação no indivíduo, seja ele criança,
adolescente ou adulto.
Esses elementos dentro de uma terapia que utilize sua resiliência potencial como estratégia
terapêutica, principalmente no contexto da terapia familiar sistêmica, permitirão uma construção
de novas linhas de pensamento (Yunes, 2003) e estruturação de uma compreensão mais clara
dentro da academia, na formação dos psicólogos, tanto os novos obtendo uma formação quanto
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 13 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
os já formados buscando expandir o seu conhecimento, para englobar o conceito e sua possível
aplicação prática em terapia.
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 14 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
www.psicologia.pt
ISSN 1646-6977
Documento produzido em 20.07.2014
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: Atlas,
2008.
HOUAISS, Antonio. VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua
portuguesa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
MELILLO, Aldo. OJEDA, Élbio Néstor Suárez. Resiliência: Descobrindo as
próprias fortalezas. São Paulo: Artmed, 2005. 160 p.
MICHAELIS: moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Companhia
Melhoramentos, 1998.
MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 14ª
ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1999.
NORONHA, Maria Glícia Rocha da Costa e Silva et al . Resiliência: nova perspectiva na
promoção da saúde da família?. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 2, Abr. 2009.
PINHEIRO, Débora Patrícia Nemer. A resiliência em discussão. Psicol. estud., Maringá ,
v. 9, n. 1, Abr, 2004.
PISZEZMAN, Maria Luiza R. Meijome. Famílias e estrutura: a abordagem estrutural e
a terapia de família. In: CERVENY, Ceneide Maria Oliveira. Famílias e... São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2006. p. 149-196.
ROOKE, Mayse Itagiba. PEREIRA-SILVA, Nara Liana. Resiliência familiar e
desenvolvimento humano: Análise da produção científica. Psicologia em pesquisa. Minas
Gerais, v.6, p.179-186, Julho-Dezembro 2012.
YUNES, Maria Angela Mattar. Psicologia positiva e resiliência: o foco no indivíduo e na
família. Psicol. estud., Maringá , v. 8, n. esp, 2003.
José Alexander Ribeiro Giffoni Filho 15 Siga-nos em
facebook.com/psicologia.pt
Você também pode gostar
- ATA - Escala de AutismoDocumento7 páginasATA - Escala de AutismoLuciana Rodrigues Alkmim94% (18)
- Atividade Do Filme Divertida MenteDocumento9 páginasAtividade Do Filme Divertida MenteMárcia Ricci0% (1)
- 716 PDFDocumento41 páginas716 PDFNicoly RodriguesAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio EspecíficoDocumento11 páginasRelatório de Estágio EspecíficoCaroline Vidal100% (1)
- AnamneseDocumento4 páginasAnamneseTerapeuta Ocupacional Bianca YidaAinda não há avaliações
- O Surgimento e Os Princípios Da Constelação Familiar Como Método de Abordagem Na Terapia FamiliarDocumento22 páginasO Surgimento e Os Princípios Da Constelação Familiar Como Método de Abordagem Na Terapia FamiliarMichelle Holtz LançaAinda não há avaliações
- EstresseDocumento15 páginasEstressesidneigutierrez1100% (1)
- Apostila 4 Constelação ClínicaDocumento80 páginasApostila 4 Constelação ClínicaSilmara CorreiaAinda não há avaliações
- Relatório de EstagioDocumento11 páginasRelatório de EstagioGabrielaMiranda100% (6)
- O Desejo E O Trauma Do Absoluto Na Clínica PsicanalíticaNo EverandO Desejo E O Trauma Do Absoluto Na Clínica PsicanalíticaAinda não há avaliações
- Resumo para Que o Amor de Certo Bert HellingerDocumento2 páginasResumo para Que o Amor de Certo Bert HellingerRaíssa AraujoAinda não há avaliações
- Resenha Psicologia Do Esporte - Apropiando A AdesapropiaçãoDocumento2 páginasResenha Psicologia Do Esporte - Apropiando A AdesapropiaçãoCaroline Mendes100% (1)
- Psicanálise Dos Tipos de Personalidade - Eneagrama - Felipe MorenoDocumento7 páginasPsicanálise Dos Tipos de Personalidade - Eneagrama - Felipe MorenoRenê PinheiroAinda não há avaliações
- Jogos e Brincadeiras e A Sua Relação Com A PsicomotricidadeDocumento40 páginasJogos e Brincadeiras e A Sua Relação Com A PsicomotricidadeJorge Pazos100% (1)
- Const FamiliaresDocumento6 páginasConst FamiliaresDeniseCarvalhoAinda não há avaliações
- Apostila Transtornos Globais Do Desenvolvimento 1Documento87 páginasApostila Transtornos Globais Do Desenvolvimento 1Evelise JardiniAinda não há avaliações
- Resiliência Conceituação e DiscussãoDocumento12 páginasResiliência Conceituação e DiscussãoMAnuel TrindadeAinda não há avaliações
- 1 Rascunhos Emoções - PalestrasDocumento14 páginas1 Rascunhos Emoções - PalestrasRogério RochaAinda não há avaliações
- A Psicologia Aplicada em PortugalDocumento3 páginasA Psicologia Aplicada em PortugalBernardo Jorge100% (1)
- VinculaçãoDocumento5 páginasVinculaçãoMarisa CimentaAinda não há avaliações
- Teorias e Técnicas em Outras CorrentesDocumento46 páginasTeorias e Técnicas em Outras CorrentesANA PAULA SOUZAAinda não há avaliações
- LIVRO - Vencendo A Timidez e A Fobia Social - Giovanni K. PergherDocumento83 páginasLIVRO - Vencendo A Timidez e A Fobia Social - Giovanni K. Pergherwacandido100% (1)
- A Síndrome de UlissesDocumento4 páginasA Síndrome de UlissesThaysa AudujasAinda não há avaliações
- O Modelo Ecológico de DesenvolvimentoDocumento15 páginasO Modelo Ecológico de DesenvolvimentoPessoa LindaAinda não há avaliações
- Psicoterapia IntegrativaDocumento4 páginasPsicoterapia IntegrativaGabriela CabralAinda não há avaliações
- Mestrado Educador ExpressivoDocumento76 páginasMestrado Educador ExpressivoIaseAinda não há avaliações
- 16 - Integração e DesintegraçãoDocumento54 páginas16 - Integração e DesintegraçãoEmanuel Torquato100% (1)
- Psicoterapia Breve Os Criterios Indicação e ContraindicaçãoDocumento12 páginasPsicoterapia Breve Os Criterios Indicação e ContraindicaçãoAngelo BarrosAinda não há avaliações
- O Ponto de Encontro Entre A Física Quântica e o Poder Da OraçãoDocumento3 páginasO Ponto de Encontro Entre A Física Quântica e o Poder Da OraçãoBaba Tadeu Ojú ÓbaAinda não há avaliações
- Sistémica Caso B PDFDocumento10 páginasSistémica Caso B PDFMaria EstevesAinda não há avaliações
- Modelo de Declaracao 04 02 2016Documento7 páginasModelo de Declaracao 04 02 2016Nando CampeloAinda não há avaliações
- Como A Psicologia Sistêmica Pode Contribuir NoDocumento19 páginasComo A Psicologia Sistêmica Pode Contribuir NoPsi Jucilene LiseAinda não há avaliações
- APOSTILA-Fundamentos-Ligia - Pags 1 A 105Documento105 páginasAPOSTILA-Fundamentos-Ligia - Pags 1 A 105ednsinfAinda não há avaliações
- Os 9 Tipos de RoteirosDocumento58 páginasOs 9 Tipos de Roteirosmao_desusAinda não há avaliações
- Søren Kierkegaard e Viktor Frankl 97-2003Documento10 páginasSøren Kierkegaard e Viktor Frankl 97-2003Deyve RedysonAinda não há avaliações
- Educação SistêmicaDocumento7 páginasEducação SistêmicaAntonio LimaAinda não há avaliações
- Genograma - PsicologiaDocumento22 páginasGenograma - PsicologiaMónica Nogueira SoaresAinda não há avaliações
- Abracadabra As Palavras Nos Contos de FadaDocumento114 páginasAbracadabra As Palavras Nos Contos de FadaMonica MocenedaraisAinda não há avaliações
- 1804livro PsicoterapiaDocumento11 páginas1804livro PsicoterapiaAntônio JhúniorAinda não há avaliações
- A Vida Das Familias e Suas Fases PDFDocumento12 páginasA Vida Das Familias e Suas Fases PDFJS VilmarAinda não há avaliações
- Regina Rahmi - Vínculo e Constituição Da SubjetividadeDocumento8 páginasRegina Rahmi - Vínculo e Constituição Da SubjetividadeAnna AbdalaAinda não há avaliações
- Familia Formadora de CaraterDocumento33 páginasFamilia Formadora de CaraterJefferson LucioAinda não há avaliações
- Panfleto Violencia No NamoroDocumento2 páginasPanfleto Violencia No Namorofs96Ainda não há avaliações
- Os Segredos Na Família e Na Terapia FamiliarDocumento14 páginasOs Segredos Na Família e Na Terapia FamiliarAna CarolinaAinda não há avaliações
- Sebenta PD - 220524 - 141539Documento146 páginasSebenta PD - 220524 - 141539José AnicetoAinda não há avaliações
- Sucesso e Fracasso EscolarDocumento28 páginasSucesso e Fracasso EscolarMilene SabinoAinda não há avaliações
- Inclusão Escolar e Bullying Nas Escolas: Quando A Inclusão Se Torna Uma ExclusãoDocumento11 páginasInclusão Escolar e Bullying Nas Escolas: Quando A Inclusão Se Torna Uma ExclusãoDanilo SilvaAinda não há avaliações
- Terapia de FamíliaDocumento4 páginasTerapia de FamíliaSebastião FerreiraAinda não há avaliações
- Sermão Da Epifania - Padre VieiraDocumento8 páginasSermão Da Epifania - Padre VieiraLuiza FernandesAinda não há avaliações
- Kierkegaard e A Religião CristãDocumento9 páginasKierkegaard e A Religião CristãEdson SousaAinda não há avaliações
- Artigo - Heranças Psíquicas Intra e Transgeracionais - Fatores Subliminares Da Perpetuação Da Pobreza - PsicologadoDocumento19 páginasArtigo - Heranças Psíquicas Intra e Transgeracionais - Fatores Subliminares Da Perpetuação Da Pobreza - PsicologadoRafael Iwamoto TosiAinda não há avaliações
- Os Nove TiposDocumento6 páginasOs Nove TiposLorenzaBenitti100% (1)
- Terapia Familiar Análise Filme A Vida Nao e Um SonhoDocumento11 páginasTerapia Familiar Análise Filme A Vida Nao e Um SonhoSusanaAinda não há avaliações
- Aula - Pensamento EcossistêmicoDocumento22 páginasAula - Pensamento EcossistêmicoKatia Forville0% (1)
- Pensamento Sistêmico e Arquétipos - Parte 2Documento7 páginasPensamento Sistêmico e Arquétipos - Parte 2João Gratuliano100% (1)
- Violência Sexual TransgeracionalDocumento26 páginasViolência Sexual TransgeracionalTaniara Braz RigonAinda não há avaliações
- Quando Os Pensamentos Se Tornam Nossos Piores PDFDocumento9 páginasQuando Os Pensamentos Se Tornam Nossos Piores PDFFrancisco RamosAinda não há avaliações
- Arquitetura Da AlmaDocumento60 páginasArquitetura Da AlmaLislene MartinsAinda não há avaliações
- Ordem Psicólogos Violencia Interparental-1Documento6 páginasOrdem Psicólogos Violencia Interparental-1Mari Cruz Cordón GalvánAinda não há avaliações
- 12 Erros Cognitivos - Albert EllisDocumento3 páginas12 Erros Cognitivos - Albert EllisjoeldtbatistaAinda não há avaliações
- Comunicação e Relacionamento Interpessoal No Terceiro Milênio À Luz Da PNLDocumento15 páginasComunicação e Relacionamento Interpessoal No Terceiro Milênio À Luz Da PNLRac A BruxaAinda não há avaliações
- Conteúdo Programático Do Curso Constelação FamiliarDocumento4 páginasConteúdo Programático Do Curso Constelação FamiliarAntonio Lima0% (1)
- Relação de Ajuda - Modelos de Intervencao PsicologicaDocumento11 páginasRelação de Ajuda - Modelos de Intervencao PsicologicapaiotaAinda não há avaliações
- TEORIADocumento3 páginasTEORIAMara Regina Christmann100% (1)
- Unidade III Nova Educacao Fisica Jogo Brinquedo e BrincadeiraDocumento49 páginasUnidade III Nova Educacao Fisica Jogo Brinquedo e BrincadeiraBella ValeAinda não há avaliações
- Racionalização - FreudDocumento6 páginasRacionalização - FreudFernanda CamargoAinda não há avaliações
- Monografia Cárie de Mamadeira e Promocão de Saúde Na InfânciaDocumento22 páginasMonografia Cárie de Mamadeira e Promocão de Saúde Na InfânciaDi Siqueira100% (2)
- Repensando o Fracasso EscolarDocumento16 páginasRepensando o Fracasso EscolarAriadne Silva PrestesAinda não há avaliações
- 9º ANO Aula 10 - 4º Bimestre: Textos Normativos - Parte 3Documento23 páginas9º ANO Aula 10 - 4º Bimestre: Textos Normativos - Parte 3EmersonAinda não há avaliações
- PsicologíaDocumento9 páginasPsicologíaLeninzhito DuqueAinda não há avaliações
- Artigo para Aula 6 Oliveira, M - T - de - Captura de Uma Criança Autista Pela LinguagemDocumento13 páginasArtigo para Aula 6 Oliveira, M - T - de - Captura de Uma Criança Autista Pela LinguagemMarcia PontesAinda não há avaliações
- Planej 4 e 5 Anos AnualDocumento30 páginasPlanej 4 e 5 Anos AnualCarlos HyuugaAinda não há avaliações
- Ler e Escrever Na Educação Infantil-FlaviaeZoraiaDocumento10 páginasLer e Escrever Na Educação Infantil-FlaviaeZoraiaAna Paula SantosAinda não há avaliações
- Das Coisas Invisíveis Contos Tatiane de Oliveira Gonçalves 2009Documento73 páginasDas Coisas Invisíveis Contos Tatiane de Oliveira Gonçalves 2009Helena MatosAinda não há avaliações
- TCC Corrigido DIVA - PDF - Assinado - Assinado - Assinado OkkkkDocumento42 páginasTCC Corrigido DIVA - PDF - Assinado - Assinado - Assinado OkkkkpricilaAinda não há avaliações
- Historias de TransformaçãoDocumento20 páginasHistorias de TransformaçãoAdoração & CultoAinda não há avaliações
- Trabalho Ev127 MD1 Sa Id5511 03102019102110 PDFDocumento12 páginasTrabalho Ev127 MD1 Sa Id5511 03102019102110 PDFCarolFioreAinda não há avaliações
- Estatuto Da Criança e Do Adolescente (Lei N° 8Documento6 páginasEstatuto Da Criança e Do Adolescente (Lei N° 8Paola OnieskoAinda não há avaliações
- Prueba Acreditación B1 - Portugués - Información y ModelosDocumento8 páginasPrueba Acreditación B1 - Portugués - Información y ModelosKely MartinAinda não há avaliações
- Artigo 1 - HABILIDADES SOCIAISDocumento51 páginasArtigo 1 - HABILIDADES SOCIAISClaudia CristinaAinda não há avaliações
- Ana Mae Brasosa e Luigi Pareyson Milena Guerson Milena Guerson PDFDocumento20 páginasAna Mae Brasosa e Luigi Pareyson Milena Guerson Milena Guerson PDFAna Carolina AlcantaraAinda não há avaliações
- Atividade de Interpretação Língua Portuguesa Quinto AnoDocumento41 páginasAtividade de Interpretação Língua Portuguesa Quinto Anozockaw100% (1)
- Vários Autores - Planejamento e Avaliação EscolarDocumento129 páginasVários Autores - Planejamento e Avaliação EscolarJoana D'ArcAinda não há avaliações
- Educ Infantil Organizacao Espaco Interno Proinfancia Produto03Documento31 páginasEduc Infantil Organizacao Espaco Interno Proinfancia Produto03Dayana Carla VelascoAinda não há avaliações
- Pesquisa SeletividadeDocumento2 páginasPesquisa SeletividadeJulia HarumiAinda não há avaliações
- Melanie KleinDocumento78 páginasMelanie KleinPaulo RicardoAinda não há avaliações
- Aij A Crianca e o Livro Dos EspiritosDocumento13 páginasAij A Crianca e o Livro Dos EspiritosGiovana PiottoAinda não há avaliações