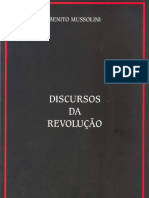Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Platão Artigo de Marcos Pagotto-Euzebio Filosofia Como Experiência e Como Educação
Enviado por
MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVATítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Platão Artigo de Marcos Pagotto-Euzebio Filosofia Como Experiência e Como Educação
Enviado por
MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVADireitos autorais:
Formatos disponíveis
FILOSOfIA COMO EXPERIÊNCIA
E COMO EDUCAÇÃO*
Marcos Sidnei Pagotto-Euzebio**
A Filosofia é uma invenção platônica. De fato, Platão é talvez o
único filósofo autor de uma obra que se sustenta inteiramente por si,
sem apego a nada que já tenha existido, e que pretende – e consegue, em
grande parte – tratar de tudo, de toda a experiência humana. Em Platão,
nós que nos dedicamos à Filosofia temos nossos livros sagrados, nossas
escrituras, às quais sempre nos referimos, sejamos nós fiéis seguidores
do espírito desse pai fundador, ou então hereges reformadores mais ou
menos radicais. Platão escolheu os seus antecessores, trazendo-os para o
território da Filosofia por ele criada e inventando uma tradição a qual se
filiar: não à toa, os filósofos pré-socráticos são assim chamados: melhor
seria chamá-los, no entanto, de pré-platônicos, porque Sócrates, ou ao
menos o Sócrates que nos interessa, foi ele também, em grande medida,
uma invenção platônica.
Tomemos deste universo, portanto, duas imagens, das inúmeras que
Platão nos deixou em suas obras.
A primeira delas é a mais famosa, a mais conhecida, tão exagera-
damente conhecida que talvez imaginemos saber o que ela nos mostra
antes mesmo de encontrarmo-nos com ela. Falo da alegoria da caverna,
a célebre imagem que foi tomada não apenas como resumo ou emblema
* Aula inaugural do curso de Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP,
realizada em 12 de fevereiro de 2015. O texto que se segue é a versão escrita da confe-
rência, que retém as marcas da oralidade típicas de uma apresentação desse tipo.
** Professor da FEUSP.
60 Filosofia como experiência e como educação
da Filosofia platônica, mas da própria Filosofia, desde então. O que temos
ali? No início do Livro VII da República, no ponto que é, por assim dizer,
o eixo em torno do qual orbita a obra platônica, nesse começo do Livro
VII Sócrates apresenta para Glauco, seu interlocutor, uma história; mostra
a ele um cenário com atores e um cenário, em que um crivo funcionará
como distinção:
Compara nossa natureza, conforme seja ou não educada, com a seguin-
te situação: imagina homens em uma morada subterrânea em forma de
caverna, provida de uma única entrada com vista para a luz em toda a
sua largura. Encontram-se nesse lugar, desde pequenos, pernas e pescoço
amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer e a
olhar apenas para a frente, impossibilitados, como se acham, pelas cadeias,
de virar a cabeça.1
Ou seja, perceba, diz Sócrates a Glauco, como somos, nós, seres hu-
manos, conforme nossa natureza, nossa physis tenha sido ou não educada.
Platão, pela boca de Sócrates, utiliza os termos paideía e apaideusía, ou
seja, educação e ignorância (ou mais rigorosamente: falta de educação).
Importante notar que, nesse ponto axial da República, Platão coloca como
fundamento de todo o restante, claramente, a presença ou a ausência da
educação, de um processo formativo. Mais do que as descrições sobre a
educação dos guardiões, com todos os seus detalhes, foi essa frase curta
que talvez tenha feito Rousseau afirmar, no Emílio, que a República, ao
contrário do que pensam os que julgam os livros apenas pelas capas, é
o mais importante tratado de educação já escrito. E essa divisão entre
ignorante e ilustrados irá se desdobrar no cenário montado por Sócrates
para Glauco: os ignorantes, presos no fundo de uma caverna, nada sabem
acerca da “verdadeira realidade”, e ainda que vivam em um mundo de
simulacros e imagens derivadas, pensam conhecer o real tal como ele é.
Mas, diz Sócrates, o que veem são sombras e ilusões, incapazes de sair
por si mesmos dessa condição de ignorância. Para isso, será preciso a
intervenção de uma força externa, que liberte esses prisioneiros. Ela age
com empenho e violência: o texto platônico fala de “forçar o prisioneiro
1
PLATÃO. A República, 514a-514b. Trad. Carlos Alberto Nunes. Pará: Editora
da Universidade do Pará, 2000.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
Revista Páginas de Filosofia 61
a voltar a cabeça”, “obrigá-lo a olhar para a saída da caverna”, “arrastá-lo
para fora”, mesmo contra sua vontade.
Quem é esse que força e liberta? Tudo leva a crer que Platão fale
aqui de Sócrates, do Sócrates que ele conheceu e que morrera havia vários
anos quando essas linhas foram escritas. Nesse mesmo sentido, diante do
espanto de Glauco com a descrição de pessoas presas de maneira tão estra-
nha, Sócrates adianta o enredo e, piscando para o leitor do diálogo, quase
que se dirigindo diretamente ao público que o lê e que o lerá, Platão faz
que ele diga, como que fora do texto – e fora do tempo e do espaço, sub
specie aeternitatis – que continuamos a ser, desde sempre, tais prisioneiros.
Ou seja, podemos conceber que esse que liberta o prisioneiro é um
filósofo, mas o prisioneiro, uma vez libertado, uma vez forçado a subir
a “íngreme encosta” em direção ao sol, ele mesmo se torna filósofo e
retorna à sua caverna para libertar os seus companheiros, mergulhados
no erro. É por amor que ele volta, é por amor que o filósofo irá obrigar
seus companheiros a virarem a cabeça e olhar para a saída da caverna. O
filósofo ama as pessoas, e por isso as incomoda... O resultado, por vezes,
pode ser desagradável para esse herói da consciência: o início do Livro
VII faz menção à morte de Sócrates quando diz que muitos vão desejar
dar cabo de um sujeito tão irritante e ofensivo.
Em suma, essa é a história, o clichê filosófico celebrado em todo lu-
gar onde se fale da Filosofia. Há, no entanto, alguns pontos que eu gostaria
de destacar desse enredo: o primeiro é aquele que apresenta o inominado
como responsável pela libertação do prisioneiro.
“Considera”, diz o Sócrates platônico, “o que aconteceria se um
desses prisioneiros fosse libertado de suas cadeias e forçado a virar a
cabeça”. O sujeito da ação é indeterminado e passamos, creio eu, muito
rapidamente por sobre esse detalhe. Em suma, podemos perguntar quem ou
o que libertou o primeiro prisioneiro, ou então, quem libertou o libertador.
Isso não é de pouca importância. No Mênon, no final do diálogo, Sócrates
e seu interlocutor acabam em aporia diante da possibilidade ou não de se
ensinar a virtude. Uma das saídas é apostar em uma graça divina, um pre-
sente dos deuses – theia moira – que dê ao homem a areté, aparentemente
impossível de alcançar pelo ensino ou pela educação.
Se na Alegoria, ao comparar a situação do ignorante preso na caver-
na com a do sábio ou aprendiz de sábio, ou seja, o filósofo, Sócrates confia
em um percurso formativo que leve à verdade e ao conhecimento do real,
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
62 Filosofia como experiência e como educação
não sabemos ainda quem libertou esse mestre originário. Na Apologia, o
magistério socrático tem início quando ele já é um homem de quase 50
anos, e esse início é dado pela palavra do deus: ele começa sua tarefa de
investigação para compreender o oráculo, que dissera ser Sócrates o mais
sábio de todos os homens. Ou seja, no começo, temos a graça divina, ou se
quisermos dar-lhe outro nome, o acaso ou a fortuna, que gera um filósofo
legítimo, gerador de outros filósofos.
Ora, nós, professores de Filosofia, usamos dessas imagens inúme-
ras vezes, e quase sempre, quando apresentamos a Alegoria da Caverna
para os nossos alunos, apontamos a eles a necessidade de sair do âmbito
do senso comum, mal disfarçando certo prazer intelectual por estarmos
fazendo isso por eles.
Afinal, atuamos ali no papel de quem volta para a caverna a fim de
salvar consciências. No entanto, resta a pergunta: e a nós, quem libertou?
Como imaginar que nossa saída da caverna não foi apenas a entrada em
outra? Essa é uma dificuldade que a Alegoria platônica carrega em si e
que está ligada ao segundo aspecto que eu gostaria de indicar.
De fato, a saída da caverna é a ascensão ao plano do inteligível.
Ainda que, no limite, nunca alcançado plenamente (Platão considerava que
pouquíssimos seriam os capazes de alcançar a contemplação das Formas),
afastado da eikasia e da dóxa, e próximo da episteme e da noesis, esse co-
nhecimento postula ser um saber sobre o mundo e o homem, capaz de dar
conta de ambos. Nós conhecemos essa pretensão da Filosofia, e ainda que
o pensamento de Platão não possa nem de longe ser chamado de sistema,
há nele o espírito geométrico – que é o espírito sistemático – das grandes
construções, dos grandes edifícios filosóficos, esperançosos de dar conta
de tudo. O problema é que essa pretensão, hoje, não se sustenta mais.
Depois de Nietzsche, pelo menos, depois de Kierkegaard, a esperança de
um discurso filosófico capaz de alcançar uma verdade incontornável, que
fosse ao mesmo tempo uma verdade acerca do mundo e sobre o homem,
isto é, que inclua nas prescrições da ética e da política a descoberta de
como as coisas são, harmonizando homem e cidade, homem e moral, a
partir de uma conexão necessária entre saber e dever-ser, essa pretensão
acabou. É o que Lyotard chamou de fim das metanarrativas, dos discursos
totalizantes ou, se quisermos, de pós-moderno.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
Revista Páginas de Filosofia 63
Mas eu gostaria de voltar a Platão.
Eu disse, no começo, que iria tomar emprestado de Platão duas ima-
gens. A primeira foi essa, da Alegoria da Caverna. Agora, tomo outra, que
encontramos em um diálogo escrito, muito provavelmente, no começo da
carreira de Platão, podendo mesmo ter sido o primeiro diálogo escrito por
ele, alguns anos antes da Apologia, que ao que tudo indica, é de 396 a.C.
Falo do Primeiro Alcibíades, que durante toda a antiguidade foi considerada
uma obra autêntica de Platão, mas que passou a sofrer com as dúvidas dos
editores da era moderna, a partir do Renascimento. Hoje, no entanto, sua
autoria é pouco contestada, e vou considerá-lo uma obra, se não escrita
diretamente por Platão, ao menos produzida no âmbito da Academia.
Pois bem, o que encontramos no Primeiro Alcibíades? Como era de
se esperar, o personagem que dá nome ao diálogo está ali, junto de Só-
crates, com quem conversa. Alcibíades foi um personagem importante da
história de Atenas, amado e odiado na mesma medida, dotado de talentos
inquestionáveis, mas também de vícios evidentes. Filho da alta nobreza
de sua cidade, participou da política durante a Guerra do Peloponeso e
comandou a malfadada expedição conta Siracusa, na Sicília, quando a
Marinha ateniense foi derrotada de maneira quase definitiva. Acusado por
esse desastre, associado já a uma péssima fama, Alcibíades passa para o
lado dos espartanos, traindo a pátria e terminando sua vida – não sem antes
ter voltado para Atenas – no incêndio da casa onde estava, que era também
a casa de sua amante, impedido de sair pelo marido, que era também, por
acaso, um sátrapa do Grande Rei.
Ou seja, Alcibíades foi uma figura polêmica e multifacetada, como
nos é apresentado no Banquete platônico, por exemplo, desde sua entrada
na casa de Agatão, acompanhado de tocadores de flauta, de jovens e de
flores, até o encontro com um Sócrates constrangido, a quem ele declara
seu amor. Alcibíades, portanto, foi um homem das paixões, da inconstân-
cia, da desmedida. Diríamos hoje: um herói romântico, maior que a vida.
No entanto, o Alcibíades com quem Sócrates dialoga, nessa obra de
juventude de Platão, é um Alcibíades jovem, ansioso por ingressar na vida
pública, nos debates políticos, almejando começar sua carreira de líder
da cidade. Ora, nesse ponto, Sócrates intervém e faz a pergunta que nos
interessa: desejoso de comandar a cidade, os homens, seria Alcibíades
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
64 Filosofia como experiência e como educação
capaz de governar a si mesmo? Em outros termos, como exercer o mando,
como guiar os outros, se não se domina a si mesmo, se não conhece a si
mesmo? O conhece-te a ti mesmo, que Sócrates vai buscar na inscrição do
tempo de Apolo em Delfos, frase atribuída por vezes a Sólon, outras vezes
a outro dos Sete Sábios, essa frase surge no diálogo como a marca de um
impedimento, de um bloqueio ou barreira que Sócrates caracteristicamente
colocava diante de seus interlocutores. “Não tão rápido”, parece ele dizer,
quando pergunta a Alcibíades pelo preceito délfico. Vemos isso acontecer
várias vezes: o exame socrático é quase sempre um impedimento e um
bloqueio, o que diz muito a nós, ocupados com Filosofia, professores de
Filosofia: o espírito tutelar de nossa atividade é, antes de tudo, o espírito
da barreira e da lentidão, da marcha suspensa, do intervalo – espaço em
que o pensamento pode acontecer.2
Mas voltemos ao Primeiro Alcibíades e à imagem da qual lhes fa-
lava: Sócrates pergunta se Alcibíades se conhece, a ponto de ser capaz de
comandar a si mesmo. Ora, Alcibíades fica confuso com a pergunta, que
lhe faz pensar e perceber a dificuldade que existe em sua pretensão de
comandar a cidade. Para conhecermos a nós mesmos, diz Sócrates, será
preciso saber o que somos, e o que parece evidente, continua Sócrates,
dialogando com Alcibíades, é que somos formados de corpo e alma, e
que a alma, via de regra, comanda o corpo. Sendo assim, o que somos,
fundamentalmente, é a alma, a psyché.3
Aqui, não temos a teoria da alma como vamos encontrar no Fedro ou
na República, ou mesmo no Timeu: a alma é um todo e resume o homem.
Podemos dizer que essa alma é a vida mental, a consciência. Em outras
palavras, serve-nos pensar que essa alma é a sede do eu, ou, se quisermos,
o self. Pois bem, sendo o homem, antes de tudo, sua alma, como conhecê-
-la, como saber quem se é? É nesse ponto que Platão usa a imagem que
eu gostaria de colocar ao lado daquela da caverna:
Sócrates: Raciocina comigo. Se nos dirigíssemos aos olhos, como se
tratasse de pessoas, e lhes apresentássemos o preceito ‘Conhece-te a ti
mesmo’, de que modo compreenderíamos o conselho? Não seria no sentido
2
Cf. GUSDORF, G. Professores para quê? Lisboa: Moraes Editora, 1970, p. 95-96.
3
Obviamente, essa e as afirmações seguintes necessitariam de uma explicação mais de-
morada e cuidadosa. Para os propósitos da conferência, no entanto, elas são suficientes.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
Revista Páginas de Filosofia 65
de levar os olhos a dirigir-se para algum objeto em que eles pudessem ver
a si próprios?
Alcibíades: É claro.
Soc.: E qual é o objeto em que nos vemos, quando o contemplamos?
Alc.: O espelho, Sócrates.
Soc.: Acertaste. Porém, nos olhos com que vemos, não se encontra algo
do mesmo estilo?
Alc.: Perfeitamente.
Soc.: Como já deves ter observado, o rosto de quem olha para os olhos de
alguém que se lhe defronte, reflete-se no que denominamos pupila, como
num espelho a imagem da pessoa que olha.
Alc.: É certo.
Soc.: Assim, quando um olho olha para outro, e se fixa na porção mais
excelente deste, justamente aquela que vê, ele vê-se a si mesmo?
Alc.: É evidente.4
O olho, que nos faz ver tudo o que pode ser visto, e que nos permite
conhecer o real (aqui não há, pelo menos não de maneira explícita, a des-
confiança em relação ao mundo empírico: Sócrates e Alcibíades compar-
tilham da “crença ingênua no mundo exterior”), o olho, que nos permite
ver, é incapaz de enxergar a si mesmo. De que modo ele pode, então, se
conhecer? Alcibíades propõe de imediato um espelho, e propõe o óbvio e
o acertado, mas Sócrates vai indicar algo que não é apenas mais poético,
mas sobretudo muito eficaz para os seus fins: se o olho quer conhecer a
si mesmo, deve ele olhar para a melhor parte, para a “menina” (koré), de
outro olho: ali, ele enxergará a si mesmo, ao mesmo tempo em que vê o
olho do outro, diante dele, face à face com ele. Ora, a situação é idêntica
à da alma, que é capaz de conhecer tudo o que se pode conhecer, exceto
a si mesma, sem o recurso ao outro (e por isso o espelho não serve aos
fins socráticos, porque ele não responde, ao contrário dos espelhos das
fábulas: se é preciso ver para se conhecer, também é preciso ouvir o que
é dito sobre as nossas almas).
4
PLATÃO. Primeiro Alcibíades, 132d-133a. Trad. Carlos Alberto Nunes. Pará:
Editora da Universidade do Pará, 2007.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
66 Filosofia como experiência e como educação
A alma, para conhecer a si mesma, precisa portanto colocar-se em
relação à outra alma, em um mesmo plano, frente a frente. Diferente do
plano inclinado e ascendente da Alegoria, em que algo ou alguém liberta
o prisioneiro das ilusões a partir de cima, um acima que permanecerá
sempre como a realidade privilegiada, aqui a experiência se dá em um
mesmo plano, e no chão comum habitado por quem se coloca na busca
pelo conhecimento de si, pelo cumprimento do oráculo. Esse contraste entre
as duas imagens é bastante esquemático, mas talvez sirva para indicar a
presença de duas maneiras de se conceber a Filosofia, ambas na obra pla-
tônica. Ainda que se saiba que existem tantas Filosofias quantos filósofos,
e que essas duas concepções não são, nem de longe, um resumo das formas
que a Filosofia assume em Platão, elas são úteis para o nosso argumento.
De uma primeira imagem, a da caverna, nasce a concepção de Filo-
sofia como sendo, antes de tudo, uma epistemologia, ou seja, um discurso
sobre o conhecimento e sua validade. A verdade que permanece fora da
caverna, e que justifica a existência de cavernas e prisioneiros e filósofos:
essa verdade permanece como télos e alvo da Filosofia, e todos os discur-
sos que se pronunciarem sobre o mundo e no mundo podem ser avaliados
a partir desse privilegiado ponto de vista, o ponto de vista, diríamos, do
olho de Deus. Em suma, um ponto de vista incondicionado, e por isso
verdadeiro, liberto das ilusões da caverna.
Voltando ao que já foi dito: esse modo de pensar a Filosofia, mesmo
depois das crises pelas quais passou o pensamento filosófico, em tempos de
dissolução das metanarrativas, da crítica profunda da metafísica, do relati-
vismo galopante, ainda assim, esse modo de se pensar a Filosofia persiste
em muitas das nossas atividades e práticas em relação a ela. Infelizmente,
insistir hoje que a Filosofia irá libertar o homem da “alienação”, revelar a
ele os grilhões que o oprimem, fazê-lo conhecer a “realidade verdadeira”,
tudo isso soa deslocado, patético, e mesmo um pouco ridículo. Simplesmente
porque não há como garantirmos, em relação a outros discursos, a posição
privilegiada do discurso filosófico vazado na forma da imagem da caverna.
A ideia da Filosofia como episteme, como discurso que se pronuncia de
modo incondicionado sobre o mundo, essa ideia não se pode mais sustentar.
Isso é mais do que claro, creio eu, para todos nós. Sendo assim, é na
outra imagem platônica que nos resta buscar um sentido para a Filosofia,
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
Revista Páginas de Filosofia 67
quando a compreendemos não como episteme, mas como askesis. Ou seja,
se tomarmos como fundamento para a Filosofia a imagem do olho que se
conhece a si mesmo em outro olho, da alma que se conhece a si mesma
em outra alma, nesse apelo de reflexão (que se dá na própria forma da
frase reflexiva), encontraremos a exigência por um exercício, que é uma
das traduções do termo askesis. Um exercício ascético (com o perdão do
pleonasmo) que não se confunde com o isolamento ou com o afastamen-
to do mundo: se há uma parada, uma retenção e um retraimento sobre si
mesmo, ele só pode acontecer diante do outro, dos outros, que permita à
minha imagem refletida me alcançar.5
Há esperança que o Primeiro Alcibíades e a Apologia, por serem os
textos que Platão, muito provavelmente, primeiro escreveu, retenham algo
do essencial da figura do Sócrates histórico, aquele Sócrates que acabou
por influenciar o desenvolvimento de concepções filosóficas paralelas às
de Platão e Aristóteles, mas das quais pouco sabemos. O que me interes-
sa aqui, no entanto, é permanecer um pouco na imagem da alma que se
conhece a partir de outra alma, e da necessidade de reconhecer diante de
si outro em um mesmo plano para que a Filosofia, assim concebida, possa
começar. Essa experiência é o que me interessa, e gostaria de pensar ter
sido essa a principal contribuição do Sócrates histórico, para além do que
nos dá a obra platônica e, em menor medida, as obras de outros que a ele
se referiram e que chegaram até nós. E se uso o termo experiência aqui
não é sem motivo. O sentido que dou à palavra, nesse primeiro momento,
é o mais amplo e também o mais simples, emprestado da Filosofia de John
Dewey e do pragmatismo: experiência é tudo o que acontece.6 O universo,
dessa maneira, não é mais que um conjunto incessante de experiências, um
fluxo sem termo de eventos. Há, no entanto, um subconjunto de experiên-
cias, aquelas das quais participamos. Da mesma forma que o universo é
um conjunto de experiências, nessa definição, em nós ocorre também um
número enorme de ações e reações das quais não estamos conscientes ou
avisados: há a experiência da respiração e da circulação sanguínea, por
5
A ideia de conceber desse modo a Filosofia deriva, em grande parte, da obra de Pierre
Hadot (Cf., p. ex.: O que é a Filosofia Antiga. SP: Loyola, 1999). Sobre seu possível
papel em uma Filosofia da Educação, cf. Jan Masschelein e Maarten Simons, A peda-
gogia, a democracia, a escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
6
Cf. DEWEY, J. Experiência e Natureza. In: Os Pensadores. SP: Abril Cultural, 1980, e
Experiência e Educação. SP: Companhia Editora Nacional, 1971, entre outras obras.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
68 Filosofia como experiência e como educação
exemplo, que via de regra não percebemos, exceto no momento em que
nelas colocamos a nossa atenção. Ou seja, nesse microcosmos que somos,
há experiências que percebemos, e outras que acontecem, é fato, mas que
não notamos. Desse número inconcebível de experiências, matéria, por
assim dizer, de que é formada a realidade, há uma, a mais importante para
nós nesse ponto, que é a chamada experiência refletida, ou educativa.
Essa experiência é aquela em que estamos presentes, experiência na qual
pomos a funcionar deliberadamente o pensamento, ao observar um antes
e um depois em cujo intervalo alguma coisa se deu, e que se apresenta
a nós, coloca-se diante de nós. Aqui, nesse momento em que sustamos a
marcha, em que paramos e vemos (idealmente, mentalmente) o que nos
ocorre, o que acontece diante de nós, no intervalo entre um antes ou de-
pois, esse momento é muito assemelhado ao que aprendemos a chamar de
thaumazein, o admirar-se próprio da Filosofia desde, novamente, Platão.
De fato, a tradução latina do termo thaumazo (admirari), diz isso:
ficar surpreso, ad-mirar, olhar com atenção, perceber. Desde o começo, a
Filosofia parece trazer a marca da experiência, assim definida. Porém, a
palavra experiência traz em si um componente de risco, por vezes esque-
cido: a etimologia de experiência (experientia, experiens) indica o sentido
de pôr à prova, de testar, a si e aos outros. Ora, colocar-se à prova, testar
e examinar são também marcas da Filosofia desde Sócrates. A partícula
“-ex” indica um “para fora”, e o “-per” a presença de um limite, de uma
delimitação, uma fronteira (o perímetro de uma figura, a periferia da
cidade). Ou seja, no coração da experiência está a exigência do risco e o
chamado para se ultrapassar a fronteira.7 Em nosso caso, que limites se-
riam esses, se continuarmos diante da imagem que o Primeiro Alcibíades
nos traz? Não são, forçosamente, limites físicos, é óbvio, mas limites da
própria experiência. Em outras palavras, a tarefa ou o desafio lançado a
quem se envolve com a Filosofia é o de ser capaz de encontrar em todo
lugar objeto e motivo para a experiência ou para o espanto, tornando a
experiência definida nesses moldes como certo modo de vida, como uma
segunda natureza. E nesse caminho, ainda de acordo com a prescrição so-
crática, resta a alma como primeiro e privilegiado campo de investigação.
Não foi Heráclito mesmo quem disse que a alma é sem termo: “Mesmo
7
Cf. BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev.
Bras. Educ. [on-line], 2002, n.19, p. 20-28.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
Revista Páginas de Filosofia 69
percorrendo todos os caminhos, jamais encontrarás os limites da alma, tão
profundo é seu logos”? (B2).
É importante destacar, porém, que o cuidado-da-alma socrático, e
o conhece-te a ti mesmo délfico não têm nada de psicológico, no sentido
moderno. O que se escreveu na entrada do templo de Apolo para que todos
os visitantes vissem, foi algo como: “– Quem você pensa que é, mortal?”,
um chamado à moderação e a percepção de si mesmo, esse “si-mesmo”
que Sócrates instaura em uma alma que é o próprio homem, ou melhor,
a parte mais nobre do homem, porque capaz de conhecer e se autoconhe-
cer, experimentando a si mesma, testando-se, atentando a si mesma: em
suma, tornando-se consciente de si. O “gnothi seauton” socrático é um
apelo, dessa forma, à moderação, que funciona como impedimento, um
bloqueio que faz parar a marcha (em vez de forçá-la a acontecer, subindo
a “escarpada encosta” da caverna).
O que nos resta, portanto? O que pode nos dizer tudo isso, nesse
momento que marca o início de um novo ano letivo do Curso de Filoso-
fia? Talvez o seguinte, pensando que aqui falo a professores ou futuros
professores de Filosofia.
Primeiro, que é preciso deixar-se alcançar pela experiência refletida,
no sentido que demos a ela, e que essa experiência, antes de tudo, deve
ser uma experiência de si, outro modo de dizer cuidado-da-alma. Parece
desnecessário postular isso diante de uma plateia de filósofos, mas sabemos
todos, creio eu, o quanto os assim chamados filósofos são ciosos de suas
posições e de suas teses, capazes sem dúvida de obrigar Sócrates a beber
cicuta novamente, se fosse preciso.
Em outros termos, penso que mais nos vale, hoje, a imagem que
encontramos no Primeiro Alcibíades que a do Livro VII da República, se
pensarmos nas exigências feitas aos professores de Filosofia que somos. As
aulas que temos em uma faculdade de Filosofia pouco ou nada se referem
àquelas que deveremos dar na Educação Básica, no Ensino Médio: aqui,
na universidade, somos todos convertidos à espera do filósofo que virá nos
salvar dos grilhões e do simulacro do mundo, ou então, pior ainda, somos
já ex-prisioneiros rumo à saída, ou mesmo quase lá, para o que precisa-
remos, somente, de alguma ajuda mais burocrática e formal que efetiva.
Não, nos bancos da escola, para onde iremos, os jovens que nos esperam
não serão como nós somos; via de regra, pouco ou nada se interessarão
pela Filosofia, o que não é de todo ruim, mas um campo aberto, franqueado
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
70 Filosofia como experiência e como educação
para a experiência filosófica, se a quisermos fazer. Diante desses alunos, o
modelo de Filosofia representado pela Alegoria da Caverna talvez devesse
mesmo ser deixado de lado. Isso quer dizer: a partir dele, nós, professores,
não temos como evitar a incorporação do papel do libertador, seja apenas
pelo fato de levarmos até a sala a imagem e colocá-la a funcionar. Porém,
não temos nenhuma prerrogativa, nenhum direito ou garantia que nos possa
permitir dizer que o papel do filósofo nos cabe. Pode parecer exagero, e
talvez o seja, porque meu interesse maior não é dizer o que cada um de
vocês deve fazer diante de seus alunos, em suas salas. A isso serão dadas
respostas as mais variadas, todas podendo ser igualmente válidas. O que
me importa aqui, antes de tudo, não é o que o professor fará com a Filo-
sofia, mas o que a Filosofia fez e fará com ele. Ou seja, assumir o papel
de salvador e encarnar, seja como for, essas pretensões soteriológicas, é
colocar-se no alto e negar a imagem que encontramos no Primeiro Alci-
bíades, que dá como tarefa da Filosofia um trabalho que começa em um
mesmo nível de interlocução. Com isso não se nega, absolutamente, que
o professor deva possuir mais conhecimento e saberes que seus alunos:
isso não é só admitido, como é uma condição para o trabalho docente – é,
afinal, o percurso por dentro da tradição, a experiência na e pela tradição
que permite ao professor assim se colocar, não por generosidade, não por
bondade, mas no âmbito da mais estrita disciplina filosófica.
É preciso que o professor de Filosofia experimente consigo mesmo,
preste atenção e tome a si mesmo como objeto da experiência refletida.
Essa experimentação passa, obrigatoriamente, pela experimentação na
tradição filosófica, mas, da mesma forma, pela experimentação diante dos
alunos, diante da sala, que passa a ser não mais o lugar em que se “aplica”
ou se “demonstra” o que se sabe, por meio de um discurso competente ou
esclarecido, “iluminista” e emancipador, ou onde se encena a “construção”
de um saber já construído, com o qual os alunos precisam apenas con-
cordar para estarem certos – e o professor, confortável e satisfeito – mas
sim como um lugar privilegiado no qual a Filosofia acontece, nesse hiato
já marcado entre um antes e um depois, espaço ideal do admirar-se, do
espantar-se, do experimentar, um espaço de atenção que se dá a si e ao
outro. Nesse sentido, para o professor ao menos, a Filosofia pode vir a ser
educativa, eminentemente educativa, e representar mesmo o mais alto grau
de educação, que é a deliberada e conscientemente buscada autoeducação.
Revista Páginas de Filosofia, v. 7, n. 1, p.59-70, jan./jun. 2015
Você também pode gostar
- Filosofia, Encantamento e Caminho: Introdução ao Exercício do FilosofarNo EverandFilosofia, Encantamento e Caminho: Introdução ao Exercício do FilosofarAinda não há avaliações
- Acfrogcztq5yhlkjktk0osdmxe4kbpkrs6 J0eh66qqg9hxbfrbseep Rpeohiwsmwertlazjcoyyqswmyvz9ueu1 - Hvma4aey71aoicjcqqao-Fweaf6rjkd9lkotvktfr6nd0hwlzodtr3tffDocumento4 páginasAcfrogcztq5yhlkjktk0osdmxe4kbpkrs6 J0eh66qqg9hxbfrbseep Rpeohiwsmwertlazjcoyyqswmyvz9ueu1 - Hvma4aey71aoicjcqqao-Fweaf6rjkd9lkotvktfr6nd0hwlzodtr3tffMatheus TemistocleAinda não há avaliações
- 4206 12653 1 PBDocumento10 páginas4206 12653 1 PBErislan Fonseca SantosAinda não há avaliações
- Trabalho Filosofia de Educacao ANADocumento10 páginasTrabalho Filosofia de Educacao ANASamuel ZefaniasAinda não há avaliações
- PLATÃODocumento45 páginasPLATÃOproducaobiscuitgabiAinda não há avaliações
- Platão - ALEGORIA DA CAVERNADocumento3 páginasPlatão - ALEGORIA DA CAVERNAyasfssfreitasAinda não há avaliações
- A REPUBLICA Eles São Como NósDocumento6 páginasA REPUBLICA Eles São Como NósDaniele PeixotoAinda não há avaliações
- QUESTÕES Discursivas Filosofia AntigaDocumento5 páginasQUESTÕES Discursivas Filosofia AntigaMarceloAinda não há avaliações
- Platão e A Alegoria Da CavernaDocumento4 páginasPlatão e A Alegoria Da CavernaLuciene Costa de OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha Incospsi (1) Mito Da CavernaDocumento5 páginasResenha Incospsi (1) Mito Da CavernaFABIA GUIMARAESAinda não há avaliações
- Aula 12Documento20 páginasAula 12joaoAinda não há avaliações
- Apostila 2b Filosofia 1anoDocumento3 páginasApostila 2b Filosofia 1anoAlexandra BarrosAinda não há avaliações
- Análise Da Alegoria Da CavernaDocumento1 páginaAnálise Da Alegoria Da CavernaValquir Aragao100% (2)
- 3ano 1bi FilosofiamateriaDocumento8 páginas3ano 1bi FilosofiamateriaVinícius F. de SouzaAinda não há avaliações
- MITO DA CAVERNA: O Mito Ou Alegoria Da Caverna de Platão Trata de Conceitos Como Ignorância eDocumento2 páginasMITO DA CAVERNA: O Mito Ou Alegoria Da Caverna de Platão Trata de Conceitos Como Ignorância eara4oAinda não há avaliações
- Aula Platão PDFDocumento6 páginasAula Platão PDFGUSTAVO DE AMORIM FERNANDEZAinda não há avaliações
- PLATÃO - o Mundo Das Ideias e o Mundo SensívelDocumento4 páginasPLATÃO - o Mundo Das Ideias e o Mundo SensívelVitor CostaAinda não há avaliações
- TCC-Carlos Oliveira de Araujo 230816 173202Documento46 páginasTCC-Carlos Oliveira de Araujo 230816 173202victoriaoliveira.ibgsAinda não há avaliações
- Luiz Eva - Filosofia Da Visão Comum Do Mundo e Ceticismo - Pascal Ou Moataigne PDFDocumento38 páginasLuiz Eva - Filosofia Da Visão Comum Do Mundo e Ceticismo - Pascal Ou Moataigne PDFJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Socrat Platao 1ano 3bim 2021 ADocumento2 páginasSocrat Platao 1ano 3bim 2021 Amonica moraesAinda não há avaliações
- A Teoria Das Ideias - RussellDocumento6 páginasA Teoria Das Ideias - RussellOsny TavaresAinda não há avaliações
- Olavo de Carvalho - HEF 05, Pré-SocráticosDocumento58 páginasOlavo de Carvalho - HEF 05, Pré-Socráticosjaime100% (1)
- DUHOT, Jean-Joël Duhot - Sócrates Ou o Despertar Da Consciência-Loyola (2004)Documento199 páginasDUHOT, Jean-Joël Duhot - Sócrates Ou o Despertar Da Consciência-Loyola (2004)Ingrid SouzaAinda não há avaliações
- PLATÃODocumento10 páginasPLATÃOAndré FayãoAinda não há avaliações
- Historia Essencial Da Filosofia Volume 1 Paulo Ghiraldelli JuniorDocumento91 páginasHistoria Essencial Da Filosofia Volume 1 Paulo Ghiraldelli JuniorEDINILSON SALATESKIAinda não há avaliações
- Aula 146 RevisadaDocumento20 páginasAula 146 RevisadaAlex Ferreira da SilvaAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Popper e PlatãoDocumento5 páginasResenha Crítica Popper e PlatãoPaulo RodriguesAinda não há avaliações
- Mito Da CavernaDocumento5 páginasMito Da CavernaRafa LimaAinda não há avaliações
- Origem Do Pensamento OcidentalDocumento14 páginasOrigem Do Pensamento OcidentalItalo100% (1)
- A Caverna de PlataoDocumento4 páginasA Caverna de PlataoNatiele Calmon100% (2)
- Texto 3Documento27 páginasTexto 3cadejic827Ainda não há avaliações
- Deleuze e Guattari - o Que É A Filosofia (Gilles Deleuze e Félix Guattari)Documento92 páginasDeleuze e Guattari - o Que É A Filosofia (Gilles Deleuze e Félix Guattari)Alysson Angelo100% (1)
- Aula I 1 B O Que É FilosofiaDocumento3 páginasAula I 1 B O Que É FilosofiaAna CecíliaAinda não há avaliações
- FILOSOFIA Aristoteles1Documento3 páginasFILOSOFIA Aristoteles1lourdescsAinda não há avaliações
- Resumo Comentado. A Alegoria Da Caverna. - Filosofia Do Direito.Documento4 páginasResumo Comentado. A Alegoria Da Caverna. - Filosofia Do Direito.Denilson AlbinoAinda não há avaliações
- Socrates e Teoria Das Ideiais de Platão PDFDocumento11 páginasSocrates e Teoria Das Ideiais de Platão PDFAnor Afonso SerioAinda não há avaliações
- PDF 20230321 174741 0000Documento14 páginasPDF 20230321 174741 0000Maria Eduarda Menezes DiasAinda não há avaliações
- Platão e o Mundo Das IdeiasDocumento4 páginasPlatão e o Mundo Das IdeiasAlessandraRibasAinda não há avaliações
- A Vida e As Obras PLATÃODocumento5 páginasA Vida e As Obras PLATÃORobert50% (6)
- Trabalho de FilosofiaDocumento8 páginasTrabalho de FilosofiaKevin TrindadeAinda não há avaliações
- A Sabedoria Estóica e o Seu DestinoDocumento8 páginasA Sabedoria Estóica e o Seu DestinoJoana SantosAinda não há avaliações
- Platão - 1º ExcertoDocumento13 páginasPlatão - 1º ExcertomargaridaAinda não há avaliações
- PlatãoDocumento20 páginasPlatãoMateus Eduardo Chiodelli QuadrosAinda não há avaliações
- Borrão MetafísicaDocumento9 páginasBorrão MetafísicaAlexandre NormandiaAinda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento4 páginasResenha CríticaLucas CorreaAinda não há avaliações
- Platão Parte 1Documento15 páginasPlatão Parte 1Lavínia ChehuenAinda não há avaliações
- Bocayuva, Izabela - Entre o Parmênides e O Sofista de Platão PDFDocumento11 páginasBocayuva, Izabela - Entre o Parmênides e O Sofista de Platão PDFRafael SaldanhaAinda não há avaliações
- Filosofia e Política para A IntroduçãoDocumento7 páginasFilosofia e Política para A Introduçãojonatas.2021803062Ainda não há avaliações
- Platao A Alegoria Da Caverna e A MissaoDocumento10 páginasPlatao A Alegoria Da Caverna e A Missaojose_carlos_s_de_almeida2799Ainda não há avaliações
- Dicionário de Termos LiteráriosDocumento5 páginasDicionário de Termos LiteráriosMariana MirandaAinda não há avaliações
- Platão e o Conhecimento InatoDocumento9 páginasPlatão e o Conhecimento InatoFrancisco Rafael Da Silva DiasAinda não há avaliações
- O Mundo Como Vontade e RepresentaçãoDocumento270 páginasO Mundo Como Vontade e RepresentaçãoJuliano Augusto100% (3)
- Sócrates pensador e educador: A filosofia do conhece-te a ti mesmoNo EverandSócrates pensador e educador: A filosofia do conhece-te a ti mesmoAinda não há avaliações
- Oficina de Filosofia I: Como filósofos, alquimistas e cientistas transformaram nossa maneira de ver o mundoNo EverandOficina de Filosofia I: Como filósofos, alquimistas e cientistas transformaram nossa maneira de ver o mundoAinda não há avaliações
- Otopia Este Livro E Um InsaioNo EverandOtopia Este Livro E Um InsaioAinda não há avaliações
- Preto Velho e Pedagogia Do Tempo PresenteDocumento14 páginasPreto Velho e Pedagogia Do Tempo PresenteMARIA ISABEL PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- A Forma EscolarDocumento15 páginasA Forma EscolarMARIA ISABEL PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- O Papel Do Professor Na Educação Sexual de AdolescentesDocumento8 páginasO Papel Do Professor Na Educação Sexual de AdolescentesMARIA ISABEL PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Educação Sexual No Contexto Familiar e EscolarDocumento14 páginasEducação Sexual No Contexto Familiar e EscolarMARIA ISABEL PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Educacao Sexual - Principios para AcaoDocumento7 páginasEducacao Sexual - Principios para AcaoMARIA ISABEL PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Estética e Filosofia Da ArteDocumento176 páginasEstética e Filosofia Da ArteManoel Henrique100% (1)
- 19 TEL HIS 6ANO 3BIM Sequencia Didatica 2 TRTARTDocumento5 páginas19 TEL HIS 6ANO 3BIM Sequencia Didatica 2 TRTARTETEVALDO OLIVEIRA LIMAAinda não há avaliações
- Fichamento Da República de PlatãoDocumento11 páginasFichamento Da República de PlatãoRogério86% (14)
- Caderno Formacao Pedagogia - 4 PDFDocumento184 páginasCaderno Formacao Pedagogia - 4 PDFAntonio Moises FreireAinda não há avaliações
- 2 PlatãoDocumento8 páginas2 PlatãoManoel Cleber Sampaio SilvaAinda não há avaliações
- SeminarioDocumento26 páginasSeminarioJULIO LUIS ASSUNCAO VASCONCELOSAinda não há avaliações
- 06 PlatâoDocumento7 páginas06 PlatâoFRANCISCO LEONARDO DE SOUSA LEITEAinda não há avaliações
- Benito Mussolini - Discursos Da RevolucaoDocumento48 páginasBenito Mussolini - Discursos Da RevolucaoJoao Paulo S. AlvesAinda não há avaliações
- GOMES, Angela de Castro. Primeira Republica No Brasil - Uma História Da Historiografia.Documento41 páginasGOMES, Angela de Castro. Primeira Republica No Brasil - Uma História Da Historiografia.Carlos AugustoAinda não há avaliações
- Direito AUTORESDocumento70 páginasDireito AUTORESRuiDias100% (1)
- Questão Sobre PlatãoDocumento11 páginasQuestão Sobre PlatãoLicafileosAinda não há avaliações
- Transcrição Da Aula 73Documento8 páginasTranscrição Da Aula 73Sávio IlitchAinda não há avaliações
- 427 - FilosofiaDocumento60 páginas427 - FilosofiaklymlmlAinda não há avaliações
- Texto 1 - A Psicologia Na Antiguidade ClássicaDocumento5 páginasTexto 1 - A Psicologia Na Antiguidade ClássicaIlana Nobre (Lalá)Ainda não há avaliações
- ORTEGA, Francisco - Da Ascese A BioasceseDocumento30 páginasORTEGA, Francisco - Da Ascese A BioasceseAngelo PeixotoAinda não há avaliações
- O BeloDocumento15 páginasO BeloSérgio SilasAinda não há avaliações
- Aula 2 - Sócrates, Platão e AristótelesDocumento10 páginasAula 2 - Sócrates, Platão e AristótelesRoberto GabryAinda não há avaliações
- Filosofia Do Direito Nos Pensamentos Clássico E MedievalDocumento66 páginasFilosofia Do Direito Nos Pensamentos Clássico E MedievalDeise ConceiçãoAinda não há avaliações
- Aulas - 3º Ano - Filosofia - 4B - 2021Documento39 páginasAulas - 3º Ano - Filosofia - 4B - 2021alexonAinda não há avaliações
- Capitão FantásticoDocumento2 páginasCapitão FantásticoLavinya InácioAinda não há avaliações
- Apol 2 Formação Sócio Histórica No BrasilDocumento3 páginasApol 2 Formação Sócio Histórica No BrasilJucélia Viky SpínolaAinda não há avaliações
- Fichamento: O Mito Da CavernaDocumento4 páginasFichamento: O Mito Da CavernaGabriella Fagundes0% (1)
- A Democracia Uma IdeologiaDocumento20 páginasA Democracia Uma IdeologiaAdrianus ClaudiusAinda não há avaliações
- A Justiça de PlatãoDocumento4 páginasA Justiça de PlatãoBruna Akemi IshiiAinda não há avaliações
- TEXTO Analogia Do Sol, Alegoria Da Linha e o Mito Da Caverna PDFDocumento4 páginasTEXTO Analogia Do Sol, Alegoria Da Linha e o Mito Da Caverna PDFRoma Zanna100% (1)
- CP 2016-17Documento52 páginasCP 2016-17sofiaAinda não há avaliações
- O Belo Segundo PlatãoDocumento8 páginasO Belo Segundo PlatãocavinjaAinda não há avaliações
- Resenha Livro VIII A RepúblicaDocumento3 páginasResenha Livro VIII A RepúblicarobertoacscribdAinda não há avaliações
- Ordem de Leitura Dos Diálogos PlatônicosDocumento44 páginasOrdem de Leitura Dos Diálogos PlatônicosEmanoel Matos FerreiraAinda não há avaliações
- Luiz Gonzaga de Carvalho Neto - Fundamentos-Ciencia-Politica-Aula01Documento25 páginasLuiz Gonzaga de Carvalho Neto - Fundamentos-Ciencia-Politica-Aula01Luiz Oliveira100% (1)