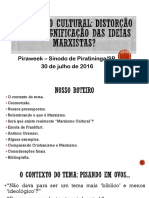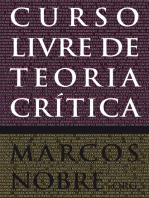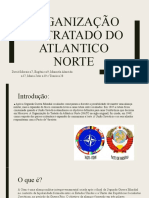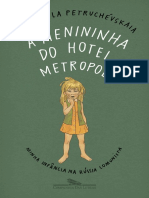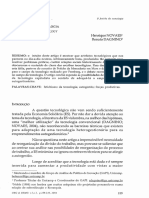Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Filósofo Marx e Seus Seguidores
O Filósofo Marx e Seus Seguidores
Enviado por
CGE SergipeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)
- Complô Contra A Igreja - Maurice Pinay PDFDocumento655 páginasComplô Contra A Igreja - Maurice Pinay PDFMatheus Lima100% (7)
- KONDER Leandro - Marx e A EducaçãoDocumento9 páginasKONDER Leandro - Marx e A EducaçãoIsabelle PerroutAinda não há avaliações
- Marx e A Sociologia Da EducaçãoDocumento15 páginasMarx e A Sociologia Da EducaçãoAlexandre de OliveiraAinda não há avaliações
- Karl Marx - A Miséria Da FilosofiaDocumento134 páginasKarl Marx - A Miséria Da FilosofiaJuliana Portuguez100% (1)
- Karl Marx o Filosofo Da RevolucaoDocumento5 páginasKarl Marx o Filosofo Da RevolucaoJerimilsonAinda não há avaliações
- Trabalho - Karl MarxDocumento8 páginasTrabalho - Karl MarxVitorAinda não há avaliações
- Karl MarxDocumento4 páginasKarl MarxNilson JuniorAinda não há avaliações
- Escola Marxista ConcluidoDocumento10 páginasEscola Marxista ConcluidoSaraiva JuniorAinda não há avaliações
- Karl Marx - 2010 PDFDocumento20 páginasKarl Marx - 2010 PDFCarolina MoreiraAinda não há avaliações
- Marxismo Cultural Ou NeomarxismoDocumento30 páginasMarxismo Cultural Ou NeomarxismoSamuel NuñesAinda não há avaliações
- Erich Fromm - A Adulteração Dos Conceitos de MarxDocumento6 páginasErich Fromm - A Adulteração Dos Conceitos de MarxAna BombassaroAinda não há avaliações
- Ebook - A Subversão Da OrdemDocumento20 páginasEbook - A Subversão Da Ordemrebeca.marques3Ainda não há avaliações
- Resumo 10 Lições Sobre MarxDocumento3 páginasResumo 10 Lições Sobre MarxToni MouraAinda não há avaliações
- O Que É MarxismoDocumento44 páginasO Que É MarxismoVmsilva SilvaAinda não há avaliações
- Aula 5 - MarxDocumento35 páginasAula 5 - Marxluciana limaAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos Do MarxismoDocumento2 páginasConceitos Básicos Do MarxismoSonia HentzAinda não há avaliações
- Ensaio 555 - Marx Não Foi Marxista - Prof. Pedro DemoDocumento19 páginasEnsaio 555 - Marx Não Foi Marxista - Prof. Pedro DemoFlávia MendesAinda não há avaliações
- Direito, Estado e Sociedade...Documento4 páginasDireito, Estado e Sociedade...marconcelosAinda não há avaliações
- O Que É Marxismo - José Paulo NettoDocumento86 páginasO Que É Marxismo - José Paulo NettoMurilo ValentimAinda não há avaliações
- Sociologia e RelaçõesDocumento8 páginasSociologia e RelaçõesWallerson BritoAinda não há avaliações
- Karl MarxDocumento8 páginasKarl MarxBrennda AlvesAinda não há avaliações
- Marx e Os MarxismosDocumento15 páginasMarx e Os MarxismosJosias MacedoAinda não há avaliações
- A Educação Infantil Na Visão Socialista de Karl MarxDocumento17 páginasA Educação Infantil Na Visão Socialista de Karl MarxMaria Adeilma MenesesAinda não há avaliações
- Marx e A Sociologia CríticaDocumento13 páginasMarx e A Sociologia CríticaAndré SáAinda não há avaliações
- TEXTO 1 Introdução À Filosofia de Marx I - IVDocumento28 páginasTEXTO 1 Introdução À Filosofia de Marx I - IVAloisioSousaAinda não há avaliações
- A Mais-Valia IdeológicaDocumento12 páginasA Mais-Valia Ideológicalinesantos210% (1)
- Teorias - Da - Historia - II - Aula - 9 - MarxDocumento8 páginasTeorias - Da - Historia - II - Aula - 9 - MarxMatheus Tavares NascimentoAinda não há avaliações
- Marcos Del Roio - Marx e A Luta PolíticaDocumento157 páginasMarcos Del Roio - Marx e A Luta Políticafilo filoAinda não há avaliações
- (2004) Ivo Tonet & Sergio Lessa - Introducao À Filosofia de MarxDocumento77 páginas(2004) Ivo Tonet & Sergio Lessa - Introducao À Filosofia de MarxAdenilton SabóiaAinda não há avaliações
- Unidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisDocumento28 páginasUnidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisBraspav UsinaAinda não há avaliações
- Cartilha de MarxismoDocumento35 páginasCartilha de Marxismoasperança100% (1)
- Backup FiloDocumento9 páginasBackup FiloMILTON ELIASAinda não há avaliações
- Texto Inicial - KARL MARXDocumento2 páginasTexto Inicial - KARL MARXCARDAN KRUCHE DA ROSAAinda não há avaliações
- Karl Marx e o Marxismo - InfoEscola - InfoEscolaDocumento5 páginasKarl Marx e o Marxismo - InfoEscola - InfoEscolaJoãoPedroMedeirosAinda não há avaliações
- Exercícios Karl MarxDocumento2 páginasExercícios Karl MarxmaressastudyAinda não há avaliações
- Vida Alternativa 1985 Fernando GabeiraDocumento36 páginasVida Alternativa 1985 Fernando Gabeirapatriciaaso100% (1)
- Resumo Teoria MarxistaDocumento4 páginasResumo Teoria MarxistaVALQUIRIA VELASCOAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Karl MarxDocumento7 páginasArtigo Sobre Karl MarxPaulo AndradeAinda não há avaliações
- Apostila Sobre Karl Marx 2023Documento33 páginasApostila Sobre Karl Marx 2023GuttinBrAinda não há avaliações
- Do Manifesto Comunista Ao Direito Do TrabalhoDocumento14 páginasDo Manifesto Comunista Ao Direito Do TrabalhoMarcelo HenriqueAinda não há avaliações
- Netto. o Que É MarxismoDocumento44 páginasNetto. o Que É MarxismoRafael Loureiro100% (3)
- 940-Texto Do Artigo-3877-1-10-20211223Documento4 páginas940-Texto Do Artigo-3877-1-10-20211223Luana OliveiraAinda não há avaliações
- Cesar Mangolin de Barros o Conceito de Modo de Producao 2010Documento19 páginasCesar Mangolin de Barros o Conceito de Modo de Producao 2010Cabral SilvaAinda não há avaliações
- Alienacao No Jovem MarxDocumento5 páginasAlienacao No Jovem MarxerickslashAinda não há avaliações
- Nestor Kohan PDFDocumento56 páginasNestor Kohan PDFartuloboAinda não há avaliações
- Teoria MarxistaDocumento4 páginasTeoria MarxistaVALQUIRIA VELASCOAinda não há avaliações
- Origens e Fontes Do MarxismoDocumento104 páginasOrigens e Fontes Do MarxismoJonas MagalhãesAinda não há avaliações
- Artigo - Principais Pressupostos Do MarxismoDocumento16 páginasArtigo - Principais Pressupostos Do MarxismoWillian Fontes100% (1)
- Jordania Kalina,+idealogando Artigo+3+-+v+5 n+1 2021 +Rodrigo+Barros+e+João+Oliveira+Documento12 páginasJordania Kalina,+idealogando Artigo+3+-+v+5 n+1 2021 +Rodrigo+Barros+e+João+Oliveira+juliana.costa.souzaAinda não há avaliações
- 2 Série Filosofia TRILHA Semana 32Documento5 páginas2 Série Filosofia TRILHA Semana 32Jucelino CarvalhoAinda não há avaliações
- N° 11 Karl Max - EditadoDocumento22 páginasN° 11 Karl Max - Editadomicael329fAinda não há avaliações
- Trabalho SubDocumento3 páginasTrabalho SubAdeleye OluoruAinda não há avaliações
- Marx e A Luta Politica - Marcos Del RoioDocumento122 páginasMarx e A Luta Politica - Marcos Del RoioRodrigo BlerghAinda não há avaliações
- FPE TX 08 BARBOSA Estado e Poder Político em Marx - 240410 - 161122Documento38 páginasFPE TX 08 BARBOSA Estado e Poder Político em Marx - 240410 - 161122Ezeq RochaAinda não há avaliações
- Marx e Sua FilosofiaDocumento3 páginasMarx e Sua FilosofiaSebastião BritoAinda não há avaliações
- Karl Marx e A Concepção Materialista Da HistóriaDocumento10 páginasKarl Marx e A Concepção Materialista Da HistóriawagtontiAinda não há avaliações
- Curso Fundamentos TeoriasokDocumento21 páginasCurso Fundamentos TeoriasokgilsonAinda não há avaliações
- Estudos políticos e pensamento social: Volume 1No EverandEstudos políticos e pensamento social: Volume 1Ainda não há avaliações
- Microsoft Word VPR Mestrado Fábio Chagas - 1Documento118 páginasMicrosoft Word VPR Mestrado Fábio Chagas - 1Aluizio PalmarAinda não há avaliações
- NatoDocumento6 páginasNatoManuela AlmeidaAinda não há avaliações
- As Mulheres Durante o HolocaustoDocumento8 páginasAs Mulheres Durante o HolocaustoSergio LsAinda não há avaliações
- Nova Ordem Mundial 1Documento10 páginasNova Ordem Mundial 1Camile LucenaAinda não há avaliações
- Revolução Russa Slides CompletoDocumento19 páginasRevolução Russa Slides CompletorodolfoAinda não há avaliações
- A Evolucao Do Terrorismo Segundo A Teoria Das Quatro Ondas Do Terrorismo Moderno PDFDocumento32 páginasA Evolucao Do Terrorismo Segundo A Teoria Das Quatro Ondas Do Terrorismo Moderno PDFDEIJENANE SANTOSAinda não há avaliações
- Revista Movimento (N. 17) Crise Global - Pandemia Da COVID-19, Protestos Nos EUA e A Situação BrasileiraDocumento253 páginasRevista Movimento (N. 17) Crise Global - Pandemia Da COVID-19, Protestos Nos EUA e A Situação BrasileiraRodrigo P. BernardiAinda não há avaliações
- Trabalho de Geografia, Dados EconomicosDocumento27 páginasTrabalho de Geografia, Dados EconomicosdeboresAinda não há avaliações
- Teste de HistóriaDocumento5 páginasTeste de HistóriaSusana Lopes100% (2)
- 11 Alusões Históricas para Usar em Suas RedaçõesDocumento1 página11 Alusões Históricas para Usar em Suas RedaçõesJrAinda não há avaliações
- A Menininha Do Hotel Metropol - Liudmila PetruchévskaiaDocumento345 páginasA Menininha Do Hotel Metropol - Liudmila PetruchévskaiaandreaAinda não há avaliações
- Historia Das Instituicoes Politicas IIDocumento15 páginasHistoria Das Instituicoes Politicas IICrisEnginheiroAinda não há avaliações
- Guia de Estudos - OTAN (2008)Documento29 páginasGuia de Estudos - OTAN (2008)Matheus MottaAinda não há avaliações
- A Abordagem Pikler-Loczy e A Perspectiva Histórico-Cultural - A Criança Pequenininha Como Sujeoto Nas Relações (Suely Amaral Mello) PDFDocumento22 páginasA Abordagem Pikler-Loczy e A Perspectiva Histórico-Cultural - A Criança Pequenininha Como Sujeoto Nas Relações (Suely Amaral Mello) PDFViviane Fuggi LopesAinda não há avaliações
- Sabrina Guerra de Menezes - Revolução RussaDocumento4 páginasSabrina Guerra de Menezes - Revolução RussaLotussAinda não há avaliações
- A Relação Da Obra 1984 Com A URSSDocumento15 páginasA Relação Da Obra 1984 Com A URSSRodrigo PoliceAinda não há avaliações
- Biondi - Jorge - Venturini - O Mundo Com e Sem A Uniao SovieticaDocumento193 páginasBiondi - Jorge - Venturini - O Mundo Com e Sem A Uniao Sovieticaricardocultura2023Ainda não há avaliações
- Simulado 3 SérieDocumento3 páginasSimulado 3 SérieAna Clara Pereira BragaAinda não há avaliações
- PAIM, Antonio. Momentos Decisivos Na História Do BrasilDocumento149 páginasPAIM, Antonio. Momentos Decisivos Na História Do BrasilelsribeiroAinda não há avaliações
- 26 - Descolonização Da Ásia e ÁfricaDocumento45 páginas26 - Descolonização Da Ásia e Áfricapi31416666100% (1)
- Prova 3Documento2 páginasProva 3Guilherme Silveira de MeloAinda não há avaliações
- Simulado 9º Ano 1Documento7 páginasSimulado 9º Ano 1Luan RibeiroAinda não há avaliações
- BERNARDO, João - Labirintos Do Fascismo, CP2Documento6 páginasBERNARDO, João - Labirintos Do Fascismo, CP2Marcello BecreiAinda não há avaliações
- O Vermelho e o Medo - Revista de HistóriaDocumento5 páginasO Vermelho e o Medo - Revista de HistóriaDanilo NogueiraAinda não há avaliações
- NOVAES - O Fetiche Da TecnologiaDocumento21 páginasNOVAES - O Fetiche Da TecnologiaJonathan Cumbicos GómezAinda não há avaliações
- Plano de Aula - 9º AnoDocumento17 páginasPlano de Aula - 9º AnoBrunoVassilievichAinda não há avaliações
- Resenha-Historia Da URSSDocumento10 páginasResenha-Historia Da URSSBoludo MascacoAinda não há avaliações
- Por Que Hitler Desobedeceu o Tratado de VersalhesDocumento6 páginasPor Que Hitler Desobedeceu o Tratado de VersalhesEduardo de SousaAinda não há avaliações
- Resenha - O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgákov (Parte 2) - Literatura Russa para BrasileirosDocumento24 páginasResenha - O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgákov (Parte 2) - Literatura Russa para BrasileirosProfessorpedagogiaAinda não há avaliações
O Filósofo Marx e Seus Seguidores
O Filósofo Marx e Seus Seguidores
Enviado por
CGE SergipeDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Filósofo Marx e Seus Seguidores
O Filósofo Marx e Seus Seguidores
Enviado por
CGE SergipeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
84
O Filósofo Marx e seus Seguidores
Leandro Konder
Filósofo
Karl Marx (1818-1883), filósofo alemão famoso, é ainda hoje objeto de
referências apaixonadamente pró e contra, muito mais do que de leituras
atentas e de estudos despreconceituosos.
Uma das dificuldades que surgem no caminho do estudo de Marx está
exatamente no fato de que o seu pensamento é tido por conhecido, versões
sumárias das suas ideias circulam em ambientes tumultuados por discussões
políticas.
De Marx, todo mundo sabe (ou julga saber) que ele era um teórico do
comunismo, inspirador da extinta União Soviética e da experiência do
leninismo, que traduziu sua perspectiva em ação. Por que as pessoas
perderiam tempo decifrando O Capital se podem conhecer sua teoria através
das atividades de seus seguidores?
As coisas se complicam ainda mais quando se leva em conta o fato de
que Marx não marcou presença apenas na crítica da economia e na crítica da
política, mas é um pensador original, que se doutorou em filosofia. E sobre
Marx especificamente como filósofo, os conhecimentos costumam ser
esparsos, fragmentários, esgarçados.
Experimentem fazer um teste, uma rápida pesquisa. Em um
acontecimento social, um jantar, um almoço, uma exposição, um lançamento
de livro, ouvindo alguém repetir a frase do nosso bravo Caetano (só é possível
filosofar em alemão), indague, num tom humilde:
- Gente, será que algum de vocês pode me explicar o que é a
“alienação”, para Marx? O que é o “estranhamento”? É a mesma coisa?
E, enquanto te olharem com perplexidade, talvez mesmo com
constrangimento vá adiante, insista:
- Confesso que não entendo o conceito de “ideologia”. Ideologia é
mentira, é propaganda? Existem ideologias do Bem e ideologias do Mal?
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
85
E – pelamordedeus! (estilo Aldo Rabelo) – me esclareçam o que
significa esse estranho conceito de práxis. Práxis é a mesma coisa que
prática?
Se você não for expulso do recinto, pode continuar a fazer suas
perguntas. Indague o que é a misteriosa “mais-valia”. Qual é a diferença entre
socialismo e comunismo? Qual era, para Marx, a importância da relação
homem/mulher? Tenho a impressão de que, se forem recolhidas muitas
respostas, os resultados dessa minipesquisa confirmarão que as pessoas, em
geral, conhecem menos de Marx do que se supõe. Mesmo indivíduos
inteligentes e bem informados, deixarão transparecer escassa familiaridade
com a matéria.
O fenômeno é compreensível. Os textos mais importantes em que Marx
expôs suas convicções filosóficas custaram a ser publicados e divulgados. Os
Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, por exemplo, só foram
publicados em 1932, quer dizer, 88 anos depois de terem sido escritos, 49
anos após a morte do seu autor.
Outra circunstância deve ser lembrada: o simples nome de Marx,
tornado célebre, identificado com “revolução”, irritava os detentores do poder,
era visto como uma provocação “subversiva”. E os grupos eventualmente
criados para estudá-lo estavam sujeitos à repressão. Compreende-se, então,
que o conhecimento do pensamento de Marx não correspondesse à sua fama.
Ele tinha de ser, mesmo, mais famoso do que conhecido.
MARX E A POLÍTICA
O final do séc. XIX foi um tempo de mudanças fundamentais. Marx que
morreu em 1883, não as viu. Friedrich Engels (1820-1895), entretanto, como
morreu 12 anos depois do amigo, teve ocasião de enxergá-las e refletir sobre
elas. Em 1848, o campo de batalha era um; em 1895 havia-se modificado, era
outro.
O velho campo de batalha era o das barricadas nas ruas, da retórica
radical antiburguesa, dos protestos românticos, dos derramamentos
sentimentais.
O novo campo de batalha era o de conflitos e negociações com o
patronato. Os primeiros partidos modernos de massas e os primeiros sindicatos
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
86
modernos de massa, da história, tinham um elevado poder de fogo, porém
tinham também muito senso de responsabilidade. Havia muita preocupação
com a governabilidade. Quando a nova Constituição foi aprovada e se
estabeleceu o “sufrágio universal”, setores de extrema esquerda foram contra e
Engels (sem entusiasmo) foi a favor. Era um direito de alcance limitado, um
sufrágio exclusivamente masculino. Mesmo sendo frustrante, nem assim os
liberais tinham conseguido apresentá-lo, defendê-lo e fazê-lo ser reconhecido.
O Partido Social-Democrata foi quem faturou o maior crescimento de
popularidade com a vitória (ainda que magra).
A bancada do Partido entrou em maré de crescimento, sua direção tinha
cabeças políticas altamente qualificadas, como Karl Kautsky, August Bebel,
Edward Bernstein. Os sindicatos foram providos de boas bibliotecas. Foram
ministrados cursos de alto nível (entre os professores, se destacava Rosa
Luxemburgo). Nos primeiros anos do século XX, já começava a ficar claro que,
pelo caminho da mobilização por reformas (e não pelo caminho da revolução),
o Partido ia logo se tornar o maior partido da Alemanha.
A CONCEPÇÃO DO HOMEM
Como foi que Marx chegou a formular os principais conceitos da sua
filosofia? Sabemos que no segundo semestre de 1843, ele se casou com
Jenny von Westfallen, leu muito, escreveu sobre a sociedade burguesa e sua
dilaceração.
O aprofundamento da análise, entretanto, dependia de um ângulo que
proporcionasse ao crítico uma visão mais abrangente, uma visão capaz de
abranger o movimento das contradições em seu conjunto (como um todo!), e
capaz de enxergar a direção em que aconteceria a sua superação (e identificar
qual o setor da sociedade que atuaria como portador material da mudança).
No início de 1844, Marx já tinha se convencido de que o portador do
movimento revolucionário que deveria superar a sociedade burguesa era o
proletariado. E ele se dispôs a repensar criticamente o que a burguesia vinha
dizendo e fazendo, questionando-a do ângulo de uma filosofia que seria
simultaneamente uma filosofia do trabalho e dos trabalhadores.
Essa convicção de Marx foi decisiva na construção da sua filosofia. Os
trabalhadores da indústria eram as maiores vítimas da exploração, os maiores
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
87
interessados em que ela terminasse. Tomando consciência da sua situação, a
classe operária se tornaria a vanguarda de uma mobilização ampla, de uma
luta sem precedentes na história da humanidade, que pela primeira vez se
libertaria da divisão social do trabalho.
Um primeiro desafio que Marx enfrenta está na sua defesa da
especificidade do trabalho humano, que o capital reduz a uma atividade de tipo
animal. Marx mostra que há uma diferença qualitativa essencial entre o
“trabalho” de uma abelha e o trabalho de um arquiteto. A abelha é inteiramente
guiada por uma força que a impulsiona automaticamente ao fazer sua colmeia;
seu procedimento não muda, é o mesmo há milênios. Em nenhum momento a
abelha “antecipa” alguma representação do que vai fazer.
O arquiteto, não. Ele precisa da antecipação. Faz a planta da casa, um
momento necessário da sua criação. O trabalho humano engendra o novo,
passa por um espaço de liberdade, no qual são feitas escolhas, são tomadas
decisões. E foi assim que Marx chegou a sua original concepção do homem: o
homem, pelo trabalho, fez-se a si mesmo.
A pergunta dramática que o revolucionário não podia deixar de fazer era
a seguinte: como foi que o trabalho, de atividade pela qual o ser humano se
criou, se tornou essa atividade abominável que os trabalhadores são forçados
a realizar?
A ALIENAÇÃO
Em Paris, desempregado, com a mulher e uma filha pequena (outra a
caminho), em pleno verão de 1844, sentado em cima de pilhas de exemplares
da revista que seus amigos tinham resolvido publicar lá – em alemão – Marx
passava horas escrevendo um texto que não era para ser publicado: era para
ele mesmo se esclarecer a respeito do que pensava. Estavam nascendo os
Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844.
O sujeito humano se defronta com uma situação insólita. O crescimento
das forças produtivas, o rápido progresso tecnológico, o crescente domínio
sobre as forças naturais, afinal, não resultaram imediatamente em benefícios
para os trabalhadores. Ao contrário: tal como o trabalho é imposto ao
trabalhador, tal como o trabalhador o vê, ele se tornou uma atividade de
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
88
“estranhamento”, de “alienação” (palavras de significado praticamente igual). O
trabalhador não possui os grandes meios de produção.
Desde a revolução industrial, as máquinas que vêm sendo inventadas
têm sido cada vez mais complicadas e cada vez mais caras. Só o capitalista
pode possuí-las. O trabalhador possui apenas sua força de trabalho, sua
capacidade de criar valores. Ele se vê atrelado a um sistema no qual o trabalho
“produz riqueza para os ricos, mas privação para o trabalhador; produz
palácios, mas cavernas para o trabalhador; produz beleza, mas deformação
para o trabalhador”.
Antes mesmo de passar a existir, parido pelas máquinas da fábrica, o
objeto criado para ser mercadoria já pertence a outro que não o trabalhador.
Esse fenômeno, por assim dizer, “contamina” a sociedade inteira. Tal
como o operário se defronta com uma força um tanto misteriosa, que lhe rouba
o que ele produziu, o cidadão vê as instituições e as leis que ele fez (ou que ao
menos foram feitas em seu nome) se erguerem diante dele como uma força
estranha (estranhamento) ou como uma força alienada (alienação).
A criação se voltava contra o criador. Antes dessa inversão, as
condições acarretavam menos estragos e permitiam que os resultados de
algumas batalhas fossem positivos. Marx lamenta os danos causados ao rico
patrimônio de autoconhecimento acumulado ao longo de milênios pelo
processo de transformação da percepção sensorial, articulado com a
sensibilidade dos homens. “A formação dos cinco sentidos é um trabalho de
toda a história do mundo”.
Esse trabalho, contudo, estava sendo severamente danificado. “O lugar
de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado (...) pelo
simples estranhamento de todos os sentidos pelo sentido do TER”. O jovem
Marx denuncia o caráter mistificador do individualismo e a manobra ideológica
que consiste em contrapor os indivíduos concretos à sociedade abstrata. “O
individuo é o ser social”. Os indivíduos são inequivocamente indivíduos, por
isso pertencem a coletividades efetivamente social-individuais. A redução dos
caminhos da apropriação da riqueza da realidade pelo homem ao TER é uma
redução drasticamente empobrecedora. Segundo seus critérios, o homem rico
seria o que tem muito dinheiro, muitas propriedades: a riqueza estaria em algo
que está objetivamente fora do homem, algo de que ele se apropriou, mas
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
89
pode perder. De acordo com o critério adotado pela filosofia socialista, seres
humanos serão mais ricos ou mais pobres dependendo do nível mais profundo
ou mais superficial em que necessitam de manifestações de humanidade por
parte de outros seres humanos.
A IDEOLOGIA E A PRAXIS
As condições em que a sociedade dividida se mantém organizada
necessitam de um encobrimento da importância da divisão. A unidade do
gênero humano é relativizada. O processo real pelo qual os indivíduos se
tornam mais autônomos é mistificado: a individualização deixa de ser
reconhecida como resultado da história e passa a ser vista, do ângulo do
individualismo, como causa da história.
Os detentores do poder são levados a crer que o ponto de vista deles é,
por si mesmo, universal. Essa convicção é transmitida a toda a sociedade. Fica
estabelecida, no plano da construção do conhecimento, uma combinação de
conhecimento genuíno e representação truncada: a ideologia.
Não há conhecimento que possa se pretender imune à distorção
ideológica. Mas também é preciso que se diga: o fato de que a ideologia
onipresente distorça o conhecimento não quer dizer que ela o destrua. Marx,
exilado em Londres, passou anos estudando os escritos dos economistas
ingleses, dizendo que eles não eram científicos, eram ideológicos. Nem por
isso deixou de reconhecer que aprendia muitas coisas com eles.
Há duas direções nas quais o pensamento destrói a ideologia. A primeira
é aquela que proclama que tudo é ideológico. Se fosse assim, nada seria
ideológico, nada distinguiria a especificidade da ideologia. E a segunda é
aquela que reduz a distorção ideológica a mero lapso, falha sempre corrigível,
tropeço resultante de alguma desatenção do cientista. A ideologia, reduzida a
essas proporções, perde completamente sua eficácia questionadora, seu
significado como reveladora de problemas mais profundos na construção do
conhecimento. A ideologia lança suspeitas sobre o conhecimento, cria
problemas de difícil solução. Há problemas teóricos que a teoria não resolve.
Quando a teoria se perde em seu próprio labirinto e não corresponde ao que a
realidade está lhe cobrando, o jeito é ceder o comando ao engajamento prático
dos seres humanos. Nesse engajamento, os homens aproveitam o que querem
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
90
do acervo da teoria. Marx, evitando qualquer compromisso com uma dedicação
unilateral à teoria, escreveu: “Os filósofos têm se limitado a interpretar o
mundo. Trata-se, porém, de transformá-lo”.
Walter Benjamin, admitindo que a teoria de inspiração dialética corria o
risco de se entregar demais à articulação dos processos e dos fenômenos em
suas infindáveis mediações, conversava com seu amigo, o poeta comunista
Bertolt Brecht, sobre a legitimidade de certa impaciência pelo reencontro do
teórico revolucionário com os conflitos práticos, com a “grossura” da luta
política travada na prática. Brecht e Benjamin falavam no plumpes Dencken
(algo que poderíamos traduzir por “pensamento grosso”).
A perspectiva de Marx era a de convocar a razão para rever criticamente
a história e mergulhar na história política para, por meio das ações, corrigir
qualquer exagero eventual - especulativo - no uso da razão.
EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE QUADROS
A história não segue um curso arbitrário, não tem um movimento
absurdo, que escapa sempre – e por completo – ao conhecimento dos seres
humanos.
É claro que o acaso não pode ser eliminado totalmente das
transformações que ela nos mostra. A história tem sentido, sim, e é um sentido
que depende daquilo que os homens que a fazem conseguem lhe impor.
Esse sentido da história, porém, não é “dado”, pronto e acabado.
Objetivamente, ele deriva do fato de que cada geração assume como herança
o quadro histórico que lhe é deixado pela geração que a precedeu. Mas o
modo como ela assume o legado já depende dos sujeitos, já vai além da
realidade “puramente objetiva”. E essa dimensão subjetiva é uma ineliminável
fonte de erros.
Mesmo um pensador genial como Marx pode se equivocar, pode se
defrontar com uma conjuntura nova e surpreendente, e fazer um mau balanço
do caminho percorrido.
Marx não previu toda a força, nem toda a competência com que a
burguesia defendeu sua hegemonia. Acompanhou com curiosidade o
desenvolvimento das locomotivas nas ferrovias (movidas a vapor d’água e
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
91
depois a eletricidade). Registrou o descobrimento do petróleo em 1859. Depois,
a invenção do telefone (1876), do microfone e do fonógrafo, em 1877.
Como poderia Marx, entretanto, prever os diversos desdobramentos das
combinações desses avanços científicos e tecnológicos com outras invenções
e outras descobertas que estavam sendo realizadas longe dele? Como poderia
entender os conflitos que ocorreriam em torno dos lucros colossais da indústria
petrolífera? Como poderia prever a organização das companhias de aviação,
que ainda estavam sendo sonhadas? Como os marxistas – os que vieram
depois de Marx - poderiam avaliar o impacto que teriam o rádio, o cinema e a
televisão, que só no século XX passaram a ocupar o colossal espaço que ainda
ocupam, sobre os costumes e padrões de comportamento?
A burguesia europeia se fortaleceu econômica e politicamente, bem
mais do que Marx e Engels podiam imaginar. Consolidou sua hegemonia e
houve quem passasse a viver o período das últimas décadas do século XIX e
das primeiras décadas do século XX como se ele fosse maravilhoso.
Chamaram-no de a ”Belle Epoque”. O austríaco Friedrich von Wieser chegou a
formular uma lei, representativa do progresso realizado: a lei da diminuição da
violência na relação entre os povos. (O início da guerra mundial de 1914 a
1918, é claro, revogou essa lei...)
Em todo caso, os socialistas não faziam má figura na entrada do século
XX. Estavam divididos, mas conseguiam administrar a divisão. À esquerda,
agiam os comunistas, para os quais o socialismo seria só uma transição para a
sociedade sem Estado (o comunismo). À direita (direita da esquerda,
naturalmente) ficavam os social-democratas, que desconfiavam do comunismo,
achavam que ele era uma utopia. Na realidade, o proletariado, nos principais
países industrializados da Europa, havia aumentado seu poder de compra, no
final do século XIX. E não se sentia inclinado a participar de levantes
revolucionários.
As divergências viriam a ter no século XX consequências muito
significativas. Os social-democratas, entusiasmados pelo crescimento,
tratavam de se preparar para quando chegassem ao poder. Esforçavam-se
para viabilizar todas as reformas necessárias, num processo que –
reconheciam – podia ser prolongado. Os comunistas, porém, sustentavam que
a transição efetivada pela “ditadura do proletariado” (conceito herdado de
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
92
Auguste Blanqui (1805-1881), líder revolucionário que passou 35 anos na
cadeia e foi quatro vezes condenado à morte), seria rápida e achavam perda
de tempo um comunista se ocupar de processos históricos prolongados, que só
produziriam seus efeitos políticos a longo prazo.
Era coerente, então, a opção da maioria dos social-democratas por
reformas lentas e graduais, enquanto os comunistas tendiam às vezes a
reduzir a política educacional a uma radical formação de “quadros”. A primeira
guerra mundial criou condições que levaram os comunistas russos ao poder.
Lênin (1870-1924) comandou a revolução vitoriosa dos bolcheviques com
palavras de ordem que não eram socialistas: paz, pão, terra e liberdade.
COMUNISTAS E SOCIAL-DEMOCRATAS
O governo revolucionário enfrentou situações muito difíceis. Passada a
primeira fase (o “comunismo de guerra”), neutralizadas as invasões
estrangeiras, assinado o pacto que deu fim à guerra com a Alemanha,
realizada uma reforma agrária, adotada a “Nova Política Econômica”, a União
Soviética se consolidou e Moscou se tornou o centro do movimento comunista
internacional.
Lênin foi certamente o comunista que maior influência exerceu sobre a
história política do século XX, não só pela criação da União Soviética como por
sua concepção do “partido de novo tipo”. Algumas ideias (não todas) do
revolucionário foram selecionadas, transformadas mediante hábil articulação
numa “doutrina”, que foi amplamente utilizada na educação política dos
militantes. Lênin só pôde ver o início dessa história: vítima de um atentado,
sobreviveu em condições precárias e, afinal, morreu em 1924.
A União Soviética e o movimento comunista internacional passaram a ter
como principal dirigente Stalin (1879-1953), que decidiu fortalecer a coesão
interna do movimento, “expurgando” seus rivais, veteranos bolchevique, que
haviam feito a revolução e tinham sido companheiros de Lênin.
O programa de Stálin se baseava na ideia animadora (ilusória) de que
era possível edificar o socialismo num só país (a União Soviética), mesmo que
nos demais países continuasse a prevalecer o capitalismo. Stalin mandou um
agente dele matar, no México, o exilado Trótski (1879-1940), comunista
dissidente, principal crítico da pretensa edificação do socialismo num só país.
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
93
As contradições não eram assumidas e francamente discutidas: eram
sufocadas, reprimidas. A filosofia oficial do novo sistema foi batizada como
“marxismo-leninismo”. O hífem unia os dois substantivos, ignorando a diferença
de nível de abstração que se vê na perspectiva teórica de cada um deles: o
partido leninista de novo tipo e a teoria leninista da revolução não estão
elaborados no mesmo nível filosófico que a concepção do homem, a
concepção da história, a teoria da alienação e o conceito de ideologia de Marx.
O hífem forçava uma adaptação dos conceitos teórico-políticos de Lênin a
conceitos filosóficos e reduzia os conceitos filosóficos de Marx a conceitos
teórico-políticos.
Essas características prejudicavam a credibilidade dos comunistas; era
difícil acreditar que eles eram os verdadeiros herdeiros de Marx. Os social-
democratas, ao longo da primeira metade do século XX, disputaram essa
herança. Mas também havia grandes disparidades entre o que Marx dizia e o
que a social-democracia fazia. Participando de governos de coalizão em
diversos países europeus, os social-democratas não conseguiram realizar
reformas significativas e, aos olhos da massa trabalhadora, ficaram reduzidos a
“gestores do capitalismo”.
Por sua combatividade, os comunistas ganhavam às vezes uma
deferência que suas teorias não mereciam. A política cultural dos comunistas,
baseada frequentemente nas fórmulas engessadas da doutrina que eles
adotavam, não encorajava as filiações de artistas e intelectuais simpatizantes.
Contudo, muita gente famosa da área cultural chegou, em algum
momento, a entrar no partido (Pablo Picasso, Portinari, Jorge Amado,
Graciliano Ramos, Pablo Neruda, Oscar Niemeyer, Ferreira Gullar, Rafael
Alberti, etc.). Ou chegou a se aproximar dele, mas não se filiou, como foi o
caso de Carlos Drummond de Andrade e o caso de Bertolt Brecht.
Outro fator que contribuiu para que artistas e intelectuais conhecidos
tenham dado apoio ao comunismo foi a ameaça do fascismo e do nazismo. O
pavor atingia multidões. A hipótese de acordar e se ver um dia governado por
um Hitler ou um Mussolini era extremamente angustiante. E muitas pessoas
estavam convencidas de que, sem os comunistas e sem a União Soviética, o
“Ocidente” seria inapelavelmente derrotado. Para terem chance, precisavam
treinar muito.
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
94
A DERROTA DA UNIÃO SOVIÉTICA
Se fizermos um balanço do pensamento da esquerda, tal como ele
funcionava em meados do século XX, não será difícil perceber que os
intelectuais “engajados” viviam naquele momento histórico uma situação
delicada.
A imprensa noticiava escândalos de corrupção na União Soviética e
denunciava a existência de campos de trabalhos forçados. As consequências
da burocratização eram visíveis, mesmo à distância. André Gide visitou a pátria
de Lênin e voltou muito decepcionado. Nos Estados Unidos, baluarte do
capitalismo, a situação não era nada animadora. No clima da “guerra fria”,
estava constituído no senado norte-americano um comitê de investigação de
atividades antiamericanas que perseguia artistas e intelectuais, infernizava a
vida de quem, de acordo com critérios nunca definidos, lhe parecia ser de
esquerda. Esse comitê chegou a intimar Charles Chaplin. Na Coreia, a “guerra
fria” já estava pegando fogo, o risco de uma terceira guerra mundial – com
armas atômicas – parecia estar aumentando. As pessoas se perguntavam:
quem deviam apoiar? Como poderiam contribuir para fortalecer a posição mais
justa?
Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), judeus
alemães socialistas, tinham horror ao nazismo, detestavam a União Soviética e
abominavam os Estados Unidos. A maior contribuição deles à crítica do
capitalismo, a teoria da “indústria cultural”, foi repelida pelos representantes do
“Marxismo-leninismo”, foi recusada pela burocracia que governava os países
da Europa oriental.
Sartre (1905-1980), por sua vez, tinha feito duras criticas aos comunistas
e à União Soviética, acusando-os de adotar uma concepção determinista do
materialismo histórico. De fato, o discurso dos comunistas, segundo Sartre,
invocava um “sentido da história” que dispensava a intervenção da
subjetividade humana e funcionava como um álibi para o oportunismo deles.
Com a guerra da Coreia, porém, aproximou-se dos comunistas, convencido de
que, mesmo sendo oportunistas, estavam mais comprometidos que os norte-
americanos com a causa da preservação da paz.
A invasão da Hungria por tropas soviéticas em 1956, contudo, impediu
que a aproximação prosseguisse. Revoltado contra o “oportunismo” dos
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
95
comunistas, Sartre – isolado – passou a apoiar os maoístas, distribuindo
panfletos na rua, conclamando a população a se rebelar.
GRAMSCI E LUKACS
Sartre, Adorno, Horkheimer, isolados, pagavam um preço alto pela
liberdade de expressão do pensamento: eram atacados e eventualmente
caluniados e difamados pelos partidos comunistas. Mais complicada ainda era
a situação de pensadores importantes que pensavam por conta própria, mas
eram, eles mesmos, membros de partidos comunistas. É o caso do húngaro
Georg Lukács e do italiano Antonio Gramsci, dois autores sobre os quais há
muita literatura publicada. Sem serem social-democratas, ciosos de sua
identidade comunista, Gramsci e Lukács adotaram uma perspectiva
abrangente – mais comuns entre social-democratas do que entre comunistas –
que lhes permitia retomar o que havia de bom nas construções intelectuais e
nas produções artísticas de autores que não tinham qualquer ligação com o
comunismo.
Lukács se entusiasmava com Shakespeare, com Balzac e com Thomas
Mann. Gramsci se encantava com São Francisco de Assis e com Dante.
Estavam atentos para valores culturais que lhes pareciam fundamentais na
educação, na formação da cidadania.
Lukács (1885-1971), membro do Partido Comunista Húngaro, ficou
famoso com a publicação de História e Consciência de Classe, em 1922.
Nesse livro, aprofundou o estudo crítico da “coisificação”. Na medida em que
no capitalismo tudo gira em torno do mercado, tudo tende a virar mercadoria
(inclusive a força de trabalho, a criatividade do sujeito humano). Então, os
sujeitos humanos vão sendo cada vez mais percebidos como apêndices dos
objetos, isto é, vão sendo vistos como “coisas”.
Os movimentos subjetivos deixam de ser enxergados, tendem a se
dissolver em movimentos pretensamente objetivos. A própria linguagem
expressa isso: as pessoas falam nas mercadorias e dizem: o feijão baixou, a
cerveja subiu, a farinha aumentou, o morango sumiu.
Na linha aberta pelo livro de Lukács, Horkheimer (1885-1973), e depois
Adorno (1903-1969) e Herbert Marcuse (1898-1978), trilharam um caminho que
deu vida à chamada Escola de Frankfurt, oficialmente designada como o
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
96
Instituto de Pesquisa Social. Quando foi forçado a sair da Alemanha, Walter
Benjamin viveu como bolsista desse Instituto.
Para Adorno e Horkheimer, a manipulação dos consumidores em escala
massiva proporciona imensos lucros ao grande capital e provoca a
generalização de um comportamento adaptativo, passivo, na população. É a
“indústria cultural”, que assegura ao capitalismo uma vitalidade (perversa) que
ele não tinha no tempo de Marx.
A denúncia da “indústria cultural” por Adorno e Horkheimer (mais tarde
apoiada por Marcuse) – embora condenada pela burocracia do Leste europeu
– alertou os educadores para a gravidade do fenômeno e para a importância da
busca dos caminhos que podem fortalecer o espírito crítico das pessoas, nas
atuais circunstâncias.
A influência de Gramsci sobre a cultura da esquerda brasileira é
inegável. Recentemente Carlos Nelson Coutinho e Luiz Sérgio Henriques
prepararam uma nova edição dos Cadernos do Cárcere, do fundador do
Partido Comunista Italiano, e o lançamento dos seis volumes foi um sucesso de
crítica e de público.
Gramsci tem uma concepção histórica (e não geográfica) do “Ocidente”.
Nas condições “ocidentais”, os revolucionários precisam levar em conta a força
de uma “sociedade civil” organizada, com a qual precisarão se entender para
exercer o poder. Em vez de se preparar para tomar o poder através de um
golpe de Estado, numa “guerra de movimentos”, os comunistas precisavam
travar uma complexa e prolongada “guerra de posições”, e combinar a pressão
material com o poder de persuasão, para construir a “hegemonia”.
A teoria gramsciana da “hegemonia” resultava na atribuição de uma
enorme importância às batalhas que devem ser travadas no campo da
educação e da cultura, para a transformação da sociedade. E a ideia do
“consenso” exigia um permanente diálogo no esforço de mobilização dos “de
baixo” contra o poder dos “de cima”.
Segundo o pensador italiano, na maneira usual que as pessoas têm de
ver o mundo, prevalece o “senso comum”, que não consegue ter uma
dimensão crítica e se apoia em ideias preconcebidas. Mas, no interior do
“senso comum”, pode se encontrar um ponto capaz de se aprofundar, numa
reflexão mais dinâmica: o “bom senso”. Somente dialogando com o “bom
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
97
senso”, existente nos interlocutores, o revolucionário pode realmente ajudar a
solucionar os problemas da sociedade.
Reconhecidos como os “clássicos” da Escola de Frankfurt, Adorno e
Horkheimer vão, agora, ceder algum espaço a Walter Benjamin e Marcuse.
ESCOVANDO A CONTRAPELO
Walter Benjamin escrevia cartas para seu amigo Gerschon Scholen,
anunciando-lhe que, sendo comunista, estava na iminência de se filiar ao
Partido. Até por uma questão de coerência, dizia. No entanto, tal como seu
amigo Brecht, jamais se filiou formalmente ao Partido.
Scholen, que não era comunista, evitava discutir o assunto. Estava
convencido de que Benjamin deveria ir para Jerusalém e se dedicar ao estudo
de teólogos Judeus heterodoxos. Arranjou até uma bolsa de estudos para
Benjamin se dedicar ao estudo do idioma hebraico. O crítico, porém, gastou o
dinheiro com as despesas do seu dia a dia como exilado e continuou
sobrevivendo com dificuldade em Paris.
Para Benjamin, a permanência em Paris era necessária. Ele tinha o
projeto de analisar, no coração da “Capital do Século XIX”, as taras que, mais
tarde seriam usadas pelos nazistas alemães na ocupação da França.
Desconfiava de abusos na mente de pessoas que, em nome do princípio da
razão, subestimavam a importância das rupturas. Não gostava de Hegel.
Seu ideal, como marxista (o que era isso para ele?), não era o de
acompanhar com atenção o movimento da história, esperando que ela lhe
revelasse seus segredos.
Seu ideal também não era o de decifrar os hieróglifos da história. O que
realmente importa, para um revolucionário, é fazer a história, imprimindo-lhe
um sentido libertário.
A convicção de Benjamin foi formulada por ele, numa das suas
indicações mais famosas: “escovar a história a contrapelo”.
A “GRANDE RECUSA”
Herbert Marcuse ( 1898- 1978 ) foi um dos primeiros marxistas a tentar
extrair as consequências da dupla mudança nas condições do capitalismo e do
proletariado.
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
98
Inicialmente, fazendo seu doutorado sobre Hegel sob a orientação de
Heidegger, ele percebia a situação de maneira confusa. Depois que se ligou ao
Instituto de Pesquisa Social, percebeu agudamente como estava ocorrendo a
cooptação de setores da classe operária em países industrializados, como os
Estados Unidos.
A conclusão que Marcuse tirou da sua constatação não foi a de que os
dirigentes políticos da esquerda deviam se resignar com a luta por pequenas
reformas. Marcuse insistia na opção radical.
Para o revolucionário, o sistema cooptava os trabalhadores, porém
impunha uma existência deletéria à maioria da população.
Conforme sua descrição, as pessoas moram engavetadas em imensos
caixotes chamados prédios de apartamentos, trabalham em atividades pouco
ou nada prazerosas, possuem automóveis particulares novos, com os quais
enfrentam grandes engarrafamentos, para irem a lugares que se parecem com
os locais onde moram ou trabalham. Essas pessoas têm geladeiras e freezers
com produtos congelados, veem os mesmos programas de TV, leem jornais e
revistas que dizem mais ou menos a mesma coisa. Orgulham-se do que
conquistaram e se empenham em se convencer de que são “bem sucedidas”.
A sociedade atual se caracteriza pela unidimensionalidade: as pessoas
são incitadas a ser diferentes, mas se adaptam a um padrão de pensamento e
de comportamento que as torna cada vez mais parecidas umas com as outras.
Marcuse conclamava os estudantes, os negros, as mulheres inquietas,
os hippies, os povos do Terceiro Mundo, para o que ele chamava de “a Grande
Recusa”.
Revista Educação On-line PUC-Rio nº 10, p. 84-98, 2012.
Disponível em http://www.maxwell.lambda.ele.pucrio.br/rev_edu_online.php?strSecao=input0
Você também pode gostar
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)
- Complô Contra A Igreja - Maurice Pinay PDFDocumento655 páginasComplô Contra A Igreja - Maurice Pinay PDFMatheus Lima100% (7)
- KONDER Leandro - Marx e A EducaçãoDocumento9 páginasKONDER Leandro - Marx e A EducaçãoIsabelle PerroutAinda não há avaliações
- Marx e A Sociologia Da EducaçãoDocumento15 páginasMarx e A Sociologia Da EducaçãoAlexandre de OliveiraAinda não há avaliações
- Karl Marx - A Miséria Da FilosofiaDocumento134 páginasKarl Marx - A Miséria Da FilosofiaJuliana Portuguez100% (1)
- Karl Marx o Filosofo Da RevolucaoDocumento5 páginasKarl Marx o Filosofo Da RevolucaoJerimilsonAinda não há avaliações
- Trabalho - Karl MarxDocumento8 páginasTrabalho - Karl MarxVitorAinda não há avaliações
- Karl MarxDocumento4 páginasKarl MarxNilson JuniorAinda não há avaliações
- Escola Marxista ConcluidoDocumento10 páginasEscola Marxista ConcluidoSaraiva JuniorAinda não há avaliações
- Karl Marx - 2010 PDFDocumento20 páginasKarl Marx - 2010 PDFCarolina MoreiraAinda não há avaliações
- Marxismo Cultural Ou NeomarxismoDocumento30 páginasMarxismo Cultural Ou NeomarxismoSamuel NuñesAinda não há avaliações
- Erich Fromm - A Adulteração Dos Conceitos de MarxDocumento6 páginasErich Fromm - A Adulteração Dos Conceitos de MarxAna BombassaroAinda não há avaliações
- Ebook - A Subversão Da OrdemDocumento20 páginasEbook - A Subversão Da Ordemrebeca.marques3Ainda não há avaliações
- Resumo 10 Lições Sobre MarxDocumento3 páginasResumo 10 Lições Sobre MarxToni MouraAinda não há avaliações
- O Que É MarxismoDocumento44 páginasO Que É MarxismoVmsilva SilvaAinda não há avaliações
- Aula 5 - MarxDocumento35 páginasAula 5 - Marxluciana limaAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos Do MarxismoDocumento2 páginasConceitos Básicos Do MarxismoSonia HentzAinda não há avaliações
- Ensaio 555 - Marx Não Foi Marxista - Prof. Pedro DemoDocumento19 páginasEnsaio 555 - Marx Não Foi Marxista - Prof. Pedro DemoFlávia MendesAinda não há avaliações
- Direito, Estado e Sociedade...Documento4 páginasDireito, Estado e Sociedade...marconcelosAinda não há avaliações
- O Que É Marxismo - José Paulo NettoDocumento86 páginasO Que É Marxismo - José Paulo NettoMurilo ValentimAinda não há avaliações
- Sociologia e RelaçõesDocumento8 páginasSociologia e RelaçõesWallerson BritoAinda não há avaliações
- Karl MarxDocumento8 páginasKarl MarxBrennda AlvesAinda não há avaliações
- Marx e Os MarxismosDocumento15 páginasMarx e Os MarxismosJosias MacedoAinda não há avaliações
- A Educação Infantil Na Visão Socialista de Karl MarxDocumento17 páginasA Educação Infantil Na Visão Socialista de Karl MarxMaria Adeilma MenesesAinda não há avaliações
- Marx e A Sociologia CríticaDocumento13 páginasMarx e A Sociologia CríticaAndré SáAinda não há avaliações
- TEXTO 1 Introdução À Filosofia de Marx I - IVDocumento28 páginasTEXTO 1 Introdução À Filosofia de Marx I - IVAloisioSousaAinda não há avaliações
- A Mais-Valia IdeológicaDocumento12 páginasA Mais-Valia Ideológicalinesantos210% (1)
- Teorias - Da - Historia - II - Aula - 9 - MarxDocumento8 páginasTeorias - Da - Historia - II - Aula - 9 - MarxMatheus Tavares NascimentoAinda não há avaliações
- Marcos Del Roio - Marx e A Luta PolíticaDocumento157 páginasMarcos Del Roio - Marx e A Luta Políticafilo filoAinda não há avaliações
- (2004) Ivo Tonet & Sergio Lessa - Introducao À Filosofia de MarxDocumento77 páginas(2004) Ivo Tonet & Sergio Lessa - Introducao À Filosofia de MarxAdenilton SabóiaAinda não há avaliações
- Unidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisDocumento28 páginasUnidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisBraspav UsinaAinda não há avaliações
- Cartilha de MarxismoDocumento35 páginasCartilha de Marxismoasperança100% (1)
- Backup FiloDocumento9 páginasBackup FiloMILTON ELIASAinda não há avaliações
- Texto Inicial - KARL MARXDocumento2 páginasTexto Inicial - KARL MARXCARDAN KRUCHE DA ROSAAinda não há avaliações
- Karl Marx e o Marxismo - InfoEscola - InfoEscolaDocumento5 páginasKarl Marx e o Marxismo - InfoEscola - InfoEscolaJoãoPedroMedeirosAinda não há avaliações
- Exercícios Karl MarxDocumento2 páginasExercícios Karl MarxmaressastudyAinda não há avaliações
- Vida Alternativa 1985 Fernando GabeiraDocumento36 páginasVida Alternativa 1985 Fernando Gabeirapatriciaaso100% (1)
- Resumo Teoria MarxistaDocumento4 páginasResumo Teoria MarxistaVALQUIRIA VELASCOAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Karl MarxDocumento7 páginasArtigo Sobre Karl MarxPaulo AndradeAinda não há avaliações
- Apostila Sobre Karl Marx 2023Documento33 páginasApostila Sobre Karl Marx 2023GuttinBrAinda não há avaliações
- Do Manifesto Comunista Ao Direito Do TrabalhoDocumento14 páginasDo Manifesto Comunista Ao Direito Do TrabalhoMarcelo HenriqueAinda não há avaliações
- Netto. o Que É MarxismoDocumento44 páginasNetto. o Que É MarxismoRafael Loureiro100% (3)
- 940-Texto Do Artigo-3877-1-10-20211223Documento4 páginas940-Texto Do Artigo-3877-1-10-20211223Luana OliveiraAinda não há avaliações
- Cesar Mangolin de Barros o Conceito de Modo de Producao 2010Documento19 páginasCesar Mangolin de Barros o Conceito de Modo de Producao 2010Cabral SilvaAinda não há avaliações
- Alienacao No Jovem MarxDocumento5 páginasAlienacao No Jovem MarxerickslashAinda não há avaliações
- Nestor Kohan PDFDocumento56 páginasNestor Kohan PDFartuloboAinda não há avaliações
- Teoria MarxistaDocumento4 páginasTeoria MarxistaVALQUIRIA VELASCOAinda não há avaliações
- Origens e Fontes Do MarxismoDocumento104 páginasOrigens e Fontes Do MarxismoJonas MagalhãesAinda não há avaliações
- Artigo - Principais Pressupostos Do MarxismoDocumento16 páginasArtigo - Principais Pressupostos Do MarxismoWillian Fontes100% (1)
- Jordania Kalina,+idealogando Artigo+3+-+v+5 n+1 2021 +Rodrigo+Barros+e+João+Oliveira+Documento12 páginasJordania Kalina,+idealogando Artigo+3+-+v+5 n+1 2021 +Rodrigo+Barros+e+João+Oliveira+juliana.costa.souzaAinda não há avaliações
- 2 Série Filosofia TRILHA Semana 32Documento5 páginas2 Série Filosofia TRILHA Semana 32Jucelino CarvalhoAinda não há avaliações
- N° 11 Karl Max - EditadoDocumento22 páginasN° 11 Karl Max - Editadomicael329fAinda não há avaliações
- Trabalho SubDocumento3 páginasTrabalho SubAdeleye OluoruAinda não há avaliações
- Marx e A Luta Politica - Marcos Del RoioDocumento122 páginasMarx e A Luta Politica - Marcos Del RoioRodrigo BlerghAinda não há avaliações
- FPE TX 08 BARBOSA Estado e Poder Político em Marx - 240410 - 161122Documento38 páginasFPE TX 08 BARBOSA Estado e Poder Político em Marx - 240410 - 161122Ezeq RochaAinda não há avaliações
- Marx e Sua FilosofiaDocumento3 páginasMarx e Sua FilosofiaSebastião BritoAinda não há avaliações
- Karl Marx e A Concepção Materialista Da HistóriaDocumento10 páginasKarl Marx e A Concepção Materialista Da HistóriawagtontiAinda não há avaliações
- Curso Fundamentos TeoriasokDocumento21 páginasCurso Fundamentos TeoriasokgilsonAinda não há avaliações
- Estudos políticos e pensamento social: Volume 1No EverandEstudos políticos e pensamento social: Volume 1Ainda não há avaliações
- Microsoft Word VPR Mestrado Fábio Chagas - 1Documento118 páginasMicrosoft Word VPR Mestrado Fábio Chagas - 1Aluizio PalmarAinda não há avaliações
- NatoDocumento6 páginasNatoManuela AlmeidaAinda não há avaliações
- As Mulheres Durante o HolocaustoDocumento8 páginasAs Mulheres Durante o HolocaustoSergio LsAinda não há avaliações
- Nova Ordem Mundial 1Documento10 páginasNova Ordem Mundial 1Camile LucenaAinda não há avaliações
- Revolução Russa Slides CompletoDocumento19 páginasRevolução Russa Slides CompletorodolfoAinda não há avaliações
- A Evolucao Do Terrorismo Segundo A Teoria Das Quatro Ondas Do Terrorismo Moderno PDFDocumento32 páginasA Evolucao Do Terrorismo Segundo A Teoria Das Quatro Ondas Do Terrorismo Moderno PDFDEIJENANE SANTOSAinda não há avaliações
- Revista Movimento (N. 17) Crise Global - Pandemia Da COVID-19, Protestos Nos EUA e A Situação BrasileiraDocumento253 páginasRevista Movimento (N. 17) Crise Global - Pandemia Da COVID-19, Protestos Nos EUA e A Situação BrasileiraRodrigo P. BernardiAinda não há avaliações
- Trabalho de Geografia, Dados EconomicosDocumento27 páginasTrabalho de Geografia, Dados EconomicosdeboresAinda não há avaliações
- Teste de HistóriaDocumento5 páginasTeste de HistóriaSusana Lopes100% (2)
- 11 Alusões Históricas para Usar em Suas RedaçõesDocumento1 página11 Alusões Históricas para Usar em Suas RedaçõesJrAinda não há avaliações
- A Menininha Do Hotel Metropol - Liudmila PetruchévskaiaDocumento345 páginasA Menininha Do Hotel Metropol - Liudmila PetruchévskaiaandreaAinda não há avaliações
- Historia Das Instituicoes Politicas IIDocumento15 páginasHistoria Das Instituicoes Politicas IICrisEnginheiroAinda não há avaliações
- Guia de Estudos - OTAN (2008)Documento29 páginasGuia de Estudos - OTAN (2008)Matheus MottaAinda não há avaliações
- A Abordagem Pikler-Loczy e A Perspectiva Histórico-Cultural - A Criança Pequenininha Como Sujeoto Nas Relações (Suely Amaral Mello) PDFDocumento22 páginasA Abordagem Pikler-Loczy e A Perspectiva Histórico-Cultural - A Criança Pequenininha Como Sujeoto Nas Relações (Suely Amaral Mello) PDFViviane Fuggi LopesAinda não há avaliações
- Sabrina Guerra de Menezes - Revolução RussaDocumento4 páginasSabrina Guerra de Menezes - Revolução RussaLotussAinda não há avaliações
- A Relação Da Obra 1984 Com A URSSDocumento15 páginasA Relação Da Obra 1984 Com A URSSRodrigo PoliceAinda não há avaliações
- Biondi - Jorge - Venturini - O Mundo Com e Sem A Uniao SovieticaDocumento193 páginasBiondi - Jorge - Venturini - O Mundo Com e Sem A Uniao Sovieticaricardocultura2023Ainda não há avaliações
- Simulado 3 SérieDocumento3 páginasSimulado 3 SérieAna Clara Pereira BragaAinda não há avaliações
- PAIM, Antonio. Momentos Decisivos Na História Do BrasilDocumento149 páginasPAIM, Antonio. Momentos Decisivos Na História Do BrasilelsribeiroAinda não há avaliações
- 26 - Descolonização Da Ásia e ÁfricaDocumento45 páginas26 - Descolonização Da Ásia e Áfricapi31416666100% (1)
- Prova 3Documento2 páginasProva 3Guilherme Silveira de MeloAinda não há avaliações
- Simulado 9º Ano 1Documento7 páginasSimulado 9º Ano 1Luan RibeiroAinda não há avaliações
- BERNARDO, João - Labirintos Do Fascismo, CP2Documento6 páginasBERNARDO, João - Labirintos Do Fascismo, CP2Marcello BecreiAinda não há avaliações
- O Vermelho e o Medo - Revista de HistóriaDocumento5 páginasO Vermelho e o Medo - Revista de HistóriaDanilo NogueiraAinda não há avaliações
- NOVAES - O Fetiche Da TecnologiaDocumento21 páginasNOVAES - O Fetiche Da TecnologiaJonathan Cumbicos GómezAinda não há avaliações
- Plano de Aula - 9º AnoDocumento17 páginasPlano de Aula - 9º AnoBrunoVassilievichAinda não há avaliações
- Resenha-Historia Da URSSDocumento10 páginasResenha-Historia Da URSSBoludo MascacoAinda não há avaliações
- Por Que Hitler Desobedeceu o Tratado de VersalhesDocumento6 páginasPor Que Hitler Desobedeceu o Tratado de VersalhesEduardo de SousaAinda não há avaliações
- Resenha - O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgákov (Parte 2) - Literatura Russa para BrasileirosDocumento24 páginasResenha - O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgákov (Parte 2) - Literatura Russa para BrasileirosProfessorpedagogiaAinda não há avaliações