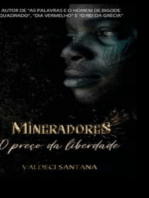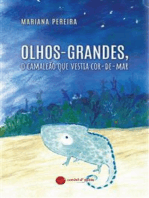Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Untitled
Enviado por
Paulo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações7 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
11 visualizações7 páginasUntitled
Enviado por
PauloDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
A fumadora de estrelas
Naquela noite, dormimos todos de pé, apertados
uns contra os outros, por entre as quatro paredes do
edifício da administração. Edifício é um modo de
dizer: sem teto, sem portas nem janelas, sem
nenhuma peça de mobiliário. As paredes, todas
esfarrapadas, eram o que restava da única casa de
alvenaria da nossa aldeia. Ali nos refugiámos, as
famílias todas de Kalimbué, tentando escapar a mais
um ataque dos terroristas. Na minha língua, “aldeia”
e “família” dizem-se da mesma maneira. Mas agora
tínhamos outro nome: Éramos os “sobreviventes”.
Não havia casa que não estivesse de luto, não havia
chão que não estivesse manchado de cinzas e
sangue. E as estrelas eram furos de bala num manto
escuro.
Durante toda a noite, à minha cama foram
quatro pessoas: Abudo, à esquerda, ressonava
mesmo antes de adormecer. Halima, à direita,
apoiada numa enxada, engolia o vasto peito em
soluços e suspiros. À minha frente, Esmeraldino
rezava ininterruptamente. Atrás de mim, Jonito não
parava de ajeitar o cofriu, apoiando-se ora numa
perna ora na outra. E eu, no centro, adormecia
apenas da cintura para cima. O meu sono estava
deitado de pé como água num poço.
Lá fora, escutavam-se os disparos. Cada tiro
rasgava os olhos de Esmeraldino, as pálpebras
cerradas como se não quisesse voltar a ver o
mundo. E fomo-nos espremendo de tal forma que
ninguém se podia mover. Sorte a nossa não haver
teto, caso contrário, teríamos morrido asfixiados.
E assim ficámos durante toda a noite, sem um
pedacinho de chão para nos enroscarmos. Em
sussurro, Jonito ainda sugeriu que nos deitássemos
por turnos e que dormíssemos à vez. Um menear de
cabeças manifestou a discordância geral: qualquer
movimento podia denunciar a nossa presença. E,
por isso, permanecíamos assim, colados uns aos
outros como ramos de uma mesma árvore, ou como
uma escultura ujamaa, essas aldeias esculpidas
num mesmo tronco. A enxada de Halima foi
circulando para que, num breve instante, cada
pessoa tivesse onde apoiar o seu cansaço.
Contemplei longamente as estrelas e invejei o
seu infinito sossego. No dia em que entrei para a
escola, o nosso avô avisou-me: “Vão-te ensinar os
nomes das estrelas. Não aceites. Batizadas, as
estrelas tornam-se mortais.” Quando confessei que
queria ser uma estrela, o avô disse: “Nada mais
triste do que ser imortal.” Naquele momento, naquele
improvisado refúgio, nasceu-me o desejo de chamar
as estrelas, cada uma pelo seu nome. Quem sabe
eu me sentisse menos desamparada?
- Não consigo dormir? – queixou-se Halima, as
duas mãos amparadas no cabo da enxada.
- Faz de conta de que não estás parada –
murmurou Esmeraldino. – Faz de conta de que estás
a caminhar, assim é mais fácil permanecer de pé. –
E dirigiu-se aos outros, sempre num fio de voz: –
somos viajantes, meus irmãos, falta pouco para
chegarmos ao destino.
A mão de Abudo sobre a boca de Esmeraldino
amordaçou-lhe o devaneio. E ele voltou a fechar os
olhos como se tivesse escutado tiros. De novo,
voltou a reinar o silêncio.
Num dado momento, Abudo remexeu
nervosamente as mãos dentro dos bolsos. Pensei:
“O homem enlouqueceu e desatou a acariciar-me as
pernas”. Fixei os olhos no seu rosto: um cigarro
pendia-lhe dos lábios. Não me apalpava as coxas.
Simplesmente, revistava os bolsos para procurar
uma caixa de fósforos.
- Estás maluco? – perguntou Jonito. – Queres
matar-nos a todos?
Tarde de Mais. Abudo riscava um palito de
fósforo e o deflagrar da chama deixou-nos
apavorados. O cigarro em brasa roçou-me o rosto.
Com apoio da língua e dos lábios, Abudo revirou a
beata deixando a ponta acesa dentro da boca.
Halima sorriu: é assim que fazem as mulheres. Diz-
se na nossa aldeia: os homens fumam, as mulheres
bebem cigarros. Naquele momento, todas nós, as
mulheres, escondemos um malicioso sorriso
enquanto Abudo tratava o fumo.
A seguir, o cigarro foi passando de mão em
mão, acompanhado pela ciciada advertência:
“Fumem como as mulheres.” A ponta ardente viajava
pelo escuro como se fosse a derradeira estrela.
Ninguém desamarrava o fumo, apenas aquele tição
riscava a noite. Um cheiro doce trouxe-me a certeza:
não era tabaco o que ali se fumava.
Chegou a minha vez. Recusei. Halima arrancou-
me a beata das mãos e serviu-se com sofreguidão.
Depois, disse-me:
- Vou-te ensinar a fumar. Vais sentir um fogo
dentro de ti.
De súbito, um alvoroço percorreu a multidão.
Veio-me então um pressentimento: Kadira! A minha
irmã encontrava-se nos últimos dias da gravidez. E
agora, horas de pé, estava sentindo as dores de
parto. Fui-me aproximando, espremendo-me por
entre as pessoas, cuidando de não pisar ninguém
até ser abraçada por Kadira. Os olhos dela abriam-
se, escancarados, como se fosse ela que estivesse
nascendo. Tal como pressentira, as águas tinham-
lhe rebentado. À volta de Kadira, tinham criado um
espaço para que ela se colasse de cócoras. Uma
capulana cobria o chão para dar leito a quem estava
prestes a chegar.
Por cima da multidão, vi Abudo a agitar os
braços. Quando todos lhe deram atenção, ele abriu a
mão na horizontal, à altura do queixo. Com um gesto
lento, simulou o movimento de uma faca deslizando
sobre o pescoço. Um calafrio me fez vacilar. Fingi
que nada tinha visto, pedi que me passassem o
cigarro. E aspirei profundamente, olhos fechados
como se temesse que o fumo escapasse pelas
órbitas. Debrucei-me sobre a minha irmã, arregacei
as mangas e abri as suas pernas como se afastasse
as margens de um rio. A pobre Kadira continha as
lágrimas, mordia as dores, engolia os gemidos.
No fundo, ela sabia: uma mulher pode partir em
silêncio, mas ninguém pode impedir o choro de um
bebé que nasceu. As contas eram fáceis de se fazer:
a vida daquela criança iria acabar com a vida de
todos nós. Em Kalimbué, há um velho provérbio:
uma pedra pode atrapalhar mais do que uma
montanha. Os olhares dos homens revelavam que,
naquele momento, eles eram a montanha e estavam
prontos a remover aquela pequena pedra.
Abudo foi abrindo caminho entre a multidão, as
costas ondulando como um dorso de serpente.
Trazia as mãos afiadas, estendidas para esse corpo
que ainda não existia. Num baixar de olhos, Kadira
aceitou, conformada, esse antecipado destino. Mas
eu barrei o caminho a Abudo e, com silenciosa fúria,
proclamei: aquele menino tinha de viver! As minhas
mãos falavam e o cigarro aceso entre os dedos
iluminava a minha certeza. Sem que desse conta,
uma muralha de mulheres rodeava agora a jovem
parturiente. Abudo teria de passar por elas para se
aproximar de Kadira. E para que não houvesse
dúvida. Halima erguia a enxada em silenciosa, mas
convincente, ameaça. A mão dela foi, por um
instante, a boca de todas nós.
Voltei-me a debruçar sobre a minha irmã para
transmitir-lhe urgentes e atabalhoadas instruções.
Logo a seguir, o parto aconteceu: o menino deslizou
para as minhas mãos, esbracejando como um peixe
que se libertasse das barbatanas. Foi então que o
choro da criança se fez escutar. E aconteceu um
milagre: o pranto era um piar de pássaros noturnos.
Entreolhámo-nos, entre aliviados e surpresos. Todos
conheciam aquele pássaro, mas ninguém ousou
dizer o seu nome. À pressa, encostei o recém-
nascido ao peito arfante de Kadira. E o menino
sossegou, tão ocupado em mamar que se esqueceu
de que já tinha nascido.
- Que nome lhe vou dar? – perguntou Kadira.
Contemplei a primeira estrela da manhã e disse:
- Sayari.
A minha irmã sorriu e disse-me ao ouvido: –
Fumaste demasiado, mana.
Sem que desse conta, a manhã estava
despontando. Longe, os risos dos homens armados
confundiam-se com o grasnar dos corvos. Os
militares desapareciam na linha do horizonte. E
Sayari dormia no colo de Kadira. Tinha um nome de
estrela e aquele era o seu primeiro céu.
Mia Couto
Visão Braille, III Série, Nº 30, Julho, 2021, Santa
Casa da Misericórdia do Porto, CPAC, Edições
Braille.
Você também pode gostar
- A Epistemologia Do Professor - BECKERDocumento172 páginasA Epistemologia Do Professor - BECKERCarolOenning100% (1)
- E-Book 6 - Arcanos Maiores - Scheyla EstevesDocumento29 páginasE-Book 6 - Arcanos Maiores - Scheyla EstevesDeê SoaresAinda não há avaliações
- 8 - Escrito Com Sangue Do Meu Próprio Coração - Diana GabaldonDocumento745 páginas8 - Escrito Com Sangue Do Meu Próprio Coração - Diana GabaldonVanessa100% (2)
- TCC AutismoDocumento21 páginasTCC AutismoMarcia SouzaAinda não há avaliações
- Sandra Carvalho - A Saga Das Pedras Mágicas 3 - Lágrimas Do Sol e Da LuaDocumento439 páginasSandra Carvalho - A Saga Das Pedras Mágicas 3 - Lágrimas Do Sol e Da LuaFabiana SousaAinda não há avaliações
- Treinamento de Força PDFDocumento59 páginasTreinamento de Força PDFCarlos ThiagoAinda não há avaliações
- A Menina Sem Palavra - Mia CoutoDocumento89 páginasA Menina Sem Palavra - Mia CoutoFelipe RochaAinda não há avaliações
- As Cicatrizes Do Amor - Paulina ChizianeDocumento7 páginasAs Cicatrizes Do Amor - Paulina ChizianeAline Nascimento50% (2)
- Foolish Kingdoms 2 - Dare - Natalia JasterDocumento434 páginasFoolish Kingdoms 2 - Dare - Natalia JasterLet nunesAinda não há avaliações
- Questões de Prova - TRANSCAL - Marcelo e YohananDocumento13 páginasQuestões de Prova - TRANSCAL - Marcelo e YohananLUCAS RENAN OLIVEIRA CABRALAinda não há avaliações
- Caio Fernando Abreu - Garopaba, Mon AmourDocumento6 páginasCaio Fernando Abreu - Garopaba, Mon AmourAnderson BogéaAinda não há avaliações
- O Teste MABC Do Movimento em Criancas deDocumento12 páginasO Teste MABC Do Movimento em Criancas deJefferson Martins PaixaoAinda não há avaliações
- A Saga Otori I, II, IIIDocumento390 páginasA Saga Otori I, II, IIIranieriksousaAinda não há avaliações
- A Caçadora de ÁrvoresDocumento128 páginasA Caçadora de ÁrvoresRoberto GuimarãesAinda não há avaliações
- Livro Ichnology of Latin America - Web-Libre PDFDocumento198 páginasLivro Ichnology of Latin America - Web-Libre PDFIsabel OcañaAinda não há avaliações
- 01-Heaven - Virginia C AndrewsDocumento246 páginas01-Heaven - Virginia C AndrewsJamile MarianoAinda não há avaliações
- Affonso Solano O Espadachim de Carvão e A Voz Do Guardião CegoDocumento246 páginasAffonso Solano O Espadachim de Carvão e A Voz Do Guardião CegoWalison LoiolaAinda não há avaliações
- Ida Borchardt Entre Espadas e Dragões 01 Sangue e NeveDocumento226 páginasIda Borchardt Entre Espadas e Dragões 01 Sangue e NeveCopys Marcelo CarvalhoAinda não há avaliações
- Contos Mia CoutoDocumento5 páginasContos Mia CoutoAlberto AraújoAinda não há avaliações
- Argenia Chapter 1Documento2 páginasArgenia Chapter 1André CalióAinda não há avaliações
- O Ministério Da Felicidade Absoluta (Oficial) - Arundhati RoyDocumento421 páginasO Ministério Da Felicidade Absoluta (Oficial) - Arundhati RoyThiago MesquitaAinda não há avaliações
- Onde Escondemos o Ouro - Dinha)Documento86 páginasOnde Escondemos o Ouro - Dinha)Alessandro DornelosAinda não há avaliações
- POEM-ATO (Licio Neves em Recortes de Infância de Vital Santos) .Documento26 páginasPOEM-ATO (Licio Neves em Recortes de Infância de Vital Santos) .Pablo Guarani KaiowáAinda não há avaliações
- Demanda Do Bobo PDFDocumento36 páginasDemanda Do Bobo PDFgames brasil pt brAinda não há avaliações
- Guerreiros Vikings 1 - Viking T - Emmanuelle de MaupassantDocumento78 páginasGuerreiros Vikings 1 - Viking T - Emmanuelle de Maupassantjanessaluciano91Ainda não há avaliações
- UMBERTO ECO - A Misteriosa Chama Da Rainha LoanaDocumento310 páginasUMBERTO ECO - A Misteriosa Chama Da Rainha LoanaDani de VerasAinda não há avaliações
- Kingsbane Cs Claire Legrand Full ChapterDocumento67 páginasKingsbane Cs Claire Legrand Full Chapterherbert.bravo833100% (7)
- Lado7 Oficina SET 22 A1 2aDocumento39 páginasLado7 Oficina SET 22 A1 2agmattosgAinda não há avaliações
- Rainha Loana - Umberto EcoDocumento60 páginasRainha Loana - Umberto Ecopatriciahortz100% (1)
- Três Peças NôDocumento42 páginasTrês Peças NôBenedito BandeiraAinda não há avaliações
- Texto Duas PalavrasDocumento5 páginasTexto Duas PalavrasAltair Da Grasiela100% (1)
- Madeleine Roux Casa Das Fúrias 02 Tribunal Das SombrasDocumento269 páginasMadeleine Roux Casa Das Fúrias 02 Tribunal Das SombrasGilmar OliveiraAinda não há avaliações
- @roendoletras - Mirta Vento Amarelo - André Regal PDFDocumento427 páginas@roendoletras - Mirta Vento Amarelo - André Regal PDFVeridiana MoraesAinda não há avaliações
- Tudo Sao Historias de Amor Dulce Maria Cardoso PDF FreeDocumento86 páginasTudo Sao Historias de Amor Dulce Maria Cardoso PDF FreepapodeestudanteAinda não há avaliações
- O Mujique MareiDocumento3 páginasO Mujique MareiLeticia Felix Boisson100% (1)
- Contos de Fogo e SangueDocumento120 páginasContos de Fogo e Sanguesarahnabate2Ainda não há avaliações
- Resumo Fio de MissangasDocumento8 páginasResumo Fio de MissangasHelder MaziveAinda não há avaliações
- 03 - Sangue Da Congregação-Blood of The FoldDocumento485 páginas03 - Sangue Da Congregação-Blood of The FoldbrunakaulitzAinda não há avaliações
- Abelha Na Chuva-TesteDocumento1 páginaAbelha Na Chuva-TesteOlga DuarteAinda não há avaliações
- Carlos Drummond de AndradeDocumento16 páginasCarlos Drummond de AndradeCristiane LisAinda não há avaliações
- Dáhlia BryarcliffDocumento7 páginasDáhlia BryarcliffDixx JohnnyAinda não há avaliações
- A Maldição de Cavielli - Trilogia Cavielli Segunda edicão, 2016No EverandA Maldição de Cavielli - Trilogia Cavielli Segunda edicão, 2016Ainda não há avaliações
- DEUSA DE SANGUE O Amor Traria Luz e Redenção, Mas Era Pela Escuridão Que o Coração Dela Batia Mais Forte (FML Pepper)Documento266 páginasDEUSA DE SANGUE O Amor Traria Luz e Redenção, Mas Era Pela Escuridão Que o Coração Dela Batia Mais Forte (FML Pepper)Francielen MirandaAinda não há avaliações
- A+Misteriosa+Chama+Da+Rainha+Loana+ +Umberto+EcoDocumento254 páginasA+Misteriosa+Chama+Da+Rainha+Loana+ +Umberto+EcoDeh CabralAinda não há avaliações
- ELIOT T S - A Terra Desolada (Trad Ivan Junqueira)Documento14 páginasELIOT T S - A Terra Desolada (Trad Ivan Junqueira)William FunesAinda não há avaliações
- All Hollows Eve TRADE 1 32Documento32 páginasAll Hollows Eve TRADE 1 32Gabriel AdamiAinda não há avaliações
- Semana Da Leitura TextosDocumento3 páginasSemana Da Leitura TextosDiana SousaAinda não há avaliações
- The Girl From Everywhere #1 O Mapa Do Tempo - Heidi HeiligDocumento238 páginasThe Girl From Everywhere #1 O Mapa Do Tempo - Heidi HeiligJaqueline100% (1)
- Aurora & FrydaDocumento76 páginasAurora & FrydaYuMin HiuRe100% (1)
- UntitledDocumento130 páginasUntitledHélder MarcelinoAinda não há avaliações
- Crônicas de Morrighan @BIBLIOTECAVIRTUALBR Mary E PearsonDocumento68 páginasCrônicas de Morrighan @BIBLIOTECAVIRTUALBR Mary E PearsonҡσҡσlAinda não há avaliações
- LIVRO-Dan Brown - A Conspiração - Pdfbarba Azul - Charles PerraultDocumento13 páginasLIVRO-Dan Brown - A Conspiração - Pdfbarba Azul - Charles PerraultGuilherme Lugani100% (1)
- AmeninadomarDocumento33 páginasAmeninadomarEmília MarquesAinda não há avaliações
- 100 Historias A Janela - Antonio TorradoDocumento15 páginas100 Historias A Janela - Antonio TorradoPauloAinda não há avaliações
- LIVRO-Dan Brown - A Conspiração - Pdfbarba Azul - Charles PerraultDocumento13 páginasLIVRO-Dan Brown - A Conspiração - Pdfbarba Azul - Charles PerraultGuilherme Lugani100% (1)
- Malvina, A Bruxa MalvadaDocumento5 páginasMalvina, A Bruxa MalvadaPauloAinda não há avaliações
- Malvina, A Bruxa MalvadaDocumento6 páginasMalvina, A Bruxa MalvadaPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento7 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- Bmfe@cm-Matosinhos PTDocumento3 páginasBmfe@cm-Matosinhos PTPauloAinda não há avaliações
- Eça de Queirós - Conto Um Suave MilagreDocumento1 páginaEça de Queirós - Conto Um Suave MilagrePauloAinda não há avaliações
- Manuel António Pina, in "Algo Parecido Com Isto, Da Mesma Substância"Documento1 páginaManuel António Pina, in "Algo Parecido Com Isto, Da Mesma Substância"PauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento8 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- Sons Inaudíveis MotivacionalDocumento1 páginaSons Inaudíveis MotivacionalAndréa CardozoAinda não há avaliações
- Jonathan Emmet Eu Quero A LuaDocumento7 páginasJonathan Emmet Eu Quero A LuaPauloAinda não há avaliações
- Manuel António Pina, in "Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança"Documento1 páginaManuel António Pina, in "Nenhuma Palavra e Nenhuma Lembrança"PauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento3 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- Manuel António Pina, in "Um Sítio Onde Pousar A Cabeça"Documento1 páginaManuel António Pina, in "Um Sítio Onde Pousar A Cabeça"PauloAinda não há avaliações
- A Tecedeira de Cabelos Negros - Conto Japonês: KishiDocumento4 páginasA Tecedeira de Cabelos Negros - Conto Japonês: KishiPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento6 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento5 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- A LibélulaDocumento5 páginasA LibélulaPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento15 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento19 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- LIVRO-Dan Brown - A Conspiração - Pdfbarba Azul - Charles PerraultDocumento13 páginasLIVRO-Dan Brown - A Conspiração - Pdfbarba Azul - Charles PerraultGuilherme Lugani100% (1)
- UntitledDocumento7 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- Manuel António Pina, in "Aquele Que Quer Morrer"Documento1 páginaManuel António Pina, in "Aquele Que Quer Morrer"PauloAinda não há avaliações
- UntitledDocumento2 páginasUntitledPauloAinda não há avaliações
- Atividade 9 - Economia Brasileira Contemporânea - G1 - T1 - 2022 - 2Documento2 páginasAtividade 9 - Economia Brasileira Contemporânea - G1 - T1 - 2022 - 2Ana Carolina CastroAinda não há avaliações
- 06 - Descobrindo o Amor Com Os Olhos Da Alma - MioloDocumento48 páginas06 - Descobrindo o Amor Com Os Olhos Da Alma - MioloMarília Liloca100% (2)
- Refugiados D O BrasilDocumento11 páginasRefugiados D O BrasilcryhoneyAinda não há avaliações
- 2 Lista Revisional - Conceitos BsicosDocumento2 páginas2 Lista Revisional - Conceitos BsicosPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Carga Ativa para Testar Fontes de AlimentaçãoDocumento5 páginasCarga Ativa para Testar Fontes de AlimentaçãoLuiz059Ainda não há avaliações
- AULA 3 - Redação - Como Organizar Meu Pensamento - Profa. PambaDocumento8 páginasAULA 3 - Redação - Como Organizar Meu Pensamento - Profa. PambaPaulinha GazarianAinda não há avaliações
- Ninguém É InsubstituívelDocumento2 páginasNinguém É InsubstituívelThelma Fernandes De NovaesAinda não há avaliações
- A Responsabilidade Penal Por Omissao ImpDocumento109 páginasA Responsabilidade Penal Por Omissao ImpValéria RodriguesAinda não há avaliações
- Quadro de Acompanhamento 3 Avaliação BimestralDocumento8 páginasQuadro de Acompanhamento 3 Avaliação BimestralLeliane BarataAinda não há avaliações
- Tales of Demons and Gods Capitulo 428Documento5 páginasTales of Demons and Gods Capitulo 428edimarribeirodacunhaAinda não há avaliações
- NBR 6405 - Maquinas Rodoviarias - Simbolos para Controles Do Operador e Outros Mostradores - PartDocumento28 páginasNBR 6405 - Maquinas Rodoviarias - Simbolos para Controles Do Operador e Outros Mostradores - PartSuel VicenteAinda não há avaliações
- SLIDE 4 Aula Unidade 4 - Processamento de Produtos para SaúdeDocumento23 páginasSLIDE 4 Aula Unidade 4 - Processamento de Produtos para SaúdeGlaucinea CoutinhoAinda não há avaliações
- Testes (Formato Editável)Documento34 páginasTestes (Formato Editável)Catarina FerreiraAinda não há avaliações
- 1 Escola Da ExegeseDocumento11 páginas1 Escola Da ExegeseAna LiviaAinda não há avaliações
- Texto Seminario - Maria V Benevides Educação em DH de Que Se TrataDocumento11 páginasTexto Seminario - Maria V Benevides Educação em DH de Que Se TrataGustavo FujiAinda não há avaliações
- Ebook Homenagem Ao Prof Denilson2 CORRIGIDO CORRETO 2 Thz8d8Documento128 páginasEbook Homenagem Ao Prof Denilson2 CORRIGIDO CORRETO 2 Thz8d8adilivsAinda não há avaliações
- Solcrafte Brochure PTDocumento13 páginasSolcrafte Brochure PTcat_txAinda não há avaliações
- Aula 08 - Processo Civil IIIDocumento21 páginasAula 08 - Processo Civil IIIJennifer NunesAinda não há avaliações
- 3.2. Aspiral HermenêuticaDocumento22 páginas3.2. Aspiral HermenêuticaMário AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Animais Ed InfDocumento8 páginasAnimais Ed InfCentro EducaçãoAinda não há avaliações
- 10 Dicas para Reduzir Os Riscos para o Trabalhador Da Construção Civil - DDS OnlineDocumento2 páginas10 Dicas para Reduzir Os Riscos para o Trabalhador Da Construção Civil - DDS OnlineAmorim AmorimAinda não há avaliações
- Treinamento EnemDocumento3 páginasTreinamento EnemJóVidal100% (1)
- Sistema de Classificação Dos VegetaisDocumento34 páginasSistema de Classificação Dos VegetaisLayla Lino100% (1)