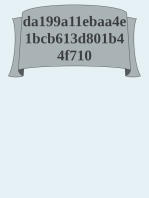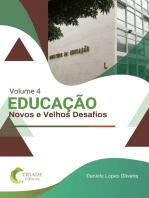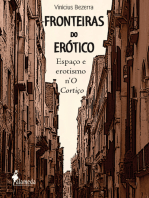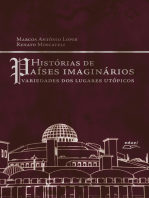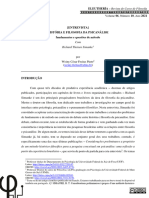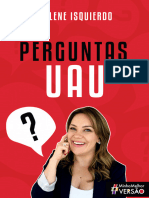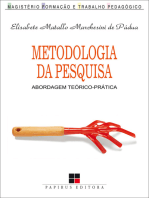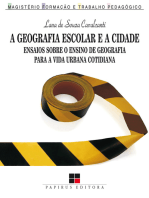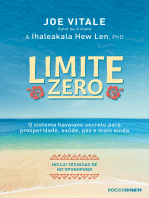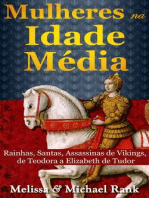Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rachel Williams - A Moldura Do Mundo
Enviado por
JeansmagroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rachel Williams - A Moldura Do Mundo
Enviado por
JeansmagroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A moldura do mundo: considerações gerais sobre eurocentrismo e alteridades nos
estudos acerca do período moderno
Rachel Saint Williams
Em 2013, Achille Mbembe registrava nas primeiras linhas de Crítica da razão negra
um diagnóstico da configuração mundial que, naquele exato momento, correspondia à
afirmação de que a Europa deixava de ocupar a prestigiosa posição de “centro de gravidade do
mundo”1. Tal acontecimento, ainda segundo Mbembe, teria descortinado uma série de novas
possibilidades para o pensamento crítico, sendo, portanto, nessa seara de riscos e possibilidades,
aberta por um rearranjo profundo na geopolítica mundial, que Mbembe localiza uma parte da
reflexão presente em sua citada obra. Mas por que esse deslocamento da Europa, classificado
como uma reviravolta pelo autor, abriria novas possibilidades para o pensamento crítico? Uma
resposta bastante plausível é inferir que a primazia europeia na ordem mundial teria como
consequência uma espécie de estrangulamento nas formas de pensar o mundo e as relações
entre os diversos grupos humanos, porque apenas a tradição de pensamento europeia – um bloco
fragmentado e indubitavelmente constituído por disputas e contradições, não sendo, portanto,
homogêneo e muito menos fixo – estaria habilitada a atuar como intérprete do mundo e de seus
habitantes, representando assim a única fonte de conhecimento autorizado e desqualificando,
consequentemente, qualquer produção de conhecimento que não se encaixasse em seus moldes
e padrões preestabelecidos. Ou seja, o enfraquecimento do eurocentrismo, gerado por um
conjunto de transformações na geopolítica mundial da virada do século, possibilitou que outras
vozes e tradições de pensamento se reunissem na esfera global, abrindo novas perspectivas e
caminhos para a exploração de variadas formas de conhecimento.
No entanto, para que possamos apreender o panorama desenhado por Mbembe – e até
mesmo para que possamos aproveitar esse momento, dado que períodos de crise são também
oportunidades de criação – é preciso que nos façamos algumas perguntas prévias. A que
estamos nos referindo quando falamos de “eurocentrismo”? O eurocentrismo trouxe
consequências para a fabricação das ciências humanas em geral? E para a história em
particular? Quais problemas conceituais ou epistemológicos podem derivar de uma lógica
eurocêntrica de produção de conhecimento?
* A autora agradece à Capes pelo financiamento desta pesquisa através da concessão de uma bolsa PNPD.
1
Achille Mbembe, Crítica da razão negra (trad. Sebastião Nascimento, São Paulo, N-1 edições, 2018), p. 11.
Texto no prelo, favor não circular.
2
Um elenco variado de pesquisadores abraçou como tarefa encontrar respostas para as
interrogações acima, avaliando igualmente suas consequências e implicações. A proposta da
presente reflexão é levantar algumas considerações a respeito dos efeitos do eurocentrismo na
produção historiográfica que trata do período histórico que se convencionou chamar época
moderna, que abarca do século XV ao XVIII. Em um segundo momento, o tema das alteridades
na construção do mundo moderno será foco de atenção. Ainda será proposta a exploração de
ferramentas de investigação – a história das ideias em recorte global e a perspectiva teórica pós-
colonial – que nos auxiliem a perceber os silêncios engendrados pela lógica eurocêntrica de
produção do conhecimento, dentro dos limites da produção historiográfica. Considero que a
busca pelos vestígios dessas alteridades constitui uma estratégia fundamental para alcançar uma
compreensão mais ajustada acerca da construção do mundo moderno.
Parte I – Sobre eurocentrismo, suas mazelas e algumas armadilhas
Nas últimas décadas, a palavra “eurocentrismo” vem sendo usada com bastante
frequência por sociólogos, antropólogos, filósofos, pedagogos, ensaístas, críticos literários e
historiadores, talvez com menor regularidade por esses últimos2. Apesar dessa ampla difusão
na literatura contemporânea, não é sempre que a palavra vem acompanhada de uma definição
ou de uma matização teórica. Parte-se do princípio de que todos sabem seu significado, ainda
que suas consequências, seu alcance ou, até mesmo, a veracidade de sua existência sejam alvo
de acalorados debates. A ausência de uma descrição mais precisa pode fazer com que
“eurocentrismo” seja facilmente confundido com “etnocentrismo”3, fator que limita o poder
explicativo que pode ser vinculado ao primeiro termo. Um exemplo disso é a sintética definição
2
Concordo com os autores Pedro Afonso dos Santos, Thiago Lima Nicodemo e Mateus Henrique de Faria Pereira
quando notam que há um possível descompasso entre “a pouca atenção a esse debate [acerca do eurocentrismo]
no plano acadêmico no Brasil, ao menos nos domínios da história da historiografia, história intelectual, teoria da
história, entre outros, e a presença significativa que essa noção já ocupa, seja na demanda social pela inclusão
social que impacta não só o ensino em geral como o perfil dos estudantes nas universidades, seja como conceito
importante no ensino de história, que passa a influenciar a escrita e a difusão de livros didáticos, entre outros
efeitos”; Pedro Afonso Cristovão dos Santos, Thiago Lima Nicodemo e Mateus Henrique de Faria Pereira,
“Historiografias periféricas em perspectiva global ou transnacional: eurocentrismo em questão”, Estudos
históricos, Rio de Janeiro, v. 30, n. 60, jan.-abr. 2017, p. 163-4.
3
O Dicionário de conceitos históricos, de Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva, define “etnocentrismo”
como: “uma visão de mundo fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada cultura; por ele, o
indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir de sua própria cultura” (p. 127). Os autores também
destacam que o etnocentrismo é antiguíssimo e pode ser encontrado em diversas culturas. No âmbito do dicionário,
não é demarcada uma diferença significativa entre etnocentrismo e eurocentrismo, que é definido tal qual a “atitude
das diversas nações europeias de impor seus valores e de se considerarem superiores aos povos autóctones da
África, da Ásia e da América” (p. 129); Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva, Dicionário de conceitos
históricos (São Paulo, Contexto, 2009).
Texto no prelo, favor não circular.
3
do dicionário de antropologia de Mike Morris, onde o eurocentrismo é caracterizado como uma
noção básica que defende que os valores europeus são naturalmente superiores aos de outros
povos, postura que pode ser facilmente descrita como etnocêntrica4. Um entendimento mais
refinado dessa temática é esboçado no verbete do New Dictionary of the History of Ideas, no
qual “eurocentrismo” é apresentado como uma “tendência discursiva para interpretar as
histórias e culturas das sociedades não ocidentais a partir de uma perspectiva europeia (ou
ocidental) [tradução livre]”5. O verbete identifica como traço comum do eurocentrismo a
subestimação das sociedades não europeias, atitude que poderia ser descrita como etnocêntrica.
Todavia, o texto vai adiante e realça um elemento que será relevante para a reflexão
historiográfica sobre o assunto, qual seja: a prática eurocêntrica de instituir uma visão das
trajetórias históricas das sociedades não europeias, a partir de pressupostos unicamente
europeus. Um desdobramento dessa prática seria a interpretação das histórias das “outras”
partes do mundo como partes complementares da grande narrativa da expansão da Europa e de
sua influência civilizatória sobre o globo. No verbete em questão, é interessante notar que
Europa e Ocidente são empregados como sinônimos, de forma semelhante à abordagem de
outros escritos6 sobre o tema do eurocentrismo. Há também aqueles que irão preferir a
denominação de Norte Atlântico, em lugar de “Ocidente”, como o antropólogo Michel-Rolph
Trouillot7.
Uma reflexão instrutiva8 sobre o tema do eurocentrismo pode ser encontrada no livro
do economista Samir Amin, Eurocentrism. Na obra, Amin chama atenção sobre a importância
de diferenciar eurocentrismo de etnocentrismo. Isto porque, ainda que não possa ser
4
Mike Morris, Concise dictionary of social and cultural anthropology (Chichester, Wiley-Blackwell, 2012), p.
88.
5
No original: “discursive tendency to interpret the histories and cultures of non-european (or Western)
perspective”; Maryanne Cline Horowitz (ed.), New Dicionary of the History of Ideas, v. 2 (Nova York, Charles
Scribner's Sons, 2005), p. 737.
6
Por exemplo: James Blaut, The Colonizer’s Model of the World: Geographical Diffusionism and Eurocentric
History (Nova York, The Guilford Press, 1993).
7
“‘Modernity’ is a murk term that belongs to a family of words we may label ‘North Atlantic universals’. By that,
I mean words inherited from what we now call the West – which I prefer to call the North Atlantic, not only for
the sake of geographical precision – that project the North Atlantic experience on a universal scale that they have
helped to create. North Atlantic universals are particulars that have gained a degree of universality, chunks of
human history that have become historical standards. Words such as ‘development’, ‘progress’, ‘democracy’, and
indeed the ‘West’ itself are exemplary members of that family which contracts or expands according to contexts
and interlocutors”; Yarimar Bonilla, Georg Beckett e Mayanthi L. Fernando (ed.), Trouillot Remixed: The Michel-
Rolph Trouillot Reader (Durham/Londres, Duke University Press Books, 2021), p. 220.
8
Ainda que o próprio autor a considere um tanto simplista, o que nos serve de alerta para a complexidade do
fenômeno que estamos abordando. Nas palavras de Amin: “The composite Picture of Eurocentrism presented here
is, by force of circumstances, simplistic, since it only retains the common denominator of varied and sometimes
contradictory opinions”; Samir Amin, Eurocentrism: modernity, religion, and democracy – a critique of
eurocentrism and culturalism (2. ed., Nova York, Monthly Review Press, 2009), p. 181.
Texto no prelo, favor não circular.
4
considerado estritamente uma teoria, o eurocentrismo não é uma simples forma de
etnocentrismo, este sim uma manifestação que pode ser encontrada em diversas culturas ao
longo do tempo e do espaço, não sendo, portanto, uma exclusividade europeia9. O
eurocentrismo, por outro lado, seria uma “construção relativamente moderna” [tradução
livre]10, um fenômeno que pode ser considerado vigente do século XVIII em diante. Para o
autor, mais do que um conjunto de erros, preconceitos e enganos que os ocidentais possam ter
cometido ao observar e interagir com outras culturas, o eurocentrismo implica uma teoria da
história mundial que, a seu turno, pode ser empregada como instrumento de determinados
projetos políticos.
O exame da produção dessa metanarrativa da superioridade europeia deveria interessar
mais à comunidade historiográfica, até porque tal metanarrativa constitui um enorme obstáculo
para uma compreensão mais adequada do passado da Europa, bem como das “outras” partes do
mundo, e também das relações entre as diferentes sociedades e culturas. Em certo sentido, essa
é uma das críticas presentes na obra do antropólogo Jack Goody, que recebeu o sugestivo título
de O roubo da história. No livro, publicado pela primeira vez em 2007, Goody elaborado uma
contundente crítica, não isenta de fragilidades11, ao que ele classificou como “a dominação da
história pelo Ocidente”12, e que corresponde à apresentação e à conceituação do passado global
em conformidade com a lógica, restrita e provincial, da Europa Ocidental. Argumento
semelhante, porém com desenvolvimento distinto, é esboçado no livro do geógrafo James
Blaut, no qual o autor afirma que o eurocentrismo, muito mais que um conjunto de preconceitos
contra povos não europeus13, é um problema que concerne à ciência e à produção de
conhecimento especializado. Aprofundando a reflexão sobre o tema, Blaut afirma que é um
problema central para a historiografia e para a história das ideias compreender como o discurso
histórico ocidental assimilou – creio ser acertado acrescentar que tal discurso não apenas
assimilou, mas também produziu e difundiu – afirmações eurocêntricas que, todavia, são frágeis
9
Que o etnocentrismo seja uma postura que pode ser encontrada em diversas sociedades é um argumento com o
qual parece concordar outro autor que é geralmente discutido quando o tema é eurocentrismo, Jack Goody.
Contudo, a opinião deste autor é de que o eurocentrismo é uma mera variante do etnocentrismo: “Todas as
sociedades humanas exibem um certo etnocentrismo que, em parte, é um requisito do qual eurocentrismo e
orientalismo são variantes, não é uma doença exclusiva da Europa”; Jack Goody, O roubo da história: como os
europeus se apropriaram das ideias e das invenções do Oriente (São Paulo, Editora Contexto, 2008, e-book).
10
“relatively modern construct”, em Samir Amin, Eurocentrism, cit., p. 178.
11
Uma boa apreciação crítica está na resenha da obra escrita por Jacques Revel, “A história redescoberta?”, em
Patrick Boucheron e Nicolas Delalande, Por uma história-mundo (Belo Horizonte, Autêntica, 2015), p. 21-8.
12
Jack Goody, O roubo da história, cit.
13
Nesse caso, Blaut concorda com Amin, que é diretamente mencionado no livro do primeiro, acerca da não
equivalência entre eurocentrismo e etnocentrismo.
Texto no prelo, favor não circular.
5
do ponto de vista metodológico14. Acerca da centralidade desse problema, creio ser difícil
divergir do autor.
O sociólogo Immanuel Wallerstein, reconhecido principalmente pelo amplamente
difundido trabalho acerca do sistema mundial moderno15, refletiu em diferentes escritos a
respeito do arcabouço teórico das ciências sociais e de suas relações com os desafios colocados
pelas transformações das estruturas políticas e sociais globais, no final do século XX. Após
analisar a história social da epistemologia das ciências socias, o autor defendeu, ainda em 1998,
que muitas das suposições e princípios que servem como base para as ciências sociais, além de
serem enganosos, representam verdadeiras amarras ao pensamento crítico. A origem de tais
amarras e enganos pode ser encontrada, muitas vezes, na lógica eurocêntrica que acompanhou
o momento de fundação das ciências humanas, deixando marcas significativas também em seu
arcabouço teórico16.
Em 2006, Wallerstein elaborou uma contundente crítica à retórica de poder alicerçada
na ideia de um universalismo europeu, pensado como um obstáculo para a construção de um
universalismo de fato abrangente e universal17. Importa registrar, como nos recorda
Wallerstein, que a crítica ao eurocentrismo ganha força em 1945, nos quadros dos movimentos
de descolonização da África e da Ásia, cenário no qual as denúncias e críticas efetivadas pelos
discursos anticoloniais – nas vozes de autores como Aimé Césaire18 e Frantz Fanon19, para citar
dois exemplos emblemáticos – ocuparam um lugar preponderante. Também não custa assinalar
que a perspectiva teórica pós-colonial, em alguma dimensão herdeira do discurso anticolonial20,
se afirma no cenário intelectual como crítica ferrenha ao eurocentrismo, para tanto, basta
14
Cf. James Blaut, The Colonizer’s Model of the World, cit., p. 9.
15
Ver Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalism Agriculture and the Origins of the
European World-Economy in the Sixteenth Century (Berkeley, University of California Press, 2011).
16
A explicação para essa contaminação do eurocentrismo no cerne das ciências sociais é, na verdade, bastante
simples, pois, de acordo com Wallerstein, tais ciências são um produto do sistema mundo moderno e, por sua vez,
o eurocentrismo é constitutivo da geocultura desse sistema. Assim, nada mais natural do que imaginar que as
ciências sociais, conforme a formatação que receberam na Europa do século XIX, fossem buscar soluções para os
problemas relacionados ao universo europeu da época, momento no qual algumas entidades políticas europeias
exerciam um forte domínio imperialista em diversas áreas da África e da Ásia.
17
Certamente o livro é uma grande condenação da lógica eurocêntrica, dado que um de seus objetivos é analisar
o papel desempenhado por tal lógica na geopolítica internacional. Ver Immanuel Wallerstein, O universalimo
europeu: a retórica do poder (São Paulo, Boitempo, 2007).
18
Ver Aimé Césaire, Discurso sobre o colonialismo (São Paulo, Veneta, 2020).
19
Frantz Fanon, Os condenados da terra (São Paulo, Zahar, 2022).
20
Para uma genealogia bastante elucidativa da perspectiva teórica pós-colonial, ver a síntese apresentada pelo
especialista em Frantz Fanon, Deivison Mendes Faustino, A disputa em torno de Frantz Fanon: a teoria e a política
dos fanonismos contemporâneos (São Paulo, Intermeios, 2020).
Texto no prelo, favor não circular.
6
lembrar de uma das referências mais elementares dessa perspectiva, o livro Orientalismo, de
Edward Said.
No entanto, dentre as muitas reflexões de Immanuel Wallerstein sobre o
eurocentrismo, a que nos interessa agora é aquela que poderá nos auxiliar a compreender o que
o autor denominou de “avatares do eurocentrismo”. Tais avatares seriam uma espécie de
encarnação do eurocentrismo, em outras palavras, as formas através das quais o eurocentrismo
se manifesta no mundo. Wallerstein enumera cinco campos de ação dos avatares do
eurocentrismo: historiografia, universalismo, civilização, orientalismo e progresso21. Talvez
fosse interessante aumentar a lista do autor incluindo o conceito de modernidade e as teorias de
modernização, mesmo que, de certa forma, a reflexão sobre essas instâncias já esteja subsumida
nas análises do autor acerca da historiografia e do conceito de progresso.
O exame das categorias em que são agrupados os avatares do eurocentrismo é uma
operação particularmente importante para a comunidade historiográfica – especialmente, mas
não exclusivamente, na área de história moderna –, tendo em vista que a bibliografia e as fontes
primárias com as quais operamos regularmente estão apinhadas de manifestações diretas e
indiretas desses avatares. Assim, por exemplo, o termo “civilização” é usualmente empregado
em contraposição às noções de primitivo ou bárbaro, concepções já francamente contestadas
pela antropologia22. Já a noção de progresso, que em muitos casos serviu como um substituto
para civilização, forneceu o fundamento racional das teses que descrevem as sucessivas etapas
de desenvolvimento das sociedades que, por sua vez, embasam as teorias de modernização,
também já amplamente criticadas23. Em linhas muitíssimo gerais, as teorias de modernização e
as formas etapistas de compreensão da história acabam sendo eurocêntricas porque supõem,
declarada ou implicitamente, que a trajetória histórica europeia não é apenas o modelo, mas,
também, a meta a ser alcançada no final da corrida pelo desenvolvimento. Aqui reside uma das
muitas armadilhas da lógica eurocêntrica: ela se encontra tão impregnada nos valores e
concepções majoritárias do mundo contemporâneo que corre o risco de passar despercebida.
O problema ainda é mais profundo do que aparenta, uma vez que mesmo aqueles
pesquisadores que estão compromissados em identificar e combater o eurocentrismo podem
eles mesmos continuar perpetuando sua lógica através da adoção de premissas eurocêntricas
21
Immanuel Wallerstein, “El eurocentrismo y sus avatares: los dilemas de las ciencias sociales”, Revista de
Sociologia, n. 15, 2001, p. 27-39.
22
Ver Pierre Clastres, A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política (São Paulo, Ubu Editora,
2017).
23
Ver Jack Goody, O roubo da história, cit.; David Graeber e David Wengrow, O despertar de tudo: uma nova
história da humanidade (São Paulo, Companhia das Letras, 2022, e-book).
Texto no prelo, favor não circular.
7
para criticar o eurocentrismo, uma armadilha descrita por Wallerstein como “antieurocentrismo
eurocêntrico”. Os dispositivos desse tipo de raciocínio estariam presentes na teoria do “primeiro
a atingir a meta”, que corresponde a sustentar que outras sociedades estariam desenvolvendo
ferramentas ou valores que foram importantes para realizar o “milagre europeu”, como, por
exemplo, o desenvolvimento da ciência moderna, do capitalismo ou dos princípios de
secularização que poderiam ser facilmente identificados em diferentes estágios de
desenvolvimento em outras sociedades24. Tal consideração crítica seria apropriadamente
atribuída ao livro O roubo da história, de Jack Goody, por exemplo25. Outro autor que emprega
esse dispositivo crítico, mesmo não fazendo uso da nomenclatura de Wallerstein, é o historiador
Frederik Cooper, quando comenta uma série de trabalhos que contestaram o conceito de
modernidade26 a partir de premissas que, para Cooper, apenas perpetuam ou mimetizam, com
sinal invertido, a teoria que almejam contestar.
Até aqui foi possível perceber que, muito mais do que uma atitude etnocêntrica por
parte dos europeus em relação a outros povos, é recomendável entender o eurocentrismo como
uma lógica discursiva que governou, e em alguns casos ainda governa, os protocolos
epistemológicos de produção das ciências humanas nas sociedades ocidentais27. Nesse âmbito,
é factível afirmar que uma das searas mais afetadas pelo eurocentrismo diz respeito às formas
distorcidas de apreender os “outros”. Não é à toa que um trabalho que se notabilizou pela crítica
ao eurocentrismo foi Orientalismo, de Edward Said, que denuncia precisamente o processo de
criação que resultou na invenção do Oriente pelo Ocidente. Ainda que a obra tenha suscitado
inúmeros posicionamentos, tanto positivos, quanto negativos, o que nos interessa reter é essa
operação de “invenção do Oriente”, a partir de uma série de procedimentos letrados, tais como
a descrição estilizada e abstrata das características das culturas orientais28. Uma percepção
semelhante está presente na concepção de Achille Mbembe acerca do pensamento europeu que,
segundo o autor, apresenta como tendência majoritária a interpelação da identidade alheia a
partir do aprisionamento em seu próprio espelho, e não em condições de copertencimento a um
mesmo mundo29. O resultado dessa operação é colocado nos seguintes termos:
24
Cf. Immanuel Wallerstein, “El eurocentrismo y sus avatares”, cit.
25
Cf. Jacques Revel, “A história redescoberta?”, cit.
26
Ver Frederick Cooper, Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History (Berkeley, University of
California Press, 2005).
27
Atualmente, outros ramos de conhecimento têm se preocupado com as consequências do eurocentrismo em suas
áreas. Um bom exemplo desse movimento é o livro de Malcom Ferdinand recentemente publicado em português
Uma ecologia decolonial; pensar a partir do mundo caribenho (São Paulo, Ubu Editora, 2022).
28
Ver Edward Said, Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente (São Paulo, Companhia de Bolso, 2007).
29
Achille Mbembe, Crítica da razão negra, cit., p. 11-2.
Texto no prelo, favor não circular.
8
Na maneira de pensar, classificar e imaginar os mundos distantes, o discurso
europeu, tanto o erudito como o popular, com frequência recorreu a
procedimentos de fabulação. Ao apresentar como reais, certos e exatos fatos
muitas vezes inventados, escapou-lhe justamente o objeto que buscava
apreender, mantendo com ele uma relação fundamentalmente imaginária,
mesmo quando sua pretensão era desenvolver saberes destinados a apreendê-
lo objetivamente. As principais características dessa relação imaginária ainda
estão longe de ser elucidadas, mas os procedimentos graças aos quais o
trabalho de fabulação pôde ganhar corpo, assim como seus efeitos violentos,
são bem conhecidos hoje. Nesse sentido, há pouco a acrescentar. No entanto,
se existe um objeto e um lugar em que esta relação imaginária e a economia
ficcional que a sustenta se dão a ver do modo mais brutal, distinto e manifesto,
é exatamente esse signo que chamam de negro e, por tabela, o aparente não
lugar que chamamos de África, cuja característica é ser não um nome comum
e muito menos um nome próprio, mas o indício de uma ausência de uma
obra.30
Nesse momento, um alerta se faz necessário, pois, assim como é preciso considerar
que “Oriente” e “África” são fabulações europeias, as próprias noções de “Europa” e de
“Ocidente” – referências culturais, muito mais que geográficas – são igualmente resultado de
fabulações, nas quais o eurocentrismo forneceu um potente combustível. Em outras palavras, o
eurocentrismo também desempenhou um papel importante na fabricação desses constructos, e,
aqui, é preciso cautela para não cair em uma armadilha que atinge muitos autores que partilham
das perspectivas teóricas pós-coloniais, correspondente a tomar esses constructos como
realidade, ou ainda, fabricar eles mesmos imagens fantasiosas e hipostasiadas da “Europa” e do
“Ocidente”. Tais deslizes foram motivo de acalorados debates31, levando à cunhagem do termo
“Ocidentalismo”, que muitas vezes é empregado com um certo exagero por parte dos críticos.
Exagero porque, para considerar que “Ocidentalismo” seja uma categoria simétrica à de
“Orientalismo”, seria preciso supor que o “Oriente” ocupasse um posto geopolítico da mesma
grandeza que o “Ocidente” nos séculos XIX e XX. Dito de outra forma, para que uma retórica
ocidentalista tivesse o efeito análogo de uma retórica orientalista, seria necessário associar os
expedientes retóricos de deturpação da visão do “outro” à existência de um forte poderio
econômico e político essencial para difundir tal perspectiva estereotipada. O que não foi o caso,
ao menos até a virada para o século XXI, se considerarmos as significativas mudanças que estão
ocorrendo na esfera global.
Todavia, o mais importante a ser observado nessa temática é que nenhum desses
constructos, “Europa”, “Oriente”, “África” e “Ocidente”, foram engendrados e utilizados sem
30
Ibidem, p. 31.
31
Ver Avishai Margarit e Ian Burama, Occidentalism: the West in the Eyes of Its Enemies (Nova York, The
Penguin Press, 2004).
Texto no prelo, favor não circular.
9
que alterações significativas no discurso histórico fossem produzidas. E aqui, mais uma vez, os
historiadores e historiadoras devem ficar de olhos e ouvidos bem abertos. A reificação de
categorias que são empregadas como instrumentos intelectuais – convém assinalar a dimensão
das disputas geopolíticas que, não raro, tais reificações expressam – possuem consequências
perigosas que extrapolam a esfera acadêmica, pois, ao proceder de tal forma, incorremos na
criação de falsos modelos da realidade, como nos recorda Eric Wolf. A imagem que o autor
utiliza para ilustrar sua advertência é a alegoria do mundo como um salão de sinuca, no qual as
culturas, sociedades ou nações são compreendidas como se fossem “objetos internamente
homogêneos e extremamente distintos e limitados”32, herméticas bolas de bilhar que se chocam
no verde feltro do tabuleiro mundial, sem que houvesse efetivamente qualquer possibilidade de
troca, hibridização ou entrelaçamento. Nesse sentido, não apenas nosso conhecimento acerca
dessas sociedades estaria comprometido, como efetivamente nossa compreensão da história das
relações e contatos entre diferentes modos de existência. O efeito gerado por esses dispositivos
narrativos, portanto, deságua na criação de esquemas interpretativos ideologicamente
carregados e repletos de deficiências conceituais, que limitam nosso entendimento acerca dos
fenômenos políticos e sociais. Wolf redigiu um trecho bastante significativo para análise dessa
problemática:
O hábito de tratar entidades que têm um nome, tais como os iroqueses, a
Grécia, a Pérsia ou os Estados Unidos, como entidades fixas, opostas umas às
outras por uma arquitetura interna estável e por fronteiras externas, interfere
em nossa capacidade de compreender seu mútuo encontro e confronto. Dispor
blocos construtivos imaginários em pirâmides denominadas Oriente e
Ocidente, Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo simplesmente encobre essa
dificuldade.33
Certamente, muitos pesquisadores dedicaram-se à análise da ideia coletiva de
“Europa” concebida enquanto um domínio cultural. É o caso, por exemplo, da coletânea The
Idea of Europe, dirigida pelo historiador Anthony Pagden, que reúne diversos ensaios que
buscam problematizar a noção de identidade europeia, bem como pensar a ideia de Europa,
desde a Grécia Antiga, até o final do século XX. O próprio Pagden assina um ensaio que busca
traçar a genealogia da formação do conceito de Europa, explorando diversos componentes que
teriam contribuído para delinear a noção em tela34. Vale mencionar também, um livro que
32
Eric Wolf, A Europa e os povos sem história (São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo), p. 29.
33
Ibidem, p. 30.
34
Anthony Pagden, “Europe: Conceptualizing a continent”, em Anthony Pagden (ed.), The Idea of Europe:
From Antiquity to the European Union (Nova York, Cambridge University Press/Woodrow Wilson Center,
2002), p. 33-71
Texto no prelo, favor não circular.
10
trabalha o princípio de formação da identidade europeia35 a partir da contraposição desta com
a imagem dos “outros”. Assim, a imagem da “Europa” vai se delineando em um imbricado jogo
de espelhos com a alteridade, os “bárbaros”, os “selvagens”, dentre outros. Trata-se da obra
Europa ante el espejo, do historiador Josep Fontana36.
Em 1965, portanto muito antes da publicação da coletânea de ensaios dirigida por
Pagden, o historiador Hugh Trevor-Roper já teria sinalizado que a fabricação da identidade
europeia é tributária de uma narrativa histórica37. De acordo com o antropólogo Talad Asad, a
obra de Trevor-Roper foi uma das primeiras a apontar o papel da narrativa histórica na
construção da ideia de Europa, a partir de um espaço homogêneo e sob uma perspectiva de
tempo linear. Vale lembrar que, embora essas contribuições sejam importantes e oportunas para
que possamos refletir sobre a elaboração do constructo “Europa”, elas frequentemente acabam
incorrendo na utilização de conceitos, de perspectivas e até de certas mitologias eurocêntricas
para analisar como a ideia de Europa foi engendrada, obliterando mais uma vez nossa
compreensão sobre o tema38. Cabe destacar que a época moderna ocupa um papel central nessas
narrativas, tanto porque foi o início de um período de sustentada e contínua expansão europeia
sobre outras partes do mundo, como também porque diversos marcos que são considerados
decisivos para a narrativa triunfalista da excepcionalidade europeia, “o milagre europeu”, estão
associados à época moderna, como o renascimento, a reforma religiosa, o nascimento da ciência
moderna e o iluminismo39.
Os exercícios de análise das formações discursivas desses constructos que permeiam
nossas bibliografias e imaginários, como “Europa”, “Ocidente”, “Oriente” e “África”,
especialmente aqueles estudos que desejam se desviar das armadilhas do eurocentrismo, podem
35
O teórico da cultura Stuart Hall sustenta que a identidade opera na contingência histórica, sempre de forma
relacional, podendo ser encarada como uma construção processual e sujeita a alterações, logo nunca plenamente
acabada. O conceito de identidade, concebido nestes termos, é estratégico porque nos permite pensar a identidade
operando através de um trabalho discursivo que envolve a demarcação da diferença. Cf. Stuart Hall, A identidade
cultural na pós-modernidade (Rio de Janeiro, DP&A, 2005).
36
Josep Fontana, Europa ante el espejo (Barcelona, Crítica, 2000).
37
Hugh Trevor-Roper, The Rise of Christian Europe (Londres, Thames and Hudson, 1965).
38
Um exemplo das narrativas eurocêntricas que se forjam em torno de noções como “Europa” e “Ocidente” é
dado por Wolf: “Fomos ensinados, nas salas de aula e fora delas, que existe uma entidade chamada Ocidente e que
se pode pensar nesse Ocidente como uma sociedade e uma civilização independentes e em oposição a outras
sociedades e civilizações. Muitos de nós crescemos acreditando que o Ocidente possui uma genealogia segundo a
qual a Grécia antiga gerou Roma, Roma gerou a Europa cristã, a Europa cristã gerou o Renascimento, a
Renascença gerou o Iluminismo, o Iluminismo gerou a democracia política e a Revolução Industrial. A indústria,
cruzada com a democracia, por sua vez produziu os Estados Unidos, encarnando o direito à vida, à liberdade e à
busca da felicidade. […] A história converte-se, assim, em um conto sobre como a virtude se amplia [...]”; Eric
Wolf, A Europa e os povos sem história, cit., p. 27.
39
Essas questões estão muito próximas da formulação do conceito de modernidade associada a uma proposta de
periodização.
Texto no prelo, favor não circular.
11
ser contribuições riquíssimas para o pensamento crítico. Um escrito que aponta de forma
esclarecedora algumas das inconsistências presentes na ideia de “civilização ocidental” é
“There Never Was a West: Or, Democracy Emerges from the Spaces in Between”, do
antropólogo David Graeber. No texto, além de afirmar que “civilização ocidental” é um
conceito particularmente incoerente que usualmente é empregado para fazer referência a uma
tradição intelectual, Graeber desnaturaliza também um conjunto de valores e princípios
comumente associados ao Ocidente. Para a execução dessa tarefa, o autor elege como
interlocutor privilegiado, ou alvo privilegiado, os escritos de Samuel Huntington40. Dos
argumentos levantados por Graeber, o que nos interessa reter aqui é aquele que identifica os
pontos cegos das críticas dirigidas a Huntington, pois tal argumento concerne justamente à
necessidade de investigar a fundo ideias como “Europa” e “Ocidente”. Segue o trecho em
questão:
Nenhum de seus críticos, que eu saiba, desafiou a ideia de que existe uma
entidade que pode ser referida como o “Ocidente”, que pode ser tratada
simultaneamente como uma tradição literária originária da Grécia Antiga e
como a cultura do senso comum das pessoas que vivem na Europa Ocidental
e na América do Norte hoje em dia. A suposição de que conceitos como
individualismo e democracia são de alguma forma peculiares ao Ocidente
continua igualmente sem ser desafiada. [tradução livre] 41
A área de pesquisa da história das ideias, pensada a partir de uma moldura global,
oferece um solo fértil para essa empreitada de conseguir destrinchar as camadas de significados
que vão se acumulando, bem como as tensões e as disputas que surgem em torno da elaboração
desses constructos. Mas, para isso, é fundamental que estejamos atentos às possíveis amarras
eurocêntricas nas práticas historiográficas, fator para o qual alguns historiadores já estão
advertidos pelo menos há algumas décadas, ainda que nem todas as implicações decorrentes
dessa contaminação tenham sido satisfatoriamente mapeadas. Por exemplo, em 1969, em uma
palestra proferida na cidade de Paris, Michel de Certeau reconheceu a existência de uma lógica
eurocêntrica no discurso histórico, ao sustentar que não via obstáculos para classificar como
problemática a definição europeia de história. Isto porque a definição em pauta estaria na
40
Samuel Huntington, cientista político, que ocupou o cargo de professor de relações internacionais em Harvard.
Huntington é autor de livros célebres como Choque de civilizações e a recomposição da ordem mundial e também
The crisis of democracy.
41
“None of his critics, to my knowledge, have challenged the idea that there is an entity that can be referred to as
‘the West’, that it can be treated simultaneously as a literary tradition originating in ancient Greece, and as the
common sense culture of people who live in Western Europe and North America today. The assumption that
concepts like individualism and democracy are somehow peculiar to it goes similarly unchallenged. All this is
simply taken for granted as the grounds of debate”; David Graeber, Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion
and Desire (Oakland, Ak Press, 2007, e-book).
Texto no prelo, favor não circular.
12
origem da distinção operada entre “povos com história” e “povos sem história”, de maneira que
os povos que não compartilhassem o modelo historiográfico europeu seriam percebidos como
destituídos de história42. Bem mais recentemente, em 2012, François Hartog foi adiante e nos
conclamou a renunciar ao conceito moderno de história, o que não significa decretar o fim da
história. Tal renúncia se justificaria precisamente pelas consequências advindas da adoção do
modelo de história vigente, que transformou uma determinada maneira de se relacionar com o
passado, a maneira plasmada pelo cânone europeu, em métrica universal para ditar quem tem
ou não acesso à história43. Obedecendo a um mesmo tipo de operação, a régua fornecida pelo
cânone europeu é também utilizada para medir o estágio de desenvolvimento das sociedades
em direção a um modelo civilizatório previamente estabelecido. Nessa acepção, é possível
vislumbrar um dos motivos da associação entre a acepção moderna de história com uma noção
mais tradicional do conceito de modernidade e também com as teorias da modernização44.
Poucos anos depois, em 2016, Giuseppe Marcocci afirmou que a etiqueta “época
moderna” nada mais é do que uma convenção europeia, bem como advertiu que é preciso
reorientar nosso olhar para o período, partindo de uma perspectiva de análise mais ampla e
menos linear. Através da adoção de tal perspectiva, seria possível entrever um mundo dominado
pela competição entre grandes impérios que, seguramente, não eram uma exclusividade
europeia45. O texto de Marcocci nos convida a refletir sobre o significado atual do fazer
histórico em uma época profundamente globalizada46, na qual a pertinência da utilização
generalizada dos esquemas interpretativos da historiografia europeia é questionada cada vez
mais veementemente. Os exemplos citados não são aleatórios, dado que são três historiadores
europeus, dois deles oriundos da França, Certeau e Hartog, e um deles da Itália, Marcocci. Dois
locais centrais para o desenvolvimento das principais linhas de força que estiveram presentes
na confecção do que viria a se constituir enquanto cânone da historiografia europeia.
42
Michel de Certeau, “História e estrutura”, em História e psicanálise: entre ciência e ficção (Belo Horizonte:
Autêntica, 2011), p. 163-78.
43
François Hartog, “Situações postas à história”, em Revista de História, São Paulo, n. 166, jan.-jun. 2012, p. 17-
33.
44
Giuseppe Marcocci, Indios, chinos, falsarios: las historias del mundo en el renascimiento (Madri, Alianza
Editorial, 2019).
45
Idem, “Too Much to Rule: States and Empires Across the Early Modern World”, Journal of Early Modern
History, v. 20, n. 6, nov. 2016, p. 511-25.
46
Outro conceito que requer uma abordagem e um uso mais cauteloso; ver Frederick Cooper, “Para qué sirve el
concepto de globalización?”, em Pablo Sandoval, Repensando la subalternidade: miradas críticas desde/sobre
América Latina (Lima, IEP, 2010), p. 249-84.
Texto no prelo, favor não circular.
13
Aos voltarmos nossa atenção para o exame da constituição do cânone historiográfico
europeu, é no século XIX que iremos encontrar um dos momentos mais marcantes, justamente
por ser este o período da profissionalização da disciplina. Segundo Jerry Bentley, neste período,
a historiografia adquiriu marcas de nascença, definidas pelo autor como características
ideológicas não intencionais47, passíveis de serem encontradas em diversas narrativas
históricas, a partir de então. Em linhas gerais, o século XIX pode ser descrito como uma época
em que a trajetória histórica da Europa Ocidental esteve marcada pelo processo da
industrialização, por práticas de dominação imperialistas e pela emergência do Estado-Nação.
Nesse período, a Europa efetivamente havia alcançado um lugar de proeminência em relação
às outras regiões do globo, arrebanhando poder e influência em níveis elevadíssimos. As
implicações dessa conjuntura histórica para a concepção profissional da história não serão
pequenas, posto que a experiência contemporânea europeia, ainda mais para seus intérpretes
nativos, parecia demonstrar um grau avançado de superioridade ante a suposta fragilidade e
atraso de outras sociedades ao redor do globo. Assim, a partir da percepção de que a história é
um produto europeu formulado entre 1750-185048, é possível compreender melhor a assertiva
de Sanjay Seth quando o autor declara que: “O fato é que ela [a história] é um código, e que,
portanto, outros códigos são possíveis, é obscurecido pelo fato de que a ideia de história
presume e ajuda a garantir a ideia de Homem”49.
Assim, as principais marcas de nascença do discurso histórico seriam, portanto, o
legado fornecido por um conjunto de pressupostos eurocêntricos e pela fixação do Estado-
Nação como categoria básica de análise, a partir da qual o processo histórico deveria ser
analisado, ainda de acordo com Bentley. Tais traços agiriam à maneira de poderosos filtros
ideológicos, bastante longevos na tradição historiográfica europeia, que estariam aptos a
conformar a compreensão do passado, a ditar a escolha dos temas de investigação e, finalmente,
a moldar os resultados das pesquisas conduzidas pela historiografia profissional. É ainda esse
o cenário intelectual no qual vão emergir também algumas vertentes de pensamento vinculadas
aos orientalismos pejorativos, ao darwinismo social e ao racismo “científico”50, elementos
47
Jerry Bentley, “The Task of World History”, em Jerry Bentley (org.), The Oxford Handbook of World History
(Nova York, Oxford University Press, 2011), p. XII-16.
48
Afonso Cristovão dos Santos, Thiago Lima Nicodemo e Mateus Henrique de Faria Pereira, “Historiografias
periféricas em perspectiva global ou transnacional”, p. 174.
49
Sanjay Seth, “Razão ou raciocínio? Clio ou Shiva?”, História da historiografia, Ouro Preto, n. 11, abril, 2013,
p. 185.
50
Para um estudo aprofundado e de longa duração sobre o tema do racismo, a obra de Francisco Bethencourt é
uma referência fundamental. Ver Francisco Bethencourt, Racismos: das cruzadas ao século XX (trad. Luís Oliveira
Santos e João Quina, São Paulo, Companhia das Letras, 2018).
Texto no prelo, favor não circular.
14
adicionais para que houvesse um reforço das concepções teóricas eurocêntricas adotadas em
maior ou menor grau na historiografia profissional. Todavia, além de identificar as marcas de
nascença da historiografia profissional, é preciso compreender a extensão das implicações
destas marcas. A implicação primordial, nesse caso, comunica-se com um princípio enunciado
nos juízos hegelianos que elegem por tema a filosofia da história, especificamente aquele
referente à transformação do particular em universal51.
Na seara dos estudos pós-coloniais, a condenação da ideia de universalidade europeia
é amplamente difundida. Um dos pesquisadores que mais se aprofundou nesse argumento foi
Dipesh Chakrabarty. Em sua conhecida proposta de provincializar a Europa, o que não significa
negar as contribuições europeias para o desenvolvimento humano como uma crítica assaz
simplista parece sugerir, Chakrabarty afirma que é uma estratégia cognitiva fundamental
compreender através de quais mecanismos as ideias europeias declaradas como universais
surgem, advertindo igualmente que tais ideias, na verdade, são representativas de condições
sócio-históricas bem particulares. Para Chakrabarty, um dos efeitos desse universalismo das
categorias de análise europeias é a transformação da Europa52 no referente tácito de todo o
conhecimento histórico, nas palavras do autor: “Apenas a ‘Europa’ […] é teoricamente
cognoscível […]; o resto das histórias é somente uma questão de investigação empírica que dá
corpo a um esqueleto teórico que é substancialmente a ‘Europa’”53 [tradução livre].
A transformação do particular em universal materializa-se na operação, realizada pela
historiografia profissional europeia, de universalizar categorias de análise aborígenes e,
portanto, oriundas de contextos sócio-históricos específicos, a fim de abarcar múltiplas
experiências históricas. Mesmo que não estejamos dispostos a abraçar todos os aspectos
implícitos nas críticas de Chakrabarty, podemos reter a pertinência de sua advertência geral,
qual seja, a urgência de se colocar em suspeição categorias ditas como universais e a
necessidade de uma investigação profunda das categorias de análise, conceitos e princípios
epistemológicos que orientam a escrita da história, tanto no passado, quanto no presente.
51
Cf. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, A razão na história (trad. Artur Morão, Lisboa, Edições 70, 2013).
52
Importante esclarecer o que o autor está entendendo por Europa, em suas palavras: “é uma figura imaginária
que permanece profundamente arraigada nas formas estereotipadas e cômodas de alguns hábitos do pensamento
cotidiano” [tradução minha]. Na edição consultada: “es una figura imaginaria que permanece profundamente
arraigada en formas estereotipadas y cómodas de algunos hábitos del pensamiento cotidiano”; Dipesh Chakrabarty,
Al margen de Europa: pensamiento poscolonial y diferencia histórica (trad. Alberto E. Álvarez e Araceli Maira,
Barcelona, Tusquets Editores, 2008), p. 30.
53
Na versão consultada: “Tan sólo ‘Europa’ […] es teoricamente […] cognoscible; el resto de las historias son
cuestión de una investigación empírica que da cuerpo a un esqueleto teórico que es substancialmente ‘Europa’”;
ibidem, p. 60.
Texto no prelo, favor não circular.
15
Parte II – O lugar dos “outros” nos discursos históricos
Contudo, quais seriam as consequências de uma escrita da história eurocentrada que
não foi capaz de perceber a densidade e a variedade das diversas formas de representar o
passado ao redor do globo? Ou, ainda, que foi utilizada como discurso de legitimação de
dominação europeia sobre as outras partes do mundo? Apesar das inúmeras consequências,
gostaria de explorar uma consequência específica do viés eurocêntrico na elaboração do
discurso histórico, qual seja: o eclipse de agências, protagonismos e epistemologias dos povos
e atores classificados como “outros” da história54. Importa frisar que o uso da palavra eclipse
não é fortuito, pois de forma semelhante a um eclipse, em que o ocultamento total ou parcial
de um astro pela sombra projetada da Terra não significa o desaparecimento efetivo desse astro,
assim, também, as agências, protagonismos e epistemologias desses “outros” não foram
esvanecidos da história, apesar da sombra projetada pelo eurocentrismo, salvo em casos
extremos de genocídio completo. E isso nos leva a outro questionamento, possivelmente mais
importante que o primeiro: o que nós, enquanto historiadores e historiadoras, podemos fazer
para mapear os vestígios desses “outros”? Como construir uma visão da história mais polifônica
e plural que faça jus à própria complexidade e pluralidade do passado? Nessa altura, é preciso
fazer uma advertência porque, apesar de guardar alguma similitude com o tema, esse debate
não é uma reedição da história dos vencidos. Ao contrário, trata-se de superar as lógicas binárias
de organização do discurso histórico.
Conforme dito anteriormente, a reflexão acerca dos padrões eurocêntricos que
organizam o discurso histórico é particularmente valiosa para o período histórico conhecido
como época moderna. Em primeiro lugar, porque alguns dos fenômenos históricos ocorridos
durante esse período foram utilizados como corolários da narrativa da excepcionalidade
europeia sobre as outras partes do mundo. Decerto que, em diversos casos, infelizmente não
em todos, a interpretação idealizada destes fenômenos históricos, como renascimento e
iluminismo, é resultado de uma visão historiográfica datada e que vem sendo duramente
contestada já há algumas décadas. Na revisão desse paradigma historiográfico, é relevante
sublinhar que muito das mudanças no tratamento concedido a esses temas mais clássicos,
associados à época moderna, vem precisamente do reconhecimento da contribuição, intelectual,
54
Os outros são todos aqueles excluídos dos princípios formativos que orientavam a racionalidade
europeia/ocidental. Mas também é preciso destacar que existem “outros” dentro do espaço, geográfico e/ou
epistemológico, da Europa/Ocidente. Assim, os outros também foram os judeus, os ciganos, as mulheres, as
crianças, toda comunidade LGBTQI+, os loucos, enfim todos aqueles que não estavam circunscritos na definição
“universal” de Homem.
Texto no prelo, favor não circular.
16
material e técnica, de povos e sociedades não europeias. Tais contribuições teriam sido
fundamentais para o irromper das novas tendências culturais e intelectuais inauguradas pelos
fenômenos citados. São exemplos relevantes desse tipo de obra as reflexões de Lisa Jardine e
Jerry Brotton55, acerca do renascimento, e o recente livro56 de David Wengrow e David
Graeber, que faz um notável contraponto às intepretações correntes sobre o iluminismo, ainda
que este não seja o tema essencial da obra.
O segundo motivo que explica a pertinência da reflexão, a partir dos quadros sócio-
históricos da época moderna, a respeito da lógica historiográfica eurocêntrica – que como já
vimos é particularmente danosa para compreensão dos “outros”, assim como para as análises a
respeito das relações entre diferentes sociedades e povos – é a de que foi precisamente nesse
período que ocorreu um aumento expressivo das conexões, trocas e circulações de pessoas,
ideias e mercadorias no mundo, atingindo um patamar até então desconhecido pela
humanidade. Um aumento de trânsitos e conexões que aconteceu, sobretudo, a partir da
conquista e colonização europeia de diversos territórios no continente americano. Alguns
autores denominam esse evento como primeira mundialização57, a fim de evitar o poliédrico,
pouco explicativo e destemporalizado conceito de globalização. Isso significa que a época
moderna foi um período de muitos choques, encontros e confrontos entre sociedades bastante
distintas. Um mosaico complexo de etnias, sociedades e culturas no qual, efetivamente, muitos
desses grupos tiveram suas trajetórias e agências subsumidas na narrativa historiográfica
dominante que se forjou acerca do período. No curso desse processo histórico, vai ganhando
corpo paulatinamente o protótipo da noção de Homem Universal, figura que tem como
contraponto o outro não europeu, cujo estatuto de homem é negado por aqueles que capturam
o direito de reconhecer ou não a humanidade alheia58. Frequentemente, esse “outro” não
europeu será um sujeito racializado, aquele que personifica o “resto – figura do dessemelhante,
da diferença e do poder puro do negativo”59, nas palavras de Achille Mbembe.
Instaura-se, assim, uma forte névoa sobre o passado, gerada pelos vapores do
eurocentrismo, que oblitera a forma como os processos históricos do período moderno foram
percebidos. Justamente esse período que possui como uma de suas características mais
55
Jerry Brotton e Lisa Jardine, Global Interests: Renaissance Art Between East and West (Nova York, Cornell
University Press, 2000).
56
David Graeber e David Wengrow, O despertar de tudo, cit.
57
A exemplo de Serge Gruzinski, na obra As quatro partes do mundo: história de uma mundialização (Belo
Horizonte/São Paulo, Editora da UFMG/Edusp, 2014).
58
Cf. Achille Mbembe, Crítica da razão negra, cit.
59
Ibidem, p. 29.
Texto no prelo, favor não circular.
17
marcantes a intensa conexão entre diferentes sociedades. Para auxiliar a dissipar essa névoa,
creio ser pertinente apontar os ganhos analíticos que podem advir da adoção de algumas
perspectivas da teoria pós-colonial. A intenção é fazer uso de alguns dispositivos presentes em
tais teorias como ferramenta de investigação para a produção de um discurso histórico mais
polifônico e menos eurocentrado. Contudo, é necessário especificar melhor quais são os autores
em que me apoio, dado que o conjunto de referências agrupado pela etiqueta pós-colonial é
muito heterogêneo. Os autores em questão são Achille Mbembe, Paul Gilroy e Stuart Hall, que
são enquadrados em uma espécie de subdivisão da perspectiva teórica pós-colonial classificada
como estudos da diáspora africana. Considero que essa linha de análise afrodiaspórica é
particularmente significativa para a historiografia latino-americana por oferecer especial
relevância à fundamentação histórica dos processos sociais e por eleger como espaço de
observação os contornos do Atlântico, priorizando, assim, essa formação oceânica como
unidade básica de análise.
Cabe, a essa altura, um pequeno parêntesis a respeito da perspectiva teórica pós-
colonial que sempre desperta, para bem e para mal, emoções muito exaltadas entre os
pesquisadores das humanidades. Muito frequentemente, ou tal perspectiva é sumariamente
rejeitada, sem que as obras sequer tenham sido lidas, ou, no extremo oposto, seus pressupostos
gerais são celebrados, sem que tenha ocorrido um exame crítico prévio. Sem dúvida, seria mais
produtivo estabelecer um debate mais consistente e criterioso entre a perspectiva teórica pós-
colonial e a historiografia. Um debate livre dos muitos rótulos, positivos e negativos, que
rodeiam essa perspectiva.
Regressando ao argumento que advoga em favor da utilização da perspectiva teórica
pós-colonial como ferramenta de investigação, a leitura dos três autores citados anteriormente,
Mbembe, Hall e Gilroy, foi particularmente útil para destacar três argumentos centrais. Em
primeiro lugar, sublinhar o fato de que a colonização não pode ser pensada como um processo
exterior e completamente separado dos antigos centros metropolitanos60. É preciso reconhecer
que, assim como a colonização está indelevelmente inscrita nas sociedades colonizadas, ela
também se encontra profundamente marcada nas sociedades dos colonizadores61. Um segundo
ponto pertinente é que seria aconselhável pensar a colonização, e também seus efeitos, como
60
A presença deste tipo de enquadramento também pode ser vista na reflexão proposta pelo antropólogo George
Balandier em torno da noção de “situação colonial”. Ver George Balandier, “A situação colonial: uma abordagem
teórica”, em Manuela Ribeiro Sanches (org.), Malhas que os impérios tecem: textos anticoloniais, contextos pós-
coloniais (Lisboa, Edições 70, 2011), p. 219-52.
61
Ver Patrícia Martins Marcos, “Decolonizing Empire: Corporeal Chronologies and the Entanglements of
Colonial and Postcolonial Time, Práticas da história, n. 11, 2020, p. 143-79.
Texto no prelo, favor não circular.
18
uma empreitada transcultural e transnacional62. Essa forma de pensar a colonização ilumina as
relações transversais e laterais que Paul Gilroy denomina como diaspóricas63, e, ao mesmo
tempo permite superar o binarismo implícito em categorias como centro e periferia. Em certo
sentido, essa perspectiva teórico-metodológica, que analisa a colonização como empreitada
transnacional, pode ser encontrada nas vertentes historiográficas que rejeitam os recortes
espaciais clássicos oferecidos pela moldura do Estado-Nação. Esse tipo de abordagem é um
passo inicial para que possamos realizar uma espécie de esgarçamento nas narrativas históricas
eurocentradas, de forma a possibilitar uma proliferação do reconhecimento de representações
de passados e temporalidades que não estejam mais organizadas sob a lógica The West and the
rest.
O terceiro e último questionamento que a perspectiva teórica pós-colonial nos convida
a fazer está relacionado à problematização do vínculo existente entre as estruturas de poder e
as estruturas de saber. Aníbal Quijano, considerado um dos principais pesquisadores do
pensamento decolonial, formulou a noção de colonialidade do saber64 com o propósito de
analisar esse vínculo. Uma primeira leitura que podemos fazer da associação entre poder e saber
é perceber que determinadas esferas de poder político estimulam e fomentam uma produção de
saber que as justifique e legitime, tanto no âmbito social interno, quanto externo. Um caso
paradigmático, que ajuda a ilustrar bem essa associação, é a relação estabelecida entre a
profissionalização da história e a formação do Estado-Nação, no século XIX. No cenário
particular da colonização, inaugura-se, na concepção de Stuart Hall, um “campo de forças entre
poder-saber”65 que serve de pressuposto para a rejeição da falsa dicotomia entre “a colonização
enquanto sistema de governo, poder e exploração” e “a colonização enquanto sistema de
conhecimento e representação”66, posto que ambos fazem parte de um mesmo fenômeno.
Assim, a partir das considerações expressas nesses três pontos – a inscrição do
colonialismo nas sociedades colonizadoras e colonizadas, o entendimento do colonialismo
como um fenômeno transcultural e transnacional e o vínculo entre poder e saber –, quais lições
62
Cf. Stuart Hall, “Quando foi o pós-colonial?”, em Da diáspora: identidades e mediações culturais (Belo
Horizonte, Editora UFMG, 2009), p. 102. Esclareço que o termo transnacional, empregado por Hall no escrito em
tela, significa simplesmente pensar além das tradicionais fronteiras oferecidas pelo Estado-Nação.
63
Paul Gilroy, O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência (São Paulo/Rio de Janeiro, Editora 34/
Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001).
64
Aníbal Quijano, “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”, em Edgardo Lander, A
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas latino-americanas (Buenos Aires, Clacso,
2005), p. 107-30.
65
Stuart Hall, “Quando foi o pós-colonial?”, cit., p. 111.
66
Ibidem, p. 112.
Texto no prelo, favor não circular.
19
podemos extrair disso para a historiografia? Creio ser possível resumir algumas proposições
em quatro pontos:
1. a urgência de fazer a revisão e a crítica do conceito de modernidade67, dado que esse
conceito engloba uma proposta de periodização, carregada de pressupostos
ideológicos, que está diretamente relacionada ao período moderno;
2. a proposição do colonialismo como uma importante chave de leitura do período
moderno;
3. a exigência de trazer os “outros” excluídos das grandes narrativas da modernidade
para o centro da reflexão histórica;
4. e, por fim, a necessidade de revisitar uma antiga advertência historiográfica proposta
por Michel de Certeau que recomendava o exame das condições de possibilidade, das
regras e dos estatutos que orientam o fazer historiográfico68. No entanto, agora seria
preciso conjugar tal advertência à revisão e à crítica da modernidade, resultando nestes
termos em um questionamento mais abrangente dos postulados epistemológicos que
orientam o regime de produção de conhecimento ocidental.
Partindo desse conjunto de proposições, o que significaria pensar o colonialismo como
uma importante chave de leitura do período moderno? Respondendo de maneira simples,
significa perceber que as trajetórias de Europa, América, África e Ásia, ao longo da época
moderna, moldaram umas às outras, sendo, portanto, coproduzidas. Em outras palavras, é
impossível tentar compreender a trajetória histórica da Europa sem compreender quão
profundamente entrelaçada, e em instâncias muito variadas, tal trajetória está com as conquistas
e colonizações ultramarinas realizadas pelos povos europeus. Nessa acepção, seria preciso
adotar uma abordagem plural sensível aos “outros” para compreender a bom termo como esses
processos históricos se estabeleceram a partir de uma relação de mutualidade. Ainda que não
de igualdade, pois não quero propor aqui nenhuma forma de minorar as violências e opressões
que foram constitutivas dessas relações. As alteridades pensadas em oposição aos constructos
“Europa” e “Ocidente”, por muito tempo extirpadas dos registros históricos ou ainda
aprisionadas em visões estereotipadas, são um elemento fundamental da construção do mundo
67
Parto do entendimento de que modernidade é mais uma formação ideológica do que uma categoria analítica.
Ver Frederick Cooper, Colonialism in Question, cit.
68
Michel de Certeau, A escrita da história (Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1982).
Texto no prelo, favor não circular.
20
moderno. Importa contestar as imagens que simplificam esse processo histórico de primeira
mundialização como se se tratasse simplesmente de uma “europeização” do mundo69.
Nesse ponto, faz sentido ressaltar os ganhos advindos da perspectiva teórica da história
global das ideias como estratégia que possibilite identificar e resgatar as múltiplas alteridades
que animaram o processo histórico. Alguns dos pressupostos adotados pela vertente
historiográfica global já poderiam ser localizados nas análises interpretativas que, de alguma
forma, utilizaram premissas advindas das teorias marxistas dos sistemas mundiais. Isso fica
bastante explícito, por exemplo, no parágrafo de introdução do livro de Eric Wolf, Europa e os
povos sem história, que considero particularmente relevante para explicitar a necessidade de
analisar os fenômenos sociais a partir das relações instituídas entre grupos, culturas e
sociedades. Segue o trecho em questão:
A proposição central desse livro é que o mundo do gênero humano constitui
uma multiplicidade, uma totalidade de processos interligados e que as
investigações que desagregam essa totalidade em fragmentos e, em seguida,
deixam de reagregá-la, falseiam a realidade. Conceitos como “nação”,
“sociedade” e “cultura” nomeiam apenas fragmentos e ameaçam transformar
os nomes em coisas. Somente ao entender tais nomes como feixes de
relacionamentos, voltando a inseri-los no campo que foram abstraídos é que
podemos ter a esperança de evitar inferências enganosas e aumentar nossa cota
de compreensão.70
Nesse sentido, importa perceber o espaço colonial como um terreno onde conceitos e
teorias não eram apenas impostos, mas contestados e disputados, conforme afirma Frederik
Cooper 71. O caso da revolução do Haiti, por exemplo, nos permite notar como os escravizados
rebeldes reivindicaram um lugar na comunidade política, ao passo que a ideia dos direitos do
homem era debatida em solo europeu72. A relevância desse fato está em reconhecer que os
revolucionários franceses podem até ter instaurado novas noções de liberdade e cidadania no
léxico político, mas essa instauração não fixou os significados destes termos ou mesmo os
critérios políticos necessários à sua aplicação. Muito pelo contrário, tais objetos foram alvo de
acirrada disputa, inclusive pelos sujeitos escravizados que lutavam por sua libertação na então
Saint-Domingue73. Esse caso indica que as vozes coloniais se fizeram ouvir nas capitais
europeias, muitas vezes aproveitando as fissuras abertas nas estruturas dos edifícios coloniais
69
Cf. Jerry Bentley, “Europeanization of the World or Globalization of Europe?”, Religions, v. 3, n. 2, 2012, 3,
p. 441-54.
70
Eric Wolf, A Europa e os povos sem história, cit., p. 25.
71
Cf. Frederick Cooper, Colonialism in Question, cit.
72
Lynn Hunt, A invenção dos direitos humanos (São Paulo, Companhia das Letras, 2009).
73
Ver Frederick Cooper, “Para qué sirve el concepto de globalización?”, cit.
Texto no prelo, favor não circular.
21
em momentos críticos, tal qual a indicação de Cooper nos sugere. No entanto, creio ser
adequado sustentar que o impacto causado pelas vozes coloniais vai muito além do
aproveitamento de brechas e fissuras.
É aconselhável observar que não basta simplesmente aplicar ao discurso histórico os
rótulos de transacional, global, histórias conectadas ou história atlântica, vertentes que têm
estado bastante em voga na historiografia das últimas décadas, para obter os ganhos analíticos
que estas abordagens podem proporcionar. Mais uma vez é preciso estar atento às armadilhas
do discurso histórico. Conexões espaciais precisam ser pensadas por meio das estruturas e dos
limites que sustentam esses mecanismos de conexão, de acordo com as diretrizes estabelecidas
por Cooper, em sua formidável crítica ao conceito de globalização. Somente através da
justaposição criativa de noções basilares como espaço e tempo, seremos capazes de ilustrar a
forma como processos econômicos, mobilizações políticas e criações intelectuais puderam
cruzar oceanos. Cooper exemplifica a utilização bem-sucedida dessas estratégias citando as
obras Os jacobinos negros, de C. L. R. James, e Capitalismo e escravidão74, de Eric Williams.
A fim de retomar meu argumento acerca do impacto das vozes coloniais ir muito além
do aproveitamento das brechas e fissuras nas empreitadas colonizadoras, irei explorar
brevemente o tema da “descoberta” das Américas no início do período moderno que considero
particularmente profícuo para esse fim. A “descoberta do Novo Mundo” e da passagem
marítima para as Índias foram apreciadas por Adam Smith em seu livro clássico de 1776, A
riqueza das nações, como “dois dos maiores e mais importantes eventos registrados na história
da humanidade” [tradução minha]75. Um dos grandes historiadores oitocentista, Jules Michelet
comporia sua notória descrição do século XVI como o tempo da “descoberta do mundo” e da
“descoberta do homem”. Os próprios contemporâneos ao evento não cansaram de registrar a
magnitude desse acontecimento como sugerem, por exemplo, os textos de Américo Vespúcio e
do cronista Pedro Mártir de Anglería, para citar apenas dois exemplos.
Há, inclusive, um texto de autoria de Immanuel Wallerstein em parceria com Aníbal
Quijano, dois autores que, como vimos, buscaram se desprender das amarras da lógica
eurocêntrica, no qual os autores propõem a emergência da América no horizonte europeu como
ato inaugural da modernidade76. Todavia, ao avaliar a temática em pauta, costuma ser mais
74
C. R. L. James, Os jacobinos negros: Toussaint L'Ouverture e a revolução de São Domingos (São Paulo,
Boitempo, 2000); Eric Williams, Capitalismo e escravidão (São Paulo, Companhia das Letras, 2012).
75
No original: “[…] are the two greatest and most important events recorded in the history of mankind”; Adam
Smith, The Wealth of Nations (Chicago, University of Chicago Press/UK, 1977), p. 829.
76
Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein, “Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World-
System”, International Journal of Social Sciences, n. 134, 1992, p. 583-91.
Texto no prelo, favor não circular.
22
usual que os pesquisadores analisem esse tema a partir dos aspectos relativos ao universo das
práticas econômicas ou do fluxo migratório de pessoas, seja ele voluntário ou forçado, como
no caso dos escravizados. O viés que gostaria de explorar, entretanto, não se refere a esses
aspectos. Em um movimento ligeiramente distinto, proponho mapear um nexo que concerne ao
universo da história global das ideias. A razão desta escolha reside na crença de que tal nexo
pode ser percebido como um instrumento central para que possamos efetuar a crítica sugerida
pela perspectiva teórica pós-colonial que questiona a associação entre estruturas de saber e
estruturas de poder, por meio de um itinerário mais propriamente histórico.
Nos termos da história das ideias, a “descoberta do novo mundo” estabeleceu um
desafio crucial para a Europa porque questionou de maneira decisiva a pujança e a estabilidade
de uma determinada tradição de pensamento. Embora, a historiografia recente tenha tratado o
tema com ambiguidade, dado que alguns autores interpretam o impacto intelectual provocado
pela América na Europa entre muitas aspas; enquanto outros foram em direção contrária
afirmando que tal impacto foi de primeiríssima ordem77. Todavia, como já nos recordava
Michel de Certeau78, a “descoberta” produziu uma ruptura em relação à tradição e transformou
regiões inteiras daquilo que era familiar em terra estrangeira. Uma leitura possível da
constatação do impacto do “Novo Mundo” no pensamento europeu moderno nos é fornecida
pelo filósofo Danilo Marcondes. A sugestão oferecida por Marcondes faz avançar uma
proposição que havia sido previamente estabelecida por Richard Popkin. Esse último propunha
que a razão do surgimento de uma nova forma de pensamento filosófico na época moderna se
deveu à retomada do ceticismo antigo, fenômeno que Popkin associa diretamente a três dos
eventos mais emblemáticos das abordagens clássicas acerca do período: renascimento, reforma
protestante e revolução científica79. Marcondes, no entanto, sugere que o evento que contribuiu
de forma derradeira para a retomada do argumento cético teria sido a emergência do “Novo
Mundo” no horizonte intelectual europeu. Na história da filosofia, o impacto gerado por este
evento é em larga medida ignorado, conforme nos revela o próprio autor80.
O desafio desse outro radical representado pelos povos americanos não apenas
produziu grandes impactos econômicos, políticos e culturais, como contribuiu de forma
77
Ver a coletânea clássica de Karen Kupperman (org.), America in European Consciousness: 1493-1750 (Carolina
do Norte, The University of North Carolina Press, 1995). Para uma referência mais recente, ver François Hartog,
Antigos, modernos e selvagens (Rio de Janeiro, FGV Editora, 2021).
78
Michel de Certeau, “História e estrutura”, cit., p. 169.
79
Richard H. Popkin, “Scepticism and Modernity”, em Tom Sorell, The Rise of Modern Philosophy (Oxford,
Clarendon Press, 2003).
80
Danilo Marcondes, Raízes da dúvida: ceticismo e filosofia moderna (Rio de Janeiro, Zahar, 2019).
Texto no prelo, favor não circular.
23
significativa para a perda da credibilidade da ciência antiga, o que, por sua vez, gerou a
necessidade de formulação de novos conhecimentos, desde os saberes acerca da geografia até
as investigações das espécies naturais, incluindo, sobretudo, a produção de um novo juízo
acerca da natureza humana − um ponto central para a construção do meu argumento.
Marcondes interpreta esse acontecimento como uma espécie de descoberta intelectual do “Novo
Mundo”. Um árduo, longo e delicado processo de interpretação, que tinha por finalidade
conferir sentido a esse acontecimento decisivo e assim alcançar sua plena assimilação à tradição
de pensamento europeia. Um último ponto que Marcondes recomenda investigar, como
elemento-chave dessa equação, são os esforços intelectuais feitos em direção à análise da
condição humana dos habitantes da América – denominado pelo autor como argumento
antropológico81 – que acaba expandido sensivelmente a reflexão sobre a condição humana em
geral. Essa é uma premissa importantíssima para sustentar a centralidade desses estrangeiros
americanos, desses “outros da história”, para a remodelação do pensamento europeu na época
moderna. Nesse âmbito, além de alguns dos efeitos já localizados a respeito do impacto desse
“outro” americano na consciência europeia, temática que é suficientemente bem investigada82,
creio ser possível explorar conexões mais profundas adotando uma premissa de análise indicada
pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro.
Na intenção de elevar o estatuto da teoria antropológica a uma “teoria-prática de
descolonização permanente do pensamento”83, Viveiros de Castro realiza uma série de
interrogações acerca de qual seria a dívida conceitual da antropologia em relação aos povos que
lhe servem como objeto de estudo. A resposta do autor consiste em afirmar com veemência que
“as sociedades e as culturas que são o objeto da pesquisa antropológica influenciam, ou, para
dizer de modo mais claro, coproduzem as teorias sobre a sociedade e a cultura formuladas a
partir dessas pesquisas”84. Na concepção desse autor, o que toda experiência de outra cultura
pode nos oferecer é uma:
[...] ocasião para se se fazer uma experiência sobre nossa própria cultura; muito mais
que uma variação imaginária – a introdução de novas variáveis ou conteúdos em nossa
imaginação – é a própria forma, melhor dizendo, a estrutura da nossa imaginação
conceitual que deve entrar em regime de variação, assumir-se como variante, versão,
transformação.85
81
Idem.
82
Ver Anthony Pagden, The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology
(Nova York, Cambridge University Press, 1982).
83
Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural (São Paulo,
Ubu Editora/N-1 Edições, 2018), p. 20.
84
Ibidem, p. 22.
85
Ibidem, p. 21-2.
Texto no prelo, favor não circular.
24
Ora, a premissa formulada nesses termos eleva a questão a outro patamar. Isso porque
abre a possibilidade de perceber a presença das tradições de pensamento e formulações
conceituais desses “outros” americanos na formação no próprio cânone do pensamento europeu
moderno. Dito de outra forma, ao representarem um derradeiro desafio epistemológico, dentro
da lógica sugerida pela perspectiva antropológica de Viveiros de Castro, os povos americanos
podem ter acabado por infiltrar, de maneira direta ou indireta, noções e perspectivas necessárias
à sua própria compreensão. Nesse cenário, os “outros” americanos marcam presença decisiva
no eixo da nova configuração intelectual do período moderno que remodelou o entendimento,
até então em vigência, sobre a história, o homem e, em última instância, também da razão
enquanto ferramenta básica de interpretação do mundo. Tais transformações trouxeram efeitos
fundamentais de ordem moral, filosófica e epistemológica.
Muito recentemente, David Graeber e David Wengrow, em um livro audacioso ainda
que não isento de deslizes, defenderem um argumento bastante semelhante que permite
conceber a história da desigualdade humana partindo de itinerários muito diferentes dos quais
estamos habituados a percorrer. Nesse sentido, os autores utilizaram o termo “crítica indígena”
– definida como “o ataque moral e intelectual sistemático à sociedade europeia, amplamente
enunciado a partir do século XVII por observadores americanos nativos”86 – como estratégia
para resgatar as contribuições ameríndias ao mais amplo desenvolvimento do pensamento
social. Repensar as relações entre colonizadores europeus e os habitantes ameríndios, além das
imagens estigmatizadas que permeiam o imaginário social até hoje sobre estes últimos, poderia
remodelar significativamente nossa compreensão sobre o passado, nas palavras dos autores:
O impacto desses contatos sobre o que agora chamamos de Iluminismo, e
inclusive sobre as nossas concepções básicas da história humana, é ao mesmo
tempo mais sutil e mais profundo do que geralmente nos dispomos a admitir.
A reavaliação desses contatos, como descobrimos, traz consequências
surpreendentes para o nosso entendimento atual do passado humano, inclusive
sobre as origens da agricultura, da propriedade, das cidades, da democracia,
da escravidão e da própria civilização.87
Assim, se levarmos a sério estas possibilidades de reenquadramento do passado, torna-
se plenamente plausível postular que, para investigar o período moderno, é necessário ir além
do eurocentrismo e perseguir, inclusive nas aparentes ausências, as vozes e os vestígios desses
“outros”. Podemos dar com isso um passo fundamental em direção a uma compreensão mais
86
David Graeber e David Wengrow, O despertar de tudo, cit.
87
Idem.
Texto no prelo, favor não circular.
25
significativa acerca das configurações gerais e das estruturas de funcionamento do mundo
moderno. Talvez esse seja um caminho possível para a construção de uma história mais diversa,
apta a empregar sua inerente pluralidade como dispositivo de interpretação. Uma história onde
possamos realizar o exercício proposto por Michel Foucault de “pensar outramente, pensar
outra mente, pensar com outras mentes”88.
Referências bibliográficas
AMIN, Samir. Eurocentrism: modernity, religion, and democracy; a critique of eurocentrism and
culturalism. 2. ed. Nova York: Monthly Review Press, 2009.
BALANDIER, George. A situação colonial: uma abordagem teórica. In: SANCHES, Manuela Ribeiro
(org.). Malhas que os impérios tecem: textos anticoloniais, contextos pós-coloniais. Lisboa:
Edições 70, 2011, p. 219-52.
BENTLEY, Jerry. The task of world history. In: BENTLEY, Jerry (org.). The Oxford Handbook of
World History. Nova York: Oxford University Press, 2011, p. XII-16.
BENTLEY, Jerry. Europeanization of the World or Globalization of Europe? Religions, v. 3, n. 2, 2012,
p. 441-54.
BETHENCOURT, Francisco. Racismos: das cruzadas ao século XX. Tradução de Luís Oliveira Santos;
João Quina. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
BLAUT, James. The colonizer’s model of the world: Geographical Diffusionism and Eurocentric
History. Nova York: The Guilford Press, 1993.
BONILLA, Yarimar; BECKETT, Georg; FERNANDO, Mayanthi L. (eds.). Trouillot Remixed: The
Michel-Rolph Trouillot Reader. Durham/Londres: Duke University Press Books, 2021.
BROTTON, Jerry; JARDINE, Lisa. Global interests: Renaissance Art Between East and West. Nova
York: Cornell University Press, 2000.
CASTRO, Eduardo Viveiros de. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural.
São Paulo: Ubu Editora/N-1 Edições, 2018.
CERTEAU, Michel de. História e estrutura. In: CERTEAU, Michel de. História e psicanálise: entre
ciência e ficção. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 163-78.
______. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. São Paulo: Veneta, 2020.
CHAKRABARTY, Dipesh. Al margen de Europa: pensamiento poscolonial y diferencia histórica.
Tradução de Alberto E. Álvarez; Araceli Maira. Barcelona: Tusquets Editores, 2008, p. 30.
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Ubu
Editora, 2017.
COOPER, Frederick. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History. Berkeley: University of
California Press, 2005.
______. Para qué sirve el concepto de globalización? In: SANDOVAL, Pablo. Repensando la
subalternidad: miradas críticas desde/sobre América Latina. Lima: IEP, 2010, p. 249-84.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. São Paulo: Zahar, 2022.
FAUSTINO, Deivison. A disputa em torno de Frantz Fanon: a teoria e a política dos fanonismos
contemporâneos. São Paulo: Intermeios, 2020.
88
Michel Foucault, citado em Eduardo Viveiros de Castro, Metafísicas canibais, cit., p. 25.
Texto no prelo, favor não circular.
26
FERDINAD, Malcom. Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho. São Paulo: Ubu
Editora, 2022.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo/Rio de Janeiro: Editora
34/Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2001.
GOODY, Jack. O roubo da história: como os europeus se apropriaram das ideias e das invenções do
Oriente. São Paulo: Editora Contexto, 2008. E-book.
GRAEBER, David. Possibilities: Essays on Hierarchy, Rebellion and Desire. Oakland: Ak Press, 2007.
E-book.
______; WENGROW, David. O despertar de tudo: uma nova história da humanidade. São Paulo:
Companhia das letras, 2022, e-book.
GRUZINSKI, Serge. As quatro partes do mundo: história de uma mundialização. Belo Horizonte/São
Paulo: Editora da UFMG/Edusp, 2014.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
______. Quando foi o pós-colonial? In: ______. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 95-120.
HARTOG, François. Situações postas à história. Revista de História, São Paulo, n. 166, p, 17-33, jan.-
jun. 2012.
______. Antigos, modernos e selvagens. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2021.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70,
2013.
HOROWITZ, Maryanne Cline (ed.). New Dicionary of the History of Ideas, v. 2. Nova York: Charles
Scribner’s Sons, 2005.
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
JAMES, C. R.L., Os jacobinos negros: Toussaint L'Ouverture e a revolução de São Domingos. São
Paulo: Boitempo, 2000.
KUPPERMAN, Karen (org.). America in European Consciousness: 1493-1750. Carolina do Norte: The
University of North Carolina Press, 1995.
MARGARIT, Avishai; BURAMA, Ian. Occidentalism: the West in the eyes of its enemies. Nova York:
The Penguin Press, 2004.
MARCOCCI, Giuseppe. Indios, chinos, falsarios: las historias del mundo en el renascimiento. Madrid:
Alianza Editorial, 2019.
______. Too much to rule: states and empires across the early modern world. Journal of Early Modern
History, v. 20, n. 6, nov. 2016, p. 511-25.
MARCONDES, Danilo. Raízes da dúvida: ceticismo e filosofia moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.
MARCOS, Patrícia Martins. Decolonizing Empire: Corporeal Chronologies and the Entanglements of
Colonial and Postcolonial Time. Práticas da história, n. 11, 2020, p. 143-79.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: N-1
Edições, 2018.
MORRIS, Mike. Concise Dictionary of Social and Cultural Anthropology. Chichester: Wiley-
Blackwell, 2012.
PAGDEN, Anthony. The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative
Ethnology. Nova York: Cambridge University Press, 1982.
______. Europe: conceptualizing a continent. In: PAGDEN, Anthony (ed.). The Idea of Europe: From
Antiquity to the European Union. Nova York: Cambridge University Press/Woodrow Wilson
Center, 2002, p. 33-71.
POPKIN, Richard H. Scepticism and modernity. In: SORELL, Tom. The Rise of Modern Philosophy.
Oxford: Clarendon Press, 2003.
Texto no prelo, favor não circular.
27
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo.
A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais; perspectivas latino-americanas.
Buenos Aires: Clacso, 2005, p. 107-30.
______; WALLERSTEIN, Immanuel. Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World-
System. International Journal of Social Sciences, n. 134, 1992, p. 583-91.
REVEL, Jacques. A história redescoberta? In: BOUCHERON, Patrick; DELALANDE, Nicolas. Por
uma história-mundo. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015, p. 21-8.
SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia de Bolso,
2007.
SANTOS, Pedro Afonso Cristovão dos; NICODEMO, Thiago Lima; PEREIRA, Mateus Henrique de
Faria. Historiografias periféricas em perspectiva global ou transnacional: eurocentrismo em
questão. Estudos históricos, Rio de Janeiro, v. 30, n. 60, jan.- abr. 2017, p. 161-86.
SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo:
Contexto, 2009.
SETH, Sanjay. Razão ou raciocínio? Clio ou Shiva? História da historiografia, Ouro Preto, n. 11, abr.
2013, p. 173-89.
SMITH, Adam. The Wealth of Nations. Chicago: University of Chicago Press/UK, 1977.
TREVOR-ROPER, Hugh. The Rise of Christian Europe. Londres: Thames and Hudson, 1965.
WALLERSTEIN, Immanuel. The Modern World-System I: Capitalism Agriculture and the Origins of
the European World-Economy in the Sixteenth Century. Berkeley: University of California Press,
2011.
______. O universalimo europeu; a retórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007.
______. El eurocentrismo y sus avatares: los dilemas de las ciencias sociales. Revista de Sociologia, n.
15, 2001, p. 27-39.
WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
WOLF, Eric. A Europa e os povos sem história. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.
Texto no prelo, favor não circular.
Você também pode gostar
- Verbete EurocentrismoDocumento6 páginasVerbete EurocentrismoAndré FilippeAinda não há avaliações
- História da África e EurocentrismoDocumento18 páginasHistória da África e EurocentrismoJosy SilvaAinda não há avaliações
- História e antropologiaDocumento17 páginasHistória e antropologiaThomás MeiraAinda não há avaliações
- Helena. HAADocumento9 páginasHelena. HAASalomão Luciano GuilhermeAinda não há avaliações
- Reflexões sobre o Saber Histórico: Entrevistas com Pierre Villar, Michel Vovelle, Madeleine RebériouxNo EverandReflexões sobre o Saber Histórico: Entrevistas com Pierre Villar, Michel Vovelle, Madeleine RebériouxAinda não há avaliações
- Antropologias Mundiais - Gustavo Lins RibeiroDocumento20 páginasAntropologias Mundiais - Gustavo Lins RibeiroJosiane BragatoAinda não há avaliações
- A História Sob O Véu De Clio: Suas Armas E BatalhasNo EverandA História Sob O Véu De Clio: Suas Armas E BatalhasAinda não há avaliações
- Igor Machado - Introdução à Antropologia-Contexto (2023)Documento134 páginasIgor Machado - Introdução à Antropologia-Contexto (2023)Gabriel BragaAinda não há avaliações
- PENSAMENTO PÓS - COLONIAL ChakrabartDocumento28 páginasPENSAMENTO PÓS - COLONIAL ChakrabartWilliam Evangelista de JesusAinda não há avaliações
- O discurso do pioneirismo e a invenção do Sul do Brasil: eurocentrismo e decolonialidadeNo EverandO discurso do pioneirismo e a invenção do Sul do Brasil: eurocentrismo e decolonialidadeAinda não há avaliações
- Euro Centrism oDocumento18 páginasEuro Centrism oRafael OliveiraAinda não há avaliações
- Um guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoNo EverandUm guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoAinda não há avaliações
- Antropologia e História: Diálogos e FronteirasDocumento17 páginasAntropologia e História: Diálogos e FronteirasThiago Rosário (Prof. Thiago Rosário)Ainda não há avaliações
- Fronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoNo EverandFronteiras do Erótico: O espaço e o erotismo n'O CortiçoAinda não há avaliações
- ARQUIVO RaissaOrestes-Anpuh2018Documento12 páginasARQUIVO RaissaOrestes-Anpuh2018Nilto MassangoAinda não há avaliações
- Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaNo EverandSobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: Segunda consideração extemporâneaAinda não há avaliações
- Sociologia periférica e crítica ao eurocentrismoDocumento17 páginasSociologia periférica e crítica ao eurocentrismoMurilo MangabeiraAinda não há avaliações
- Historia Global Historia Mundial AlgunsDocumento22 páginasHistoria Global Historia Mundial AlgunsErica Aparecida Kawakami MattioliAinda não há avaliações
- Historiografia: um guia para compreender a evolução da HistóriaDocumento85 páginasHistoriografia: um guia para compreender a evolução da HistóriaUlisses ColiAinda não há avaliações
- História de países imaginários: variedades dos lugares utópicosNo EverandHistória de países imaginários: variedades dos lugares utópicosAinda não há avaliações
- Utopia, pós-modernidade e transformações textuaisDocumento14 páginasUtopia, pós-modernidade e transformações textuaisLuisa Lima100% (1)
- Do Populismo Classico Ao Neopopulismo TR PDFDocumento28 páginasDo Populismo Classico Ao Neopopulismo TR PDFMateus Pinho BernardesAinda não há avaliações
- A Persistência Da Europa Como MedidaDocumento14 páginasA Persistência Da Europa Como MedidaFlavia RodriguesAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos STsDocumento172 páginasCaderno de Resumos STsPablo Sebastián Chávez ZúñigaAinda não há avaliações
- Admcatarse, 4 - 429 - Dossiè - A Potência Do Pensamento Diaspórico PDFDocumento10 páginasAdmcatarse, 4 - 429 - Dossiè - A Potência Do Pensamento Diaspórico PDFMarta SoaresAinda não há avaliações
- (BORBA, 2020) TeoriaCríticaEurocentrismoHistóriaColonialismoRestoDoMundo - AMINDocumento20 páginas(BORBA, 2020) TeoriaCríticaEurocentrismoHistóriaColonialismoRestoDoMundo - AMINRafael CoutinhoAinda não há avaliações
- PEIRANO, Mariza - A Favor Da EtnografiaDocumento162 páginasPEIRANO, Mariza - A Favor Da EtnografiaLeonardo SantosAinda não há avaliações
- A subalternidade da história indianaDocumento26 páginasA subalternidade da história indianaErahsto Felício100% (1)
- Carolina Rodríguez-Alcalá - Nota Sobre A Noção de Cultura e Sua Relação Com A de Civilização PDFDocumento30 páginasCarolina Rodríguez-Alcalá - Nota Sobre A Noção de Cultura e Sua Relação Com A de Civilização PDFContte JosefinaAinda não há avaliações
- Resenha Eco Ulberto - Apoliticos e IntegradosDocumento6 páginasResenha Eco Ulberto - Apoliticos e IntegradosLincoln BolzonAinda não há avaliações
- AD1 Mundo Helenístico Rafael Azevedo Pires Domingues 17216090105Documento3 páginasAD1 Mundo Helenístico Rafael Azevedo Pires Domingues 17216090105Rafael Azevedo Pires DominguesAinda não há avaliações
- PONTO URBE - Revista Do Núcleo de Antropologia Urbana Da USPDocumento10 páginasPONTO URBE - Revista Do Núcleo de Antropologia Urbana Da USPAlisson MachadoAinda não há avaliações
- Luiz Fernando Dias Duarte - A Pulsão RomanticaDocumento15 páginasLuiz Fernando Dias Duarte - A Pulsão RomanticaRaíra BohrerAinda não há avaliações
- Narrativas de Cadaveres e A Teleologia Da Historia Da World LiteratureDocumento26 páginasNarrativas de Cadaveres e A Teleologia Da Historia Da World LiteratureAlexandre JuniorAinda não há avaliações
- Visões e Percepções TradicionaisDocumento27 páginasVisões e Percepções TradicionaisJuciara VianaAinda não há avaliações
- Revista Crítica de Ciências Sociais-IntroducaoDocumento6 páginasRevista Crítica de Ciências Sociais-IntroducaoAndreia MarcelinoAinda não há avaliações
- Eurocentrismo e Colonialismo - PROGRAMADocumento5 páginasEurocentrismo e Colonialismo - PROGRAMAErick Caixeta CarvalhoAinda não há avaliações
- As lindes teóricas da teoria da residualidade culturalDocumento10 páginasAs lindes teóricas da teoria da residualidade culturalTitoBL100% (3)
- Saber AntropologicoDocumento28 páginasSaber AntropologicoHiawatha MacleodAinda não há avaliações
- Peirano 2006-A Teoria VividaDocumento202 páginasPeirano 2006-A Teoria VividaJonathan Cleber100% (1)
- Crítica da imagem eurocêntrica e defesa do policentrismoDocumento4 páginasCrítica da imagem eurocêntrica e defesa do policentrismoIsadora VieiraAinda não há avaliações
- A oposição entre os paradigmas iluminista e pós-moderno na historiografiaDocumento17 páginasA oposição entre os paradigmas iluminista e pós-moderno na historiografiaCarlos AugustoAinda não há avaliações
- Historia e Paradigmas RivaisDocumento27 páginasHistoria e Paradigmas RivaisPaulo César Dos SantosAinda não há avaliações
- Historiografia Africana 2 Ano RogerioDocumento13 páginasHistoriografia Africana 2 Ano RogerioSmooth BoyphirmAinda não há avaliações
- CEZAR, Temistocles. Hamlet Brasileiro Ensaio Sobre Giro Linguístico e Indeterminação Historiográfica (1970-1980)Documento22 páginasCEZAR, Temistocles. Hamlet Brasileiro Ensaio Sobre Giro Linguístico e Indeterminação Historiográfica (1970-1980)FabrícioRezendeAinda não há avaliações
- Globalização, identidade e diferença: o lugar teórico e político da diferença no mundo contemporâneoDocumento18 páginasGlobalização, identidade e diferença: o lugar teórico e político da diferença no mundo contemporâneoMarcos FreitasAinda não há avaliações
- Texto 5. - Arte Negra para o Ensino Do Renascimento Cultural Europeu - Uma Discussão Honesta Sobre A ModernidadeDocumento15 páginasTexto 5. - Arte Negra para o Ensino Do Renascimento Cultural Europeu - Uma Discussão Honesta Sobre A ModernidadeSamara MesquitaAinda não há avaliações
- O que é etnocentrismo? resumoDocumento3 páginasO que é etnocentrismo? resumoLevi Ramos100% (1)
- Dos Usos Da Cultura - Civilização, Cultura e SubjetividadesDocumento20 páginasDos Usos Da Cultura - Civilização, Cultura e SubjetividadesJosiane LinoAinda não há avaliações
- Antropologia Pós-ModernaDocumento17 páginasAntropologia Pós-ModernaKauana B. Anglés ArrigoAinda não há avaliações
- Memória e HistóriaDocumento13 páginasMemória e HistóriaodeteAinda não há avaliações
- VAINFAS, Ronaldo. Os Protagonistas Anônimos Da História - Micro-História. Rio de Janeiro - Campus, PDFDocumento5 páginasVAINFAS, Ronaldo. Os Protagonistas Anônimos Da História - Micro-História. Rio de Janeiro - Campus, PDFPedro CelestinoAinda não há avaliações
- A Viagem Das Ideias (Renan Freitas Pinto)Documento18 páginasA Viagem Das Ideias (Renan Freitas Pinto)Andrei SicsúAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Gestores EscolaresDocumento112 páginasApostila Do Curso Gestores EscolaresjhonatajhonptwestAinda não há avaliações
- Corpo e Embelezamento Infantil em Concursos de BelezaDocumento15 páginasCorpo e Embelezamento Infantil em Concursos de BelezaStéfanie PaesAinda não há avaliações
- Da Pluralidade Das Éticas e Fontes Da ÉticaDocumento40 páginasDa Pluralidade Das Éticas e Fontes Da ÉticaMiss ACGMAinda não há avaliações
- Técnicas de relaxamento físico e mentalDocumento5 páginasTécnicas de relaxamento físico e mentalleinad23Ainda não há avaliações
- Traços de CaraterDocumento11 páginasTraços de CaraterIzana GonçalvesAinda não há avaliações
- Apresentação Teoria Das Organizações - Jessica, Joao e RenatoDocumento47 páginasApresentação Teoria Das Organizações - Jessica, Joao e RenatoRenatoAinda não há avaliações
- Os 72 Nomes de DeusDocumento19 páginasOs 72 Nomes de DeusAnonymous FUhzQYM100% (2)
- Psicologia PNL e Hipnose Aplicadas A Seducao (Muito Bom)Documento63 páginasPsicologia PNL e Hipnose Aplicadas A Seducao (Muito Bom)Ana CogoAinda não há avaliações
- 518-Texto Do Artigo-1593-1-10-20170921Documento14 páginas518-Texto Do Artigo-1593-1-10-20170921Rosa BarrosAinda não há avaliações
- O Caminho Da Sabedoria de Stela VecchiDocumento84 páginasO Caminho Da Sabedoria de Stela Vecchiaugusto moreiraAinda não há avaliações
- O poder transformador da leituraDocumento181 páginasO poder transformador da leituraSidivalAinda não há avaliações
- Aulas de Estratégias Psicológicas CognitvasDocumento6 páginasAulas de Estratégias Psicológicas CognitvasElizabeth MirandaAinda não há avaliações
- História e Filosofia Da PsicanáliseDocumento20 páginasHistória e Filosofia Da PsicanáliseMarcus MarianiAinda não há avaliações
- Filosofia Da Paisagem - Segunda EdiçãoDocumento504 páginasFilosofia Da Paisagem - Segunda Ediçãolucianacomfacebook100% (3)
- Revista Vida PastoralDocumento68 páginasRevista Vida PastoralSoraia SoaresAinda não há avaliações
- Os pilares esquecidos da saúde integralDocumento81 páginasOs pilares esquecidos da saúde integralhugoAinda não há avaliações
- A Categoria Pensamento para SkinnerDocumento17 páginasA Categoria Pensamento para SkinnerThiago PinhoAinda não há avaliações
- Educação Física Brasileira: Autores A Atores Da Década de 1980Documento107 páginasEducação Física Brasileira: Autores A Atores Da Década de 1980Elisangela RochaAinda não há avaliações
- Tese EducacaoPopularPensamento PDFDocumento370 páginasTese EducacaoPopularPensamento PDFAndré PintoAinda não há avaliações
- Dissert - Andre - Schaustz - Delírio Na PsicoseDocumento131 páginasDissert - Andre - Schaustz - Delírio Na PsicoseRafael MansurAinda não há avaliações
- A libertação dos condicionamentos segundo KrishnamurtiDocumento74 páginasA libertação dos condicionamentos segundo KrishnamurtiLeticia Alves100% (1)
- Ele e Ela (Psicografia Joao Nunes Maia - Espirito Maria Nunes)Documento77 páginasEle e Ela (Psicografia Joao Nunes Maia - Espirito Maria Nunes)Romilda LopesAinda não há avaliações
- Ética Humanista e Educação Do AmorDocumento53 páginasÉtica Humanista e Educação Do Amorgasantos7Ainda não há avaliações
- O Mal Estar Nas CivilizaçõesDocumento9 páginasO Mal Estar Nas CivilizaçõesElias de Oliveira CacauAinda não há avaliações
- Mulheres Pioneiras Da SociologiaDocumento2 páginasMulheres Pioneiras Da SociologiaMateus ConteAinda não há avaliações
- Tolerancia e HumildadeDocumento6 páginasTolerancia e HumildadeMarcos OliveiraAinda não há avaliações
- E-Book Curso Minha Melhor Versão - Perguntas UAUDocumento40 páginasE-Book Curso Minha Melhor Versão - Perguntas UAUElsle BarretoAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Perfil ComportamentalDocumento31 páginasApostila Do Curso Perfil ComportamentalTaianny NunesAinda não há avaliações
- Livro Um Outro Jeito de VoarDocumento7 páginasLivro Um Outro Jeito de VoarAngela Maria Cupertino Ferreira CoelhoAinda não há avaliações
- LIVRO - Olhares Sobre o Corpo, Educação Física EscolarDocumento37 páginasLIVRO - Olhares Sobre o Corpo, Educação Física EscolarMarcos Roberto Nunes de OliveiraAinda não há avaliações
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Análise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNo EverandAnálise do Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro AutistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (13)
- Conexão mente corpo espírito: para o seu bem-estar - Uma cientista ousada avaliza a medicina alternativaNo EverandConexão mente corpo espírito: para o seu bem-estar - Uma cientista ousada avaliza a medicina alternativaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNo EverandMetodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- História das religiões: Perspectiva histórico-comparativaNo EverandHistória das religiões: Perspectiva histórico-comparativaAinda não há avaliações
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Jogo e civilização: História, cultura e educaçãoNo EverandJogo e civilização: História, cultura e educaçãoAinda não há avaliações
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Danças de matriz africana: Antropologia do movimentoNo EverandDanças de matriz africana: Antropologia do movimentoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (3)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Do átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNo EverandDo átomo ao buraco negro: Para descomplicar a astronomiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Fé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorNo EverandFé cristã e pensamento evolucionista: Atualizações teológico-pastorais a um tema desafiadorJoel Portella AmadoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNo EverandA Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A História da Astrologia Para Quem Tem Pressa: Das tábuas de argila há 4.000 anos aos apps em 200 páginas!No EverandA História da Astrologia Para Quem Tem Pressa: Das tábuas de argila há 4.000 anos aos apps em 200 páginas!Nota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (3)
- Como desenvolver a autodisciplina: Resista a tentações e alcance suas metas de longo prazoNo EverandComo desenvolver a autodisciplina: Resista a tentações e alcance suas metas de longo prazoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (39)
- Saberes gastronômicos e formação de chefs: O itinerário acadêmico-profissional de gastrônomosNo EverandSaberes gastronômicos e formação de chefs: O itinerário acadêmico-profissional de gastrônomosAinda não há avaliações
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Atletismo: Desenvolvimento Humano e Aprendizagem EsportivaNo EverandAtletismo: Desenvolvimento Humano e Aprendizagem EsportivaAinda não há avaliações
- Mulheres Na Idade Média: Rainhas, Santas, Assassinas De Vikings, De Teodora A Elizabeth De TudorNo EverandMulheres Na Idade Média: Rainhas, Santas, Assassinas De Vikings, De Teodora A Elizabeth De TudorAinda não há avaliações