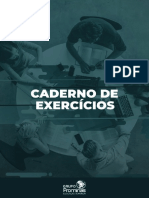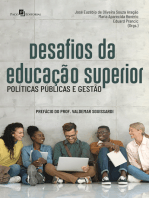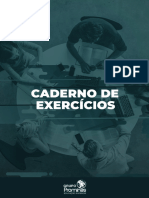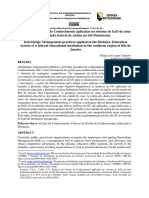Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Expansão e Diversificação Do Ensino Superior
Expansão e Diversificação Do Ensino Superior
Enviado por
decarvalho.aprDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Expansão e Diversificação Do Ensino Superior
Expansão e Diversificação Do Ensino Superior
Enviado por
decarvalho.aprDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Expansão e diversificação do ensino
superior:
privatização, educação a distância e concentração de mercado no Brasil,
2002-2016
Flavio Carvalhaes
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, flavio.carvalhaes@ifcs.ufrj.br
Marcelo Medeiros
Ipea, marcelo.medeiros@ipea.gov.br
Clarissa Tagliari
Colégio Pedro II/UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, cla.tsantos@gmail.com
Nota: versão preliminar, favor consultar autores antes de citar.
Páginas 31; Caracteres 47431; Palavras 8425
Primeira versão em inglês: 12/07/2021; esta versão: 21/07/2021
Agradecimentos
Este trabalho contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ contratos 010.002639/2019 e 010.001264/2016 assim
como do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico – CNPq contrato
400786/2016-8.
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Agradecemos a Antonio Augusto Pereira Prates, Carlos Antônio Costa Ribeiro, Elisa
P. Reis, Felipe de Oliveira Peixoto e Maria Lígia Barbosa pelos valiosos comentários. Também
gostaríamos de agradecer ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdade (NIED)
por seu apoio e assistência.
Os autores listados atendem a todas as seguintes condições: 1) contribuições
substanciais para a concepção e design, ou aquisição de dados, ou análise e interpretação dos
dados; 2) redação do artigo e revisão crítica de conteúdo intelectual importante; e 3) aprovação
final da versão a ser submetida e publicada.
Os autores não têm conflitos de interesse que possam prejudicar seu trabalho.
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Expansão e diversificação do ensino
superior:
privatização, educação a distância e concentração de mercado no Brasil,
2002-2016
Resumo
Este artigo analisa a expansão do sistema de ensino superior brasileiro por meio da
concentração na distribuição das matrículas entre instituições. Usando dados do Censo do
Ensino Superior de 2002 a 2016, encontramos que a diversificação de segmentos que
compõem o sistema está associada a um aumento da concentração e da oligopolização do
mercado de ensino superior. A expansão do ensino superior no Brasil é uma história de
intenso crescimento e alta concentração em grandes instituições. As matrículas mais do que
dobraram em 14 anos, mas o crescimento do 1% de maiores instituições foi maior do que todo
o crescimento entre os 90% das instituições menores. Grande parte da concentração pode ser
explicada por uma combinação entre privatização subsidiada pelo governo e a
desregulamentação do ensino a distância. A educação privada a distância foi o principal fator
indutor da concentração de matrículas. Ao final do período analisado, o setor privado
respondeu por 77% de toda a conentração e a educação privada a distância, sozinha, por 40%.
Palavras-chave
Expansão do ensino superior; concentração de mercado; privatização do ensino; educação a distância;
diversificação; desigualdade educacional.
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Introdução
Este estudo analisa o processo de expansão da educação superior no Brasil e avalia se
sua diversificação está relacionada à concentração de mercado. O estudo utiliza microdados do
Censo do Ensino Superior de 2002 a 2016, abrangendo mais de 30 mil instituições.
Ordenamos as instituições por tamanho e aplicamos técnicas frequentemente usadas nas
análises de desigualdade de renda para examinar a concentração na distribuição de matrículas
entre instituições do sistema de ensino superior brasileiro.
Analisamos como um aumento na variedade de segmentos que compõem o sistema
educacional (ex: surgimento da modalidade de ensino a distância) está relacionado a um
aumento da concentração e da oligopolização do mercado. Argumentamos que a concentração
na distribuição de matrículas em qualquer sistema não deveria ser negligenciada porque a
diversificação pode, potencialmente, reduzir as opções dadas aos estudantes e a adaptabilidade
do sistema a contingências, se isto acontecer sob intensa concentração. Em termos gerais, a
diversidade institucional é apenas um dos aspectos da noção mais ampla de heterogeneidade; o
estudo da concentração complementa a pesquisa sobre diversidade e diversificação de sistemas
de ensino.
Nossos resultados apontam que a combinação entre privatização e ensino a distância –
que são formas de diversificação – levou a uma substancial concentração de mercado. O
crescimento de matrículas ocorreu ao longo de toda a distribuição de instituições, mas foi
muito superior entre as maiores instituições. A concentração foi impulsionada quase
inteiramente pela expansão do setor privado, que fez uso massivo do ensino a distância para
crescer e foi sustentado por subsídios públicos. A concentração em um mercado que já era
concentrado antes de 2002 cresceu a ponto de formar oligopólios.
Diversidade, Segmentação e Concentração
Um objetivo comum nas pesquisas sobre educação superior é analisar se a expansão do
sistema educacional está relacionada à sua heterogeneidade. Essa heterogeneidade é avaliada a
4
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
partir da noção de diversidade, que em um sistema educacional expressa a variedade de
segmentos que compõem o sistema e como as instituições estão distribuídas entre estes
segmentos em um determinado momento. Diversificação e segmentação são os processos de
mudança na diversidade ao longo do tempo, e às vezes também denominadas de diferenciação
(Bowl, 2018; Huisman, 1995, 1998, 2016; Kolster & Westerheijden, 2020; Meier & Schiopu,
2020; Teichler, 2006, 2008, p. 200; van Vught, 2009).
A diversidade costuma ser avaliada a partir de características das instituições de ensino
como sua qualidade, nível de seletividade, estrutura organizacional, fundamentos legais, formas
de financiamento, áreas do conhecimento, missão institucional, tipos de diplomas, abordagens
pedagógicas, composição do corpo discente e tamanho. A oferta de ensino vocacional, cursos
de curta duração e ensino a distância, além do ensino universitário convencional, seriam
exemplos de diversificação (Birnbaum, 1983; Bowl, 2018; Brint & Karabel, 1991; Dakka, 2015;
Fairweather, 2000; Huisman, 1995, 1998, 2000; Iannelli et al., 2018; Jungblut & Vukasovic,
2018; Meek et al., 1996, 2000; Neave, 2000; Teichler, 2002, 2008; van Vught, 2009).
Em teoria, a diversidade está associada ao desempenho dos sistemas de ensino
superior. De forma geral, uma razoável dispersão das instituições entre os segmentos é avaliada
como um atributo positivo de um sistema educacional. Por exemplo, van Vught (2009)
argumenta que algum grau de diversidade é desejável porque aumentaria as opções dadas aos
estudantes e a adaptabilidade do sistema às contingências.
A diversidade é geralmente quantificada por meio de dois parâmetros: o número de
segmentos no sistema e o número de instituições em cada segmento. O tamanho das
instituições, quando avaliado, é tratado como um componente dos segmentos (por exemplo,
pequeno, médio, grande). Quando necessário, diferentes medidas - como os índices de
Birnbaum, Herfindal ou de Simpson – são usadas para dar um valor escalar à diversidade. Esta
abordagem foi usada em estudos sobre os Estados Unidos (Birnbaum, 1983; Harris & Ellis,
2020; Morphew, 2009), China (Wang & Zha, 2018), Itália (Rossi, 2009), Portugal (P. N.
Teixeira et al., 2012) e um conjunto de dez países (Huisman et al., 2007).
Tal abordagem responde à distribuição das instituições entre segmentos, mas não
fornece informação sobre a distribuição dentro dos segmentos. Por exemplo, mudanças
extremas de tamanho dentro do segmento de “grande porte” passariam desapercebidas por
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
este tipo de medição. Enquanto as instituições não mudarem de segmentos, a medida de
diversidade permanece a mesma. Essa abordagem tende a ser parcialmente insensível à
concentração de qualquer tipo de recurso, especialmente a que incide no topo da distribuição.
. Além disso, nos estudos citados acima, a unidade de análise é a instituição de ensino,
não ponderada por tamanho. Ao não considerar o tamanho, se assume, tacitamente, que todas
as instituições contribuem para a diversidade da mesma forma. Isso faz sentido para alguns
tipos de análise mas, dependendo dos objetivos da pesquisa, coloca um problema analítico: um
sistema educacional onde 99% dos estudantes estão matriculados em uma única instituição
pode ser considerado tão diverso como um sistema de mesmo tamanho onde os estudantes
estão distribuídos igualmente entre as instituições.
Procuramos abordar esta questão e complementar a análise da diversidade
diversificação com a análise da concentração. Nosso foco é em como a expansão do sistema se
relaciona com o tamanho das instituições. Mais especificamente, olhamos para a expansão de
um sistema de ensino superior através das lentes da concentração na distribuição das
matrículas entre instituições. Implícita em nossa abordagem é a ideia de que a concentração é
uma componente chave de qualquer análise de um sistema educacional. Esta não é uma
questão limitada às matrículas. As mesmas técnicas estatísticas que usamos aqui poderiam ser
usadas para analisar a concentração em outras distribuições de qualquer recurso de interesse na
análise dos sistemas educacionais, como a distribuição de verbas entre instituições ponderadas
pelas matrículas (por exemplo, verbas per capita).
As duas ideias são complementares pois embora a diversidade institucional e a
concentração estejam relacionadas, são aspectos diferentes de um sistema educacional. No
último caso, o tamanho das instituições não é simplesmente um atributo que permite a
colocação em determinado segmento, dentre muitos outros segmentos, mas sim um aspecto
central da análise. Ademais, é importante considerar que um aumento na diversidade
(diversificação) pode ocorrer simultaneamente a um aumento na concentração. Por exemplo,
um novo segmento pode ser criado e concentrar as matrículas e outros recursos.
A concentração das matrículas em determinadas instituições tem implicações em vários
níveis. Por exemplo, da perspectiva dos estudantes, a concentração implica um conjunto maior
de pessoas sujeitas a um número limitado de abordagens pedagógicas; para o sistema como um
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
todo, isto pode significar o desenvolvimento de oligopólios com poder de competição
desproporcional contra instituições pequenas, ou até mesmo a formação de cartéis para
contrabalançar ou capturar a regulação estatal.
Essa é uma questão importante para países em desenvolvimento que ainda estão
consolidando seus sistemas de ensino superior através do aumento das taxas de cobertura para
a população elegível. Por uma série de razões, estes países dependem da expansão de seus
sistemas. No entanto, ainda não está claro como isto pode ser feito. As políticas que buscam
diversidade institucional, mas ignoram a concentração podem, na verdade, perder objetivos
educacionais mais amplos. Por exemplo, uma desregulamentação radical pode muito bem
resultar em expansão e diversificação que irá aumentar as opções dadas aos estudantes ao
oferecer mais cursos de baixa qualidade. Além disso, pode levar também a uma intensa
concentração que dificilmente se pode dizer que aumenta a adaptabilidade do sistema às
contingências ou torna o sistema efetivamente mais diverso. De fato, ao analisar a
concentração seria possível identificar se em uma expansão a diversidade potencial (variedade
de opções disponíveis aos estudantes) aumentou em termos relativos, mas a diversidade efetiva
(variedade de escolhas feitas pelos estudantes) diminuiu.
Expansão do ensino superior brasileiro –
políticas e contexto
O nível e a distribuição de matrículas na educação superior no Brasil entre 2002 e 2016
foram afetados por uma série de eventos, dos quais sete são de relevância particular: i) 1996,
início das reformas pró-mercado; ii) 1999, FIES – empréstimos estudantis subsidiados pelo
Estado; iii) 2005, autorização da educação a distância; iv) 2005, PROUNI – subsídios indiretos
via isenção fiscal em troca de bolsas de estudo em instituições privadas; v) 2007, REUNI –
expansão das universidades públicas; vi) 2008, Rede Tecnológica Federal expande a educação
pública tecnológica; vii) 2014, recessão econômica severa. Esses eventos não foram os únicos
determinantes da expansão do ensino superior, mas são importantes marcos a serem
considerados. Eles são examinados de forma mais detalhada abaixo.
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Antes da recente expansão, o sistema já estava segmentado entre as redes pública e
privada com diferentes características. Embora o Brasil tenha instituições de ensino superior
que datam do início do século 19, a configuração atual do sistema de ensino superior começou
a ser definida na década 1970. A Reforma Universitária de 1968 atribuiu à rede pública a
missão de ensino e pesquisa enquanto o setor privado assumiu a liderança na absorção de
matrículas ao focar em áreas de conhecimento de baixo custo e ser pouco seletivo (Martins,
2009; Sampaio, 2000). As instituições privadas eram necessariamente sem fins lucrativos, mas a
frouxa regulação permitiu a entrada de instituições que visavam o lucro e pouco preocupadas
com a qualidade.
A Reforma também reforçou a diferenciação da qualidade e a seleção da clientela,
sendo a educação pública gratuita para os estudantes, com professores mais qualificados e com
maior prestígio (devido ao componente de pesquisa). Instituições privadas de alta qualidade
são exceções, fazendo com que o sistema esteja segmentado em uma grande massa de
estudantes em cursos privados de qualidade duvidosa e uma proporção relativamente pequena
de estudantes em universidades públicas de alta qualidade (Prates & Collares, 2014).
Até recentemente, o ensino superior era predominantemente composto por estudantes
com alto nível socioeconômico, os quais estavam em melhores condições de preparo para os
vestibulares fortemente competitivos das instituições públicas gratuitas, ou tinham condições
financeiras de pagar as mensalidades das instituições privadas. Após a expansão e a introdução
das políticas de inclusão, ambos setores se tornaram mais abertos a estudantes de baixa renda.
Em 2016, o setor público era o mais aberto a estes estudantes (Costa et al., 2021).
A partir de 1996, uma série de reformas pró-mercado foram implementadas. Com
essas reformas, o governo brasileiro seguia tendências internacionais e mudava o papel do
Estado na educação superior (Amaral & Magalhães, 2001). A adoção de um mercado regulado
buscava aumentar a oferta - ao permitir o lucro - e melhorar a qualidade - ao estimular a
competição. Foi permitida a atuação das instituições lucrativas, autorizadas fusões e aquisições
e desregulamentada a criação de novos cursos e modalidades de ensino, como a educação a
distância (Cunha, 2003; Sampaio, 2014). Para as empresas, a desregulamentação do mercado
educacional privado resultou em uma maior liberdade para ingressar no mercado, especificar
produtos, alocar recursos, determinar preços e formar conglomerados.
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
A literatura sobre o tema destaca dois efeitos dessa desregulamentação (Carvalho,
2013; Sampaio, 2014; Sguissardi, 2015). Primeiro, uma segmentação interna do setor privado,
com a entrada de instituições com um comportamento empresarial agressivo e altamente
orientadas para a maximização do lucro. Segundo, a criação de um mercado para as instituições
que permitiu uma sucessão de aquisições e fusões. Grandes conglomerados passaram a
comprar instituições menores, transformando o sistema privado em um oligopólio controlado
por poucos grupos de grande porte.
O Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001-2010 lançou as bases para a expansão
das matrículas no período analisado neste artigo. O PNE induziu as políticas da década ao
estabelecer as metas de aumento da taxa líquida de matrículas, incentivar a educação a
distância, os cursos tecnológicos e as instituições não-universitárias. A década que seguiu o
PNE 2001-2010 foi um período de intensa expansão das matrículas (Marteleto et al., 2016;
Schwartzman, 2013).
Em 2005, a educação a distância foi autorizada (Segenreich & Araújo Castro, 2012).
Para assegurar a qualidade, o Ministério da Educação tornou mais exigente o processo de
aprovação de novos cursos EaD. Isso, combinado à economia de escala e aos altos
investimentos em publicidade criaram barreiras de entrada a competidores no mercado da EaD
(Bênia, 2016). Com isso, os conglomerados já estabelecidos ganharam uma vantagem que
favoreceu o controle do mercado educacional.
Apesar de existirem desde 1968, os cursos tecnológicos foram regulamentados na
educação superior apenas em 2002 (Neves, 2003) e a maior parte da expansão ocorreu por
meio do setor privado em cursos de baixo custo. Em 2008, a constituição da Rede Federal
Tecnológica também expandiu este grau acadêmico no setor público. No entanto, este é um
segmento ainda minoritário no ensino superior brasileiro (Prates & Barbosa, 2015).
No setor público, além do crescimento das matrículas nos cursos tecnológicos, a
implantação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais (Reuni), em 2007, promoveu a interiorização geográfica e ampliação das vagas
noturnas. O Reuni também estimulou a adoção de ações afirmativas, que passaram a ser
obrigatórias com a Lei de Cotas, em 2012 (Feres Júnior & Daflon, 2014).
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Com o apoio dos subsídios voltados para estimular a demanda no setor privado, o
sistema se tornou altamente lucrativo. Isso atraiu vultuosos investimentos feitos por fundos de
private equity e o apoio do International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco
Mundial, essenciais para a expansão dos conglomerados (Almeida, 2019; Corbucci et al., 2016;
Oliveira, 2009).
Nos anos 1990, a demanda por ensino superior por parte de estudantes com
capacidade de pagar pelo ensino privado estava quase esgotada. Como resposta, foram criados
subsídios para estudantes de baixa renda. Em 1999, o governo reformulou o antigo crédito
educativo e implementou o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), programa de
empréstimos voltado para estudantes matriculados em cursos presenciais. Em 2005, foi
implementado o ProUni, no qual as instituições concedem bolsas de estudos a estudantes de
baixa renda em troca de substanciais isenções fiscais (Carvalho, 2013). Em 2010, os subsídios
ao Fies aumentaram, com redução das taxas de juros e extensão do período para reembolso do
empréstimo. Em 2014, o ensino superior subsidiado respondia por cerca de um terço do
mercado privado (Corbucci et al., 2016). Tudo isso resultou em um crescimento tão mal
regulado que, em 2015, o FIES se tornou insustentável fiscalmente. Em 2015, o subsídio
integral foi extinto, as taxas de juros foram aumentadas e foram estabelecidas regras que
exigiam aproveitamento mínimo nos exames nacionais de admissão e limitavam o número de
mensalidades.
A combinação de subsídios e desregulamentação fez do Brasil um importante mercado
de educação superior privada com ampla presença de instituições voltadas para o lucro. O país
ocupa o terceiro lugar no mundo em números absolutos de estudantes em instituições
privadas, com 42% de todas as matrículas de ensino superior em instituições com fins de lucro.
Mesmo entre os poucos países que permitem o lucro no ensino superior, a estrutura em
conglomerados do Brasil é um caso atípico, já que nos demais países predominam instituições
lucrativas de pequeno porte (Levy, 2015, 2018)
A crise econômica e política limitou a continuidade do crescimento. Em 2014, o Brasil
entrou em um período de recessão e instabilidade política. A grave recessão não apenas
reduziu os subsídios governamentais para o setor privado, mas também comprometeu a
continuidade dos estudos de alunos de instituições privadas e de novos ingressantes no ensino
10
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
superior. A instabilidade política reduziu significativamente a capacidade administrativa do
Estado para manter as políticas expansionistas dos anos anteriores.
Metodologia
Dados
Utilizamos dados do Censo do Ensino Superior de 2002 a 2016, produzidos pelo Inep
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Anísio Teixeira).
A distribuição das matrículas pelas instituições é nosso foco neste artigo. No entanto,
para chegar a uma série que cobrisse todo o período, alguns ajustes nos dados foram
necessários. No total, padronizamos e combinamos 37 bases de dados separadas. De 2002 a
2008, em cada ano usamos três diferentes bases cuja unidade de análise eram os cursos de
graduação: uma para cursos regulares de graduação, uma para cursos de educação a distância e
uma para os cursos sequenciais de formação específica. Para os anos de 2009 a 2016,
combinamos a base de cursos de graduação e uma base de matrículas. Somamos as matrículas
dentro de cada combinação de instituição e curso para chegar à uma base de dados
intermediária que contém o número de matrículas de cada curso.
Agregamos os dados de todos os cursos de graduação dos anos de 2002 a 2016. O
Inep recomenda a exclusão dos cursos classificados como Área Básica (cód. 010B00) para o
cálculo do número de matrículas (INEP, 2017). Aplicando este critério, excluímos 1.365
observações do conjunto de dados.
Nos manuais de uso dos microdados de 2009 em diante, o Inep recomenda que as
matrículas sejam calculadas excluindo os cursos sequenciais de formação específica. Para
padronizar as séries com os mesmos critérios, foram excluídos os cursos sequenciais deste
período e também no período anterior, de 2002 a 2008. No total, 5.787 cursos foram
removidos em função desses critérios. Também foram excluídos 15.749 cursos registrados,
mas sem matrículas.
11
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Após a construção dessas base de dados, foi preciso tratar dos dados faltantes
(missings). Os cursos de graduação são classificados em três tipos de grau acadêmico:
bacharelado, licenciatura e tecnológico. De 2002 a 2008, um estudante poderia estar
matriculado simultaneamente no bacharelado e na licenciatura. Entre 2002 e 2008, alguns
cursos não tinham a informação sobre o tipo de grau. Realizamos imputação de informação
para os casos de dados faltantes no tipo de grau usando o nome dos cursos. Todos os cursos
da base tinham informação sobre sua área de conhecimento em um código de seis dígitos que
segue o “Manual para implementação do ISCED-97 nos países da OCDE” (OECD, 1999).
Depois de agregarmos os dados de todos os cursos que apareceram ao menos uma
vez entre 2002 a 2008, mantivemos apenas os códigos dos cursos e graus acadêmicos dos
cursos que apareciam em ao menos um ano. Este novo arquivo de códigos de cursos e graus
serviu como fonte para uma estratégia de imputação, já que esses novos dados continham
informação sobre todas as combinações possíveis entre códigos de cursos e tipos de grau
existentes na base de dados entre 2002 e 2008. Usando códigos identificadores dos tipos de
curso em seis dígitos como ids, mesclamos novamente as informações de grau para as
observações que não tinham as informações disponíveis. Nossa estratégia reduziu os dados
faltantes para apenas 29 observações. Esses cursos foram excluídos de nossas análises.
A soma de nosso critério de exclusão levou à exclusão de 22.930 cursos. Chegamos a
uma amostra de 379.489 observações que representam todos os cursos de graduação não
excluídos pelo critério apresentado acima. Esses cursos estavam agrupados em 33.104
instituições de ensino superior.
Nossa base analítica final são os dados da soma das matrículas de cada curso de
graduação em cada instituição para cada um dos anos. Aplicamos uma última exclusão nos
dados: retiramos 1,754 instituições com menos de 50 matrículas. Nossa amostra analítica tem,
ao final da aplicação de todos esses critérios, 31.350 observações.
Ao harmonizar as séries, enfrentamos um problema com os anos de 2007 e 2008.
Nestes anos, a educação a distância se expandiu e se tornou relevante em número de
matrículas. Os cursos de educação a distância recebiam um identificador de instituição próprio
até 2008, mesmo quando oferecidos por uma instituição que já tinha cursos presenciais – o que
era uma situação muito comum. Por exemplo, uma universidade oferecendo ensino a distância
12
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
poderia ser contada como duas instituições separadas. A partir de 2009, este problema deixou
de existir, pois é possível identificar se os cursos presenciais e a distância são oferecidos na
mesma instituição devido à disponibilidade de identificadores únicos para as instituições. Antes
de 2006, o problema não era grande o suficiente para afetar os resultados agregados.
Da perspectiva da análise da concentração de mercado, consideramos a separação um
artefato que reduz o tamanho real das instituições, move algumas matrículas para partes
inferiores da distribuição e interrompe a série. Tentamos diferentes estratégias para corrigi-lo,
mas nenhuma teve sucesso. Não tínhamos nenhum número de identificação único nesses anos
que permitissem qualquer tipo de procedimento para ligar cursos a instituições. Também
tentamos associar instituições a uma série de outras variáveis disponíveis, como localização
geográfica, mas também não foi viável, pois uma instituição pode ter vários campi e pode haver
duas ou mais instituições na mesma localização geográfica, principalmente nas regiões
metropolitanas. Por não termos sido capazes de corrigir esse problema, procuramos destacá-lo
na análise sempre que acreditarmos que possa afetar a interpretação.
Procedimentos
Analisamos a distribuição das matrículas entre as instituições de ensino superior. Uma
instituição é uma universidade ou unidade equivalente, qualquer tipo de instituição de oferta de
educação superior credenciada junto ao Ministério da Educação e contabilizada no Censo do
Ensino Superior. No entanto, diferentes instituições podem pertencer a um único
conglomerado. Nossos dados não nos permitem identificar conglomerados ao longo das séries
temporais, o que significa que muito provavelmente estamos subestimando os níveis reais de
concentração das matrículas em nosso estudo, uma vez que várias instituições de ensino
superior (nossa unidade de análise) podem ser controladas pelo mesmo conglomerado.
Classificamos as instituições por tamanho, sendo o tamanho o número de matrículas
em uma instituição em um determinado período. Também os classificamos em subgrupos, de
acordo com o setor (público ou privado) ou modalidade de ensino (presencial ou a distância).
A Tabela 1 mostra o número de instituições de ensino superior por ano e setor. A Tabela 2
apresenta o número de matrículas por ano, setor e modalidade de ensino.
13
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Tabela 1
Distribuição das instituições por categoria administrativa no ensino superior brasileiro,
2002-2016.
Pública Privada Total
Ano N % N % N %
2002 206 13,8 1282 86,2 1488 100
2003 213 12,3 1517 87,7 1730 100
2004 237 12,8 1616 87,2 1853 100
2005 242 12,2 1748 87,8 1990 100
2006 259 12,1 1873 87,9 2132 100
2007 278 12,9 1876 87,1 2154 100
2008 233 10,9 1908 89,1 2141 100
2009 240 11,0 1938 89,0 2178 100
2010 274 12,2 1973 87,8 2247 100
2011 283 12,7 1954 87,3 2237 100
2012 282 12,4 1985 87,6 2267 100
2013 277 12,3 1978 87,7 2255 100
2014 269 12,1 1958 87,9 2227 100
2015 271 12,3 1941 87,7 2212 100
2016 273 12,2 1966 87,8 2239 100
Fonte: Censo da Educação Superior, 2002-2016, INEP, microdados
14
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Tabela 2
Distribuição das matrículas por ano, setor e modalidade – Brasil, 2002-2016.
Pública Privada Total
Ano Presencial EaD Presencial EaD
N % N % N % N % N %
2002 1050690 29,9 34322 1,0 2424973 69,0 6392 0,2 3516377 100
2003 1134411 28,9 39804 1,0 2747465 69,9 10107 0,3 3931787 100
2004 1176179 27,9 35989 0,9 2981558 70,7 23622 0,6 4217348 100
2005 1191533 26,1 54515 1,2 3255607 71,4 60127 1,3 4561782 100
2006 1208445 24,8 42061 0,9 3464247 71,0 165145 3,4 4879898 100
2007 1237521 23,6 94179 1,8 3632259 69,3 275557 5,3 5239516 100
2008 1271312 21,9 278988 4,8 3803515 65,5 448973 7,7 5802788 100
2009 1350992 22,7 172696 2,9 3761182 63,2 665429 11,2 5950299 100
2010 1445626 22,7 181602 2,9 3984104 62,6 748577 11,8 6359909 100
2011 1578448 23,5 177924 2,6 4147584 61,7 815003 12,1 6718959 100
2012 1585713 22,6 166989 2,4 4311561 61,5 946826 13,5 7011089 100
2013 1638584 22,5 139273 1,9 4486507 61,6 1014288 13,9 7278652 100
2014 1689665 21,7 135704 1,7 4770507 61,1 1206133 15,5 7802009 100
2015 1725501 21,6 125690 1,6 4874941 61,0 1268057 15,9 7994189 100
2016 1768237 22,1 119504 1,5 4749602 59,3 1374909 17,2 8012252 100
Fonte: Censo da Educação Superior, 2002-2016, INEP, microdados
Nossa medida de desigualdade é o índice Theil-T, mas também calculamos outras
medidas comumente utilizadas. Como precisávamos decompor a concentração de matrículas,
optamos pelo índice de Theil-T, pois ele é aditivamente decomponível por subgrupos, ou seja,
a desigualdade total é a soma da desigualdade dentro de cada grupo e a desigualdade entre os
grupos, propriedade que algumas outras medidas de desigualdade não têm. Entre vários índices
de desigualdade, o Theil-T tem uma sensibilidade moderada a alta a mudanças na concentração
no topo da distribuição, que é o caso empírico que estamos examinando. Outras medidas de
desigualdade podem ser mais (por exemplo, coeficiente de variação) ou menos (por exemplo,
coeficiente de Gini) sensíveis à concentração no topo.
Resultados
15
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Crescimento com concentração
O crescimento do sistema de ensino superior brasileiro no período entre 2002-2016 foi
muito intenso, com um aumento expressivo no total de matrículas. No entanto, esse
crescimento foi altamente concentrado, impulsionado, principalmente, por poucas instituições
muito grandes, em um padrão que sugere a formação de oligopólios no mercado educacional.
Ao longo desses 14 anos, as matrículas no ensino superior mais que dobraram. O
crescimento total foi de 125%, passando de 3,6 milhões de matrículas em 2002 para 8,0
milhões em 2016. Por haver excluído da análise instituições com menos de 50 matrículas
(menos de 5% do total), observamos um aumento de 128%, de 3,4 milhões para 7,8 milhões
de matrículas.
Esse crescimento, porém, não foi uniforme. O Gráfico 1 apresenta a curva de
incidência de crescimento (CIV) das instituições ordenadas por tamanho. Este é o mesmo tipo
de CIV usada para analisar a desigualdade de renda. As instituições são classificadas em
vigésimos (5%), exceto no topo, onde o último vigésimo é dividido entre os primeiros 1% e os
próximos 4%. Uma suavização polinomial foi aplicada para reduzir as marcas visuais de
mudanças entre quantis. O crescimento de cada vigésimo refere-se ao período entre 2002 e
2016. A curva é anônima, o que significa que instituições específicas podem mudar de posição
ao longo do tempo.
Gráfico 1
Incidência do crescimento das matrículas, por classes de tamanho das instituições,
Brasil, 2002-2016
16
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Incidência do crescimento das matrículas, tamanho das
instituições, Brasil, 2002-2016
300%
250%
Crescimento 2002 - 2016
200%
150%
100%
50%
0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tamanho da insitituição (0-100%)
Fonte: Censo da Educação Superior, 2002-2016, INEP, microdados
O crescimento ocorreu ao longo de toda a distribuição, mas foi muito mais intenso nas
instituições maiores. A forma da curva de incidência mostra taxas positivas de crescimento
desde as instituições menores até cerca de 75%. A partir desse ponto as taxas diminuem
substancialmente, até cerca de 90% (10% do topo) e mudam completamente para taxas muito
altas além desse ponto. Os 5% das maiores instituições crescem mais rápido do que qualquer
outra parte da distribuição; o 1% do topo (acima do quantil 99%) cresceu 276%, que é mais de
quatro vezes a taxa de crescimento observada para o grupo de 85-90%.
Esse padrão é consistente com a formação de oligopólios no mercado educacional.
Estes podem surgir quando há concentração das instituições de médio-grande porte às maiores
instituições, o que é esperado quando os conglomerados se fundem e incorporam instituições.
O que a curva sugere é que associado a um alto crescimento há um aumento importante da
concentração.
17
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
A Tabela 3 fornece informações anuais sobre a participação na fração do crescimento
total acumulado por diferentes classes de instituições (ordenadas por tamanho). A tabela
mostra a contribuição do crescimento de cada classe de instituições em cada ano para o
crescimento total em todo o período.
O crescimento total do sistema de ensino superior brasileiro foi muito concentrado e
predominantemente conduzido por poucas instituições: as grandes. Na verdade, o 1% do topo
das instituições (99% -100%) foi responsável por mais de um terço (36%) de todo o
crescimento no período. Sozinho, esse pequeno grupo contribuiu com mais de duas vezes o
aumento das 80% instituições menores. Em termos absolutos, o aumento das matrículas no
1% maior (1,5 milhão) foi superior ao aumento total nas 90% menores instituições (1,4
milhão). Do total de expansão das matrículas, 60% ocorreram no 5% de maiores instituições.
Tabela 3
Concentração do crescimento, por tamanho das instituições e ano, Brasil, 2002-2016
Tamanho
Ano 0%- 80%- 90%- 95%- 99%- Total Total
80% 90% 95% 99% 100% % matrículas
2002 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.441.802
2003 2% 0% 1% 3% 3% 9% 3.841.137
2004 4% 1% 2% 5% 4% 15% 4.115.712
2005 6% 2% 3% 6% 7% 23% 4.447.556
2006 7% 2% 3% 8% 9% 30% 4.751.720
2007 9% 4% 4% 8% 13% 38% 5.106.395
2008 10% 4% 5% 12% 19% 51% 5.674.486
2009 10% 4% 5% 15% 19% 53% 5.762.292
2010 13% 6% 6% 18% 20% 62% 6.179.802
2011 15% 8% 7% 20% 21% 71% 6.544.832
2012 16% 9% 7% 20% 25% 77% 6.836.394
2013 18% 9% 8% 21% 28% 84% 7.115.020
2014 19% 12% 9% 23% 32% 95% 7.632.045
2015 20% 13% 10% 24% 33% 100% 7.821.048
2016 19% 12% 10% 24% 35% 100% 7.840.404
Fonte: Censo da Educação Superior, 2002-2016, INEP, microdados
18
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Em apenas quatro anos (2002-2006), as 5% maiores instituições (95% e acima)
acumularam mais novas matrículas do que as 80% menores em mais de uma década (2002-
2012). Até 2009, o aumento no 1% das maiores instituições superou a soma das novas
matrículas nos 90% das instituições. A história de expansão do ensino superior no Brasil a
partir de 2002 é, basicamente, uma história de crescimento de grandes instituições. Isso teve
impactos significativos na concentração de matrículas, como discutiremos a seguir.
É importante observar que a educação a distância é um problema para a série nos anos
de 2007 e 2008. Até 2008, uma instituição que oferecia cursos presenciais e a distância era
contabilizada como duas instituições (ver a seção Dados para detalhes). Portanto, parte da
mudança no crescimento concentrado das partes inferiores da distribuição para o topo que
observamos em 2008-2009, particularmente na área em torno de 90%-99%, pode ser um
artefato resultante da consolidação nos dados das instituições em 2009.
Evolução da concentração e seus componentes
A concentração de mercado no sistema de ensino superior brasileiro já era elevada em
2002. No entanto, aumentou ainda mais na década seguinte. Dependendo da medida, a
desigualdade na distribuição das matrículas por tamanho da instituição aumentou
substancialmente entre 2002 e 2016. Esse aumento foi impulsionado, principalmente, por uma
combinação entre educação a distância e privatização, como apontam os resultados.
O crescimento muito concentrado mudou drasticamente a distribuição das matrículas
por instituições. Como resultado, a concentração do mercado disparou. A Tabela 4 apresenta
essa distribuição por tamanho das instituições, como participação no total de matrículas em
cada ano. Os resultados dessa tabela mostram que o sistema já estava muito concentrado no
início do período. O 1% maior (99% -100%) concentrou quase tantas matrículas (16%) quanto
a soma de todas as matrículas nos 80% das instituições menores (19%). Em 2007, esta situação
agravou-se, sendo a percentagem de matrículas no 1% maior já superior à das 80% menores
instituições. A concentração continuou aumentando ao longo de todo o período, exceto em
2008, possivelmente devido ao artefato mencionado acima.
19
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Tabela 4
Distribuição das matrículas por tamanho da instituição, como percentual das
matrículas totais, Brasil, 2002-2016
Tamanho
Ano 0%- 80%- 90%- 95%- 99%- Total Total
80% 90% 95% 99% 100% % matrículas
2002 20% 16% 20% 28% 16% 100% 3.441.802
2003 20% 15% 19% 29% 17% 100% 3.841.137
2004 21% 15% 18% 29% 18% 100% 4.115.712
2005 21% 14% 18% 28% 19% 100% 4.447.556
2006 21% 14% 17% 28% 20% 100% 4.751.720
2007 21% 14% 17% 26% 22% 100% 5.106.395
2008 20% 13% 16% 26% 24% 100% 5.674.486
2009 19% 13% 15% 28% 24% 100% 5.762.292
2010 20% 14% 15% 28% 23% 100% 6.179.802
2011 20% 14% 15% 28% 22% 100% 6.544.832
2012 21% 14% 15% 27% 24% 100% 6.836.394
2013 21% 14% 14% 26% 25% 100% 7.115.020
2014 20% 14% 14% 26% 26% 100% 7.632.045
2015 20% 14% 14% 26% 26% 100% 7.821.048
2016 19% 14% 14% 26% 27% 100% 7.840.404
Fonte: Censo da Educação Superior, 2002-2016, INEP, microdados
Não surpreende que a desigualdade na distribuição de matrículas por tamanho das
instituições no Brasil tenha aumentado significativamente entre 2002 e 2016. Há dominância
de Lorenz entre os anos iniciais e finais (o que significa que todas as medidas mais comuns de
desigualdade identificariam um aumento na concentração). O valor desse aumento depende, é
claro, da medida usada. A fração de matrículas no 1% no topo e o coeficiente de variação
apontam para aumentos de 67% e 70%, respectivamente. Ambos são muito sensíveis à
concentração na parte mais alta da distribuição. O coeficiente de Gini, que é mais sensível às
mudanças nas partes inferiores da distribuição, mostra um aumento de 4%. Pelo índice de
Theil-T, que apresenta sensibilidade intermediária, a desigualdade aumentou 27% (não
mostrado nas tabelas, exceto para o Theil-T na Tabela 5).
Os motores do aumento da desigualdade são mostrados na Tabela 5. Esta tabela
decompõe a desigualdade, medida pelo índice Theil-T, em subgrupos. A decomposição é
aditiva, de forma que a contribuição da matrícula no ensino privado é a soma da contribuição
20
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
das matrículas privadas presenciais e das matrículas privadas a distância, e assim por diante. Na
Tabela 5, a educação presencial e a distância estão aninhadas nas categorias Pública e Privada,
mas, alternativamente, a contribuição total, por exemplo, da educação a distância, poderia ser
obtida somando as colunas EaD Pública e EaD Privada.
Table 5
Componentes da Desigualdade na distribuição das matrículas, por tamanho das
instituições, como um percentual do total. Brasil, 2002-2016, Theil- T
Pública Privada Total
Theil - Theil - Theil - T
Ano Presencial EaD Subtotal Presencial EaD Subtotal T % T Variação
2002 38% 1% 39% 61% 0% 61% 100% 1,17 100%
2003 38% 1% 39% 61% 0% 61% 100% 1,20 103%
2004 37% 1% 38% 62% 0% 62% 100% 1,19 102%
2005 34% 1% 35% 63% 2% 65% 100% 1,21 103%
2006 32% 1% 32% 62% 6% 68% 100% 1,23 106%
2007 28% 3% 31% 58% 10% 69% 100% 1,26 108%
2008 24% 13% 37% 47% 17% 63% 100% 1,36 117%
2009 25% 5% 30% 45% 25% 70% 100% 1,37 118%
2010 25% 5% 30% 44% 27% 70% 100% 1,34 115%
2011 26% 4% 30% 42% 28% 70% 100% 1,33 114%
2012 24% 3% 28% 40% 33% 72% 100% 1,36 116%
2013 23% 2% 26% 40% 34% 74% 100% 1,37 118%
2014 21% 2% 23% 39% 38% 77% 100% 1,42 122%
2015 20% 2% 22% 39% 39% 78% 100% 1,44 123%
2016 21% 2% 22% 36% 42% 78% 100% 1,47 126%
Fonte: Censo da Educação Superior, 2002-2016, INEP, microdados
Nota: Desigualdade medida pelo índice de Theil-T
A concentração do mercado de ensino superior no Brasil aumentou principalmente
devido a uma combinação entre privatização e educação a distância. Mais especificamente, a
educação privada a distância foi o principal fator de concentração. Em 2002, o setor privado
contribuiu com 60% de toda a desigualdade; quatorze anos depois, respondeu por 77% dela,
um aumento substancial para um mercado que já era muito concentrado no início do período
analisado. O papel da educação privada a distância na concentração das matrículas passou de
zero para 40%, superando a contribuição de qualquer outra fonte de concentração em 2016.
21
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
A educação a distância foi majoritariamente uma estratégia do setor privado. A
contribuição da educação pública a distância para a concentração sempre foi relativamente
pequena, mesmo durante os períodos de expansão. Se desconsiderarmos a potencial anomalia
na série do ano de 2008, a contribuição da educação pública a distância para a concentração
das matrículas nunca foi superior a 5%. Toda a rede pública perdeu relevância na desigualdade
da distribuição de matrículas entre instituições de ensino superior, passando de 40% no início
do período para 23% em 2016.
O mesmo pode ser dito sobre o aumento da privatização: ela teve seu papel, mas foi a
maior concentração dentro do setor privado associada à EaD que aumentou a concentração
das matrículas. O aumento da participação do setor privado não foi tão substancial. Em 2002,
o setor privado respondia por 70% de todas as matrículas; em 2016, essa participação era de
76%. No entanto, a mudança foi na modalidade de ensino: em 2002, a educação privada a
distância era próxima de zero; em 2016, da participação de 76% do setor privado, 59% foram
matrículas em cursos presenciais e 17% na educação a distância (não constam nas tabelas).
Associação com os principais eventos
O presente estudo não identifica causalidade em termos estritos, mas é possível
associar a concentração do crescimento a alguns eventos relevantes. O primeiro deles é a
desregulamentação do setor privado em meados da década de 1990. A desregulamentação por
si mesma pode não expandir um sistema educacional, mas no Brasil foi um passo crucial para
permitir a expansão das matrículas no sistema privado nos anos 2000. O segundo, e
potencialmente o mais importante, é o aumento dos subsídios à educação privada. Isso
expandiu o grupo de alunos-consumidores e permitiu que as instituições privadas
respondessem com uma oferta maior.
A partir de 1999, o sistema privado passou a ser altamente subsidiado pelo FIES e, em
2005, foi criado um programa de subsídio adicional, o PROUNI. Em 2006, 31% de todo o
crescimento de matrículas no período 2002-2016 já havia ocorrido, 17% dos quais nas 5%
maiores instituições (Tabela 3). Neste ano, quase metade de todas as matrículas estavam nas
5% maiores instituições. Para as instituições com fins lucrativos, a expansão e as fusões
tornaram-se uma forma de absorver uma parcela maior dos subsídios e, ao mesmo tempo,
controlar o mercado.
22
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Conforme visto nas Tabelas 4 e 5, um terceiro evento está associado ao aumento da
concentração das matrículas após 2005: a educação a distância. O aumento torna-se substancial
em 2006, ano seguinte à desregulamentação da EaD. É esperada alguma defasagem entre a
autorização legal e as matrículas nos cursos regulares, mas no caso da educação a distância a
resposta foi quase imediata. Em um período de quatro anos, entre 2005 e 2009, a educação a
distância no setor privado cresceu cerca de nove vezes, passando de 1,3% para 11,2% do total
de matrículas. A EaD foi essencialmente uma estratégia de instituições privadas. Em 2016,
19% do total de matrículas estavam na educação a distância, sendo 17% no setor privado (não
mostrado nas tabelas).
Implementada principalmente no segmento com fins lucrativos do sistema, a educação
a distância tornou-se uma forma de ampliar o alcance e expandir as matrículas a um custo
baixo. A abertura de novos cursos EaD era estritamente regulada pelo governo e isso deu uma
vantagem competitiva às grandes instituições já estabelecidas. Barreiras de mercado, como a
economia de escala e os altos investimentos em publicidade, limitaram a entrada no mercado
de ensino superior e reduziram a concorrência. É possível ver na Tabela 4 as mudanças na
concentração e na Tabela 5 um claro aumento na desigualdade impulsionada pela educação
privada a distância.
Em 2007, o Brasil começa a expandir sua rede pública de ensino superior, primeiro
com o REUNI - voltado para a ampliação da infraestrutura e aproveitamento de sua
capacidade, inclusive noturna, e com a ampliação do ensino profissionalizante na Rede
Tecnológica Federal. Como mesmo as maiores universidades públicas tendem a ser menores
do que as mega universidades privadas, o REUNI e a expansão da Rede Tecnológica Federal
potencialmente poderiam reduzir a concentração no sistema. No entanto, não há indícios de
que esses programas tenham tido grande impacto na concentração da distribuição das
matrículas por tamanho da instituição, pelo menos em termos relativos, como mostra a Tabela
5.
A expansão da rede pública foi modesta quando comparada ao crescimento do setor
privado. Como resultado, a participação das instituições públicas no total de matrículas do
ensino superior brasileiro caiu de 30% para 24%. Pelo menos em termos relativos, a EaD não
23
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
foi uma estratégia na rede pública. As matrículas na educação pública à distância passaram de
1,0% do total em 2002 para 1,5% em 2016.
Uma recessão econômica seguida de intensa instabilidade política em 2014 desacelerou
a expansão das matrículas nos dois anos seguintes. Não obstante, o processo de concentração
em instituições maiores foi mantido. No total, 80% das instituições responderam por 17% de
todo o crescimento entre 2002 e 2016, enquanto o 1% de maiores instituições respondeu por
mais do que o dobro, 36% (Tabela 3). Como sugere a decomposição da Tabela 5, a principal
força motriz desse crescimento altamente concentrado foi a educação privada a distância.
Conclusão
Neste estudo, mostramos que a diversificação de segmentos que compõem o sistema
de ensino superior brasileiro está associada ao aumento da concentração e à oligopolização do
mercado. Em termos de heterogeneidade, tanto a diversidade quanto a concentração
aumentaram. Ao menos potencialmente, isso pode ter reduzido as opções dadas aos
estudantes, mas nossos resultados não permitem quaisquer conclusões fortes neste sentido.
Entre 2002 e 2016, a história de expansão do ensino superior no Brasil é uma história
de alto crescimento e alta concentração em grandes instituições. Os dados dos Censos do
Ensino Superior mostram que as matrículas cresceram consideravelmente, mais do que
dobrando de tamanho em 14 anos. As instituições de todos os tamanhos cresceram, mas a
expansão foi mais intensa nas maiores. O crescimento no 1% de maiores instituições foi maior
do que todo o crescimento entre os 90% de instituições menores. Do total de expansão das
matrículas, 60% ocorreram nos 5% de instituições de maior tamanho.
O mercado educacional já era muito concentrado no início do período, mas a
desigualdade na distribuição das matrículas por tamanho das instituições no Brasil aumentou
ainda mais. Houve uma redistribuição substancial das instituições de porte médio-grande para
as muito grandes, resultando na formação de oligopólios no mercado educacional. A
concentração do mercado deveu-se principalmente a uma combinação de privatização e
educação a distância. A educação privada a distância foi o principal indutor da concentração
24
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
das matrículas em poucas instituições. Ao final do período, o setor privado contribuiu com
77% de toda a desigualdade e a educação privada a distância, sozinha, com 40% dela.
Essa concentração está associada a uma combinação de fortes subsídios à educação
privada (FIES e PROUNI) e uma desregulamentação pró-mercado com algumas características
que criaram barreiras regulatórias e de mercado à entrada de novas instituições. A expansão das
redes públicas de ensino - tanto regulares, com REUNI, quanto cursos profissionalizantes com
a Rede Tecnológica Federal - não teve papel preponderante no crescimento ou na
desigualdade.
Referências
Almeida, W. M. de. (2019). About the end of free public Higher Education in Brazil. Cadernos
de Pesquisa, 49(173), 10–27. https://doi.org/10.1590/198053146494
Amaral, A., & Magalhães, A. (2001). On markets, autonomy and regulation the Janus Head
revisited. Higher Education Policy, 14(1), 7–20. https://doi.org/10.1016/S0952-
8733(00)00028-3
Bênia, G. C. (2016). Atos de Concentração no Mercado de Prestação de Serviços de Ensino Superior
(Cadernos do Cade, p. 65). Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade.
Birnbaum, R. (1983). Maintaining diversity in higher education. Jossey-Bass.
Bowl, M. (2018). Diversity and Differentation, Equity and Equality in a Marketised Higher
Education System. In M. Bowl, C. McCaig, & J. Hughes (Orgs.), Equality and
Differentiation in Marketised Higher Education. A New Level Playing Field? (p. 1–20). Palgrave
Mamillan.
25
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Brint, S., & Karabel, J. (1991). The Diverted Dream: Community Colleges and the Promise of Educational
Opportunity in America, 1900-1985. Oxford University Press, USA.
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=272885
Carvalho, C. H. A. de. (2013). A mercantilização da educação superior brasileira e as estratégias
de mercado das instituições lucrativas. Revista Brasileira de Educação, 18(54), 761–776.
https://doi.org/10.1590/S1413-24782013000300013
Corbucci, P. R., Kubota, L. C., & Meira, A. P. B. (2016). Reconfiguração estrutural da educação
superior privada no Brasil: Nova fase da mercantilização do ensino (Textos para discussão, n.
2256, p. 35). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -Ipea.
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2256.pdf
Costa, J., Silveira, F. G. S., Costa, R., & Waltenberg, F. (2021). Expansão da educação superior e
progressividade do investimento público (Textos para discussão, n. 2631, p. 38). Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada -Ipea.
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2631.pdf
Cunha, L. A. (2003). O ensino superior no octênio FHC. Educação & Sociedade, 24(82), 37–61.
https://doi.org/10.1590/S0101-73302003000100003
Dakka, F. (2015). Differentiation without Diversity: The Political Economy of Higher
Education Transformation. In J. Huisman, H. de Boer, D. Dill, & M. Souto-Otero
(Orgs.), The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance (p.
323–341). Springer.
Fairweather, J. S. (2000). Diversification or homogenization: How markets and governments
combine to shape American higher education. Higher Education Policy, 13(1), 79–98.
https://doi.org/10.1016/S0952-8733(99)00027-6
26
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Feres Júnior, J., & Daflon, V. T. (2014). Políticas da igualdade racial no ensino superior.
Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, 5, p.-3-43.
Harris, M. S., & Ellis, M. K. (2020). Measuring changes in institutional diversity: The US
context. Higher Education, 79(2), 345–360. https://doi.org/10.1007/s10734-019-00413-
Huisman, J. (1995). Differentiation and Diversity in Higher Education Systems. Center for Higher
Education Policy Studies, University of Twente.
Huisman, J. (1998). Differentiation and Diversity in Higher Education Systems. In J. C. Smart
(Org.), Higher education handbook of theory and research (Vol. 13). Agathon Press.
Huisman, J. (2000). Higher education institutions: As different as chalk and cheese? Higher
Education Policy, 13(1), 41–53. https://doi.org/10.1016/S0952-8733(99)00029-X
Huisman, J. (2016). Institutional diversity in higher education, institutional profiling. In P.
Teixeira & J. C. Shin, Encyclopedia of international higher education systems and institution (p. 1–
8). Springer.
Huisman, J., Meek, L., & Wood, F. (2007). Institutional Diversity in Higher Education: A
Cross-National and Longitudinal Analysis. Higher Education Quarterly, 61(4), 563–577.
https://doi.org/10.1111/j.1468-2273.2007.00372.x
Iannelli, C., Gamoran, A., & Paterson, L. (2018). Fields of study: Horizontal or vertical
differentiation within higher education sectors? Research in Social Stratification and
Mobility, 57, 11–23. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2018.06.004
INEP, I. N. de E. e P. E. A. T. (2017). Instruções para utilização dos Microdados do Censo da Educação
Superior.
27
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Jungblut, J., & Vukasovic, M. (2018). Not all markets are created equal: Re-conceptualizing
market elements in higher education. Higher Education, 75(5), 855–870.
https://doi.org/10.1007/s10734-017-0174-5
Kolster, R., & Westerheijden, D. (2020). Understanding Convergence and Divergence in the
Internationalization of Higher Education from a World Society Perspective. Convergence
and Diversity in the Governance of Higher Education: Comparative Perspectives, 156–183.
https://doi.org/10.1017/9781108669429.007
Levy, D. (2015). For-profit versus Nonprofit Private Higher Education. International Higher
Education, 54. https://doi.org/10.6017/ihe.2009.54.8414
Levy, D. (2018). Global private higher education: An empirical profile of its size and
geographical shape. Higher Education, 76(4), 701–715. https://doi.org/10.1007/s10734-
018-0233-6
Marteleto, L., Marschner, M., & Carvalhaes, F. (2016). Educational stratification after a decade
of reforms on higher education access in Brazil. Research in Social Stratification and
Mobility, 46, 99–111. https://doi.org/10.1016/j.rssm.2016.08.004
Martins, C. B. (2009). A reforma universitária de 1968 e a abertura para o ensino superior
privado no Brasil. Educação & Sociedade, 30(106), 15–35.
https://doi.org/10.1590/S0101-73302009000100002
Meek, V. L., Geodegebuure, L., Kivinen, O., & Rinne, R. (Orgs.). (1996). The mockers and
mocked: Comparative perspectives on differentiation, convergence, and diversity in higher education (1st
ed). Published for the IAU Press [by] Pergamon.
Meek, V. L., Goedegebuure, L., & Huisman, J. (2000). Understanding diversity and
differentiation in higher education: An overview. Higher Education Policy, 13, 1–6.
28
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Meier, V., & Schiopu, I. (2020). Enrollment expansion and quality differentiation across higher
education systems. Economic Modelling, 90, 43–53.
https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.04.020
Morphew, C. C. (2009). Conceptualizing Change in the Institutional Diversity of U.S. Colleges
and Universities. The Journal of Higher Education, 80(3), 243–269. JSTOR.
Neave, G. (2000). Diversity, differentiation and the market: The debate we never had but
which we ought to have done. Higher Education Policy, 13(1), 7–21.
https://doi.org/10.1016/S0952-8733(99)00031-8
Neves, C. E. B. (2003). Diversificação do sistema de educação terciária: Um desafio para o
Brasil. Tempo Social, 15(1). https://doi.org/10.1590/S0103-20702003000100002
OECD. (1999). Classifying educational programmes: Manual for ISCED-97 implementation in OECD
countries ; 1999 edition. OECD.
Oliveira, R. P. de. (2009). A transformação da educação em mercadoria no Brasil. Educação &
Sociedade, 30(108), 739–760. https://doi.org/10.1590/S0101-73302009000300006
Prates, A. A. P., & Barbosa, M. L. de O. (2015). A expansão e as posibilidades de
democratização do ensino superior no Brasil. Caderno CRH, 28(74), 327–340.
https://doi.org/10.1590/S0103-49792015000200006
Prates, A. A. P., & Collares, A. C. M. (2014). Desigualdade e expansão do ensino superior na sociedade
contemporânea: O caso brasileiro do final do século XX ao princípio do século XXI. Fino Traço
Editora.
Rossi, F. (2009). Increased Competition and Diversity in Higher Education: An Empirical
Analysis of the Italian University System. Higher Education Policy, 22(4), 389–413.
https://doi.org/10.1057/hep.2008.33
Sampaio, H. (2000). Ensino superior no Brasil: O setor privado. Fapesp/ Hucitec.
29
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
Sampaio, H. (2014). Setor privado de ensino superior no Brasil: Crescimento, mercado e
Estado entre dois séculos. In M. L. de O. Barbosa (Org.), Ensino superior: Expansão e
democratização. 7Letras.
Schwartzman, S. (2013). Higher education, the academic profession, and economic
development in Brazil. In P. Altbach, G. Androuschak, Y. Kuzminov, M. Yudkevich,
& Reisberg (Orgs.), The global future of higher educatin and the academic profession: The BRICs
and the United States. Palgrave-Macmillan.
Segenreich, S. C. D., & Araújo Castro, A. M. D. A. (2012). A inserção da educação a distância
no ensino superior do Brasil: Diretrizes e marcos regulatórios. Revista Educação em
Questão, 42(28), 30.
Sguissardi, V. (2015). Educação Superior no Brasil. Democratização ou massificação mercantil?
Educação & Sociedade, 36(133), 867–889. https://doi.org/10.1590/ES0101-
73302015155688
Teichler, U. (2002). Diversification of higher education and the profile of the individual
institution. Higher Education Management and Policy, 14(3). https://www.oecd-
ilibrary.org/content/paper/hemp-v14-art24-en
Teichler, U. (2006). Changing Structures of the Higher Education Systems: The Increasing
Complexity of Underlying Forces. Higher Education Policy, 19(4), 447–461.
https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300133
Teichler, U. (2008). Diversification? Trends and explanations of the shape and size of higher
education. Higher Education, 56(3), 349. https://doi.org/10.1007/s10734-008-9122-8
Teixeira, P. N., Rocha, V., Biscaia, R., & Cardoso, M. F. (2012). Competition and diversity in
higher education: An empirical approach to specialization patterns of Portuguese
30
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Expansão e concentração de mercado no Brasil
institutions. Higher Education, 63(3), 337–352. https://doi.org/10.1007/s10734-011-
9444-9
van Vught, F. (2009). Diversity and Differentiation in Higher Education. In F. van Vught
(Org.), Mapping the Higher Education Landscape: Towards a European Classifi cation of Higher
Education (p. 1–16). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2249-
3_1
Wang, C., & Zha, Q. (2018). Measuring systemic diversity of Chinese universities: A clustering-
method approach. Quality & Quantity, 52(3), 1331–1347.
https://doi.org/10.1007/s11135-017-0524-5
31
Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3892300
Você também pode gostar
- Dialnet MetodosAtivosDeEnsinoPodemSerEntendidosComoRecurso 8085615Documento37 páginasDialnet MetodosAtivosDeEnsinoPodemSerEntendidosComoRecurso 8085615Lucas Eduardo FrancoAinda não há avaliações
- Sumario 2Documento17 páginasSumario 2P.a SouzaAinda não há avaliações
- Maracarneiro,+16 559 Ensaio CurriculoDocumento17 páginasMaracarneiro,+16 559 Ensaio CurriculoMarcia Helena De CARVALHOAinda não há avaliações
- Artigo Analise GastosDocumento23 páginasArtigo Analise GastosAntonio Leal SobrinhoAinda não há avaliações
- Por Que As Escolas Continuam "Laudando" AlunosDocumento16 páginasPor Que As Escolas Continuam "Laudando" AlunosBruna FrancieleAinda não há avaliações
- Fritsch, Jacobus e Vitelli - Diversificação, Mercantilização e Desempenho Da Educação Superior BrasileiraDocumento24 páginasFritsch, Jacobus e Vitelli - Diversificação, Mercantilização e Desempenho Da Educação Superior BrasileiraSergio FialhoAinda não há avaliações
- Modelos EADDocumento15 páginasModelos EADNorma MatosAinda não há avaliações
- AKKARI, Abdeljalil. Internacionalização Das Políticas Educacionais Transformações eDocumento4 páginasAKKARI, Abdeljalil. Internacionalização Das Políticas Educacionais Transformações eDyotima Dini50% (2)
- Projeto de Pesquisa LAPES - Tipologias InstitucionaisDocumento25 páginasProjeto de Pesquisa LAPES - Tipologias InstitucionaisandrehpvAinda não há avaliações
- Ofensiva Conservadora Na Educação Superior e Os Desafios À Formação em Serviço Social No BrasilDocumento20 páginasOfensiva Conservadora Na Educação Superior e Os Desafios À Formação em Serviço Social No BrasilkjmmgAinda não há avaliações
- Panorama Do Marketing No Mercado de EducaçãoDocumento37 páginasPanorama Do Marketing No Mercado de Educaçãoraquel_rybandtAinda não há avaliações
- Redes Colaborativas Na Equalização Do Conhecimento e EnsinoDocumento16 páginasRedes Colaborativas Na Equalização Do Conhecimento e EnsinoCelso MaiaAinda não há avaliações
- Patricio LangaDocumento21 páginasPatricio LangaAnselmo MatusseAinda não há avaliações
- PDF - José Roberto Paz Alves FilhoDocumento22 páginasPDF - José Roberto Paz Alves FilhoBlackafixadog MusicAinda não há avaliações
- Contemporânea 025Documento43 páginasContemporânea 025Naiss Almeida SantosAinda não há avaliações
- Catani - Crescimento Do Ensino SuperiorDocumento19 páginasCatani - Crescimento Do Ensino SuperiorRenata Neves DAinda não há avaliações
- Caderno Questões de ConcursosDocumento38 páginasCaderno Questões de Concursosedssonfm100% (2)
- Marcus Vinicius de Azevedo BragaDocumento272 páginasMarcus Vinicius de Azevedo BragaDiegoAinda não há avaliações
- Fusões e Aquisições No Mercado de Ensino Superior Uma RevisãoDocumento14 páginasFusões e Aquisições No Mercado de Ensino Superior Uma RevisãoAndré DiasAinda não há avaliações
- TRABALHO PARA o SEGUNDO LIVRO DO PNE 2024 FinalDocumento14 páginasTRABALHO PARA o SEGUNDO LIVRO DO PNE 2024 FinalFabiana NogueiraAinda não há avaliações
- Malu04,+raimunda Portugues 8652870+OKDocumento17 páginasMalu04,+raimunda Portugues 8652870+OKGilson Costa dos SantosAinda não há avaliações
- Influência Dos Organismos Internacionais Na EducaçãoDocumento13 páginasInfluência Dos Organismos Internacionais Na EducaçãoLiliane BarrosAinda não há avaliações
- A Utilização de Redes Sociais Como Estratégia de MarketingDocumento80 páginasA Utilização de Redes Sociais Como Estratégia de MarketingDesirée Silva0% (1)
- Referenciais de Qualidade em EADDocumento10 páginasReferenciais de Qualidade em EADJose PototskiAinda não há avaliações
- Estados Eficazes - Ebook - FimDocumento228 páginasEstados Eficazes - Ebook - Fimelvis oliveiraAinda não há avaliações
- Internacionalizando A ExtensaŢo Universitaěria-ArtigoDocumento19 páginasInternacionalizando A ExtensaŢo Universitaěria-ArtigoRenan De MelloAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre A Gestão Do Conhecimento Com Professores EadDocumento10 páginasUm Estudo Sobre A Gestão Do Conhecimento Com Professores Eadmaiconignoatto1903Ainda não há avaliações
- Artigo Final - Fpgo - Thainã Freire e Vitor MunizDocumento20 páginasArtigo Final - Fpgo - Thainã Freire e Vitor MunizsantinhosudAinda não há avaliações
- Controversias y Concurrencias Latinoamericanas 2219-1631: E-IssnDocumento14 páginasControversias y Concurrencias Latinoamericanas 2219-1631: E-IssnDerek HaleAinda não há avaliações
- Avaliacao Das Politicas de Expansao e deDocumento23 páginasAvaliacao Das Politicas de Expansao e deFernanda JustiAinda não há avaliações
- 2018ANAISIntercomAnaElisaeLeilaReginaHibridoR13 0368 1Documento15 páginas2018ANAISIntercomAnaElisaeLeilaReginaHibridoR13 0368 1Bruno Filipe Pereira de SousaAinda não há avaliações
- Marketing de Ensino SuperiorDocumento21 páginasMarketing de Ensino SuperiordenyseAinda não há avaliações
- O Controle Social No Financiamento Da EducaçãoDocumento15 páginasO Controle Social No Financiamento Da EducaçãoHelcimar SilvaAinda não há avaliações
- Artigo - Redes Colaborativas para Equalização Do Conhecimento e Ensino - 08mai13Documento16 páginasArtigo - Redes Colaborativas para Equalização Do Conhecimento e Ensino - 08mai13Celso MaiaAinda não há avaliações
- Fronteiras da ciência: coletânea de debates interdisciplinares - Volume 2No EverandFronteiras da ciência: coletânea de debates interdisciplinares - Volume 2Ainda não há avaliações
- Ensino Superior A Distância: Notas Sobre As Topologias Do Setor Educacional Privado No BrasilDocumento20 páginasEnsino Superior A Distância: Notas Sobre As Topologias Do Setor Educacional Privado No BrasilHenrique VianAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento8 páginasArtigoLilianeUFGAinda não há avaliações
- Acoes Estrategicas Ead PDFDocumento17 páginasAcoes Estrategicas Ead PDFAna GoesAinda não há avaliações
- Aluno Ead e Os Obstáculos A Serem SuperadosDocumento10 páginasAluno Ead e Os Obstáculos A Serem SuperadosIsabela EmerickAinda não há avaliações
- Silva2022 FATORESDocumento36 páginasSilva2022 FATORESmarlonx737314Ainda não há avaliações
- Resenha - Panorama Das Políticas Públicas Na Educação BrasileiraDocumento8 páginasResenha - Panorama Das Políticas Públicas Na Educação Brasileiradouglas sampaioAinda não há avaliações
- Competências Socioemocionais, Metacognição e Tecnologia EducacionalDocumento20 páginasCompetências Socioemocionais, Metacognição e Tecnologia EducacionalpedroarteAinda não há avaliações
- Sobre A Autonomia Do Estudante Na EducacDocumento9 páginasSobre A Autonomia Do Estudante Na EducacRenatoAinda não há avaliações
- Marco TulioDocumento19 páginasMarco TulioMatheus ViniciusAinda não há avaliações
- Ed61 Educação Por Evidências Abr23Documento13 páginasEd61 Educação Por Evidências Abr23Patricia Andrade da SilveiraAinda não há avaliações
- Desafios da educação superior: Políticas públicas e gestãoNo EverandDesafios da educação superior: Políticas públicas e gestãoAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR Podemos Falar em Democratização Do AcessoDocumento16 páginasEDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR Podemos Falar em Democratização Do AcessoRoberto de CarvalhoAinda não há avaliações
- Relatorio ANEC - Educacao Inclusiva - VF 1Documento81 páginasRelatorio ANEC - Educacao Inclusiva - VF 1EmersonRibeiroAinda não há avaliações
- Tese-Inclusao InterrompidaDocumento303 páginasTese-Inclusao InterrompidaJULIÉVERSON CARVALHOAinda não há avaliações
- Oimpactodaaplicaodas Tecnologiasde Informaoe Comunicaonaevoluoda Educaono BrasilDocumento17 páginasOimpactodaaplicaodas Tecnologiasde Informaoe Comunicaonaevoluoda Educaono Brasilformosa568Ainda não há avaliações
- Privatização Da Educação No Estado Da Paraíba: Uma Análise Das Políticas No Contexto Da NGPDocumento22 páginasPrivatização Da Educação No Estado Da Paraíba: Uma Análise Das Políticas No Contexto Da NGPCaio HenriqueAinda não há avaliações
- EES QuestõesDocumento38 páginasEES Questõescomprassaudejuti123Ainda não há avaliações
- 592-Texto Do Artigo-2665-2967-10-20211221Documento18 páginas592-Texto Do Artigo-2665-2967-10-20211221squadfilme0Ainda não há avaliações
- Censo SuperiorDocumento5 páginasCenso SuperiorSofia CisneirosAinda não há avaliações
- Tutoria Na Educação A DistânciaDocumento10 páginasTutoria Na Educação A DistâncialucasmerloAinda não há avaliações
- PIVETTA Et AlDocumento15 páginasPIVETTA Et AlMonica Marxsen De Aguiar RochaAinda não há avaliações
- 10 Artigo - REGMPE - 2021 - RevisadoDocumento21 páginas10 Artigo - REGMPE - 2021 - RevisadoratcostaAinda não há avaliações
- Marangoni - Um Levantamento de Publicações Sobre Internacionalização de Instituições de EnsinoDocumento9 páginasMarangoni - Um Levantamento de Publicações Sobre Internacionalização de Instituições de EnsinoAna SofíaAinda não há avaliações
- PDFDocumento10 páginasPDFlasgpoaAinda não há avaliações
- Ensino Superior Trajetoria Historica e Politicas RecentesDocumento17 páginasEnsino Superior Trajetoria Historica e Politicas RecentesGilmar JoãoAinda não há avaliações
- Estrutura e Funcionamento Da Educação Universitária No Brasil 1Documento29 páginasEstrutura e Funcionamento Da Educação Universitária No Brasil 1Lucas GuimarãesAinda não há avaliações
- Ebook Ciencia No Brasil 2022Documento93 páginasEbook Ciencia No Brasil 2022Antônio NetoAinda não há avaliações
- 4391-Texto Do Artigo-21985-21942-10-20181220Documento15 páginas4391-Texto Do Artigo-21985-21942-10-20181220Antônio MiguelAinda não há avaliações
- 3995-Texto Do Artigo-4068-1-10-20191127Documento34 páginas3995-Texto Do Artigo-4068-1-10-20191127Institute Hugo Venture BuildingAinda não há avaliações
- Ebook Ciencia No Brasil 2022Documento93 páginasEbook Ciencia No Brasil 2022Лукас АраужоAinda não há avaliações
- TCC Exmplo PDFDocumento72 páginasTCC Exmplo PDFdavid pelcAinda não há avaliações
- Gestao Dos Sistemas e Servicos de Saude GS LIVRO Miolo Grafica 11-08-10-1Documento180 páginasGestao Dos Sistemas e Servicos de Saude GS LIVRO Miolo Grafica 11-08-10-1Lucia Araújo JorgeAinda não há avaliações
- Ementa Do Curso - Formação de Servidores Da Execução PenalDocumento5 páginasEmenta Do Curso - Formação de Servidores Da Execução PenalAlcineia RodriguesAinda não há avaliações
- 2013 PaolaGiraldoHerrera VCorrDocumento243 páginas2013 PaolaGiraldoHerrera VCorrJorge rodriguezAinda não há avaliações
- Portaria Didatica (Nº18-2017)Documento28 páginasPortaria Didatica (Nº18-2017)Rafael JoaquimAinda não há avaliações
- 55685-Texto Do Artigo Ou Resenha-222740-1-10-20230919Documento6 páginas55685-Texto Do Artigo Ou Resenha-222740-1-10-20230919Adalgiza Gonçalves GobbiAinda não há avaliações
- Semiextensivoenem Redação A Dissertação Argumentativa 22-05-2018Documento12 páginasSemiextensivoenem Redação A Dissertação Argumentativa 22-05-2018Jhennifer Rolim (Jhe)Ainda não há avaliações
- Fapec 2018 Ufms Tecnico em Assuntos Educacionais ProvaDocumento20 páginasFapec 2018 Ufms Tecnico em Assuntos Educacionais ProvaThiago NilzaAinda não há avaliações
- Atividade Tipos de RaciocínioDocumento2 páginasAtividade Tipos de RaciocínioGiovaniAinda não há avaliações
- IBPG-0613-21 - 160222 - 0345 - Pedro CândidoDocumento2 páginasIBPG-0613-21 - 160222 - 0345 - Pedro CândidoPedro CândidoAinda não há avaliações
- Modelo 1 - Dec N Ocupa VagaDocumento1 páginaModelo 1 - Dec N Ocupa VagaEros MoraisAinda não há avaliações
- Estudantes Universitários e o TrabalhoDocumento31 páginasEstudantes Universitários e o Trabalhoze diogoAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Gabriela Mendes BritoDocumento3 páginasAtividade 1 - Gabriela Mendes BritoGabriela UFRGSAinda não há avaliações
- Livro Didático - Introduc - A - o EAD Miolo OnlineDocumento136 páginasLivro Didático - Introduc - A - o EAD Miolo OnlineStenio ArcelinoAinda não há avaliações
- Edital 179 21 ConvocacaoDocumento19 páginasEdital 179 21 ConvocacaoAURELINO LUIZ MACEDO NETOAinda não há avaliações
- Baniwa - Educação Escolar IndígenaDocumento15 páginasBaniwa - Educação Escolar Indígenamatheus soaresAinda não há avaliações
- Trabalho Da Katani - Pdf-CorrigidoDocumento10 páginasTrabalho Da Katani - Pdf-CorrigidoWashington FeitosaAinda não há avaliações
- Sinopse Estatistica Educação Superior 2020Documento4.346 páginasSinopse Estatistica Educação Superior 2020JORGEAinda não há avaliações
- FurgDocumento7 páginasFurgDiretoria Oncoliga UNEMATAinda não há avaliações
- EDITALDocumento13 páginasEDITALKarlla AraujoAinda não há avaliações
- Inbound 8646522560224378274Documento74 páginasInbound 8646522560224378274Clara ValencioAinda não há avaliações
- Políticas de Saúde No BrasilPESQUISAVEL PDFDocumento313 páginasPolíticas de Saúde No BrasilPESQUISAVEL PDFhel-lopesAinda não há avaliações
- SIPROQUIM - Cadastro e Licença - Polícia FederalDocumento20 páginasSIPROQUIM - Cadastro e Licença - Polícia Federalaquarius10Ainda não há avaliações
- Anais Ensus 2017Documento1.702 páginasAnais Ensus 2017Dominique Barros0% (1)