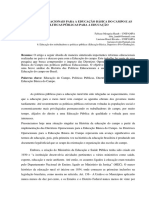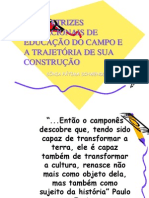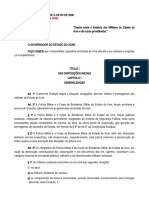Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Educacao - Campo - Indigena - Livro
Educacao - Campo - Indigena - Livro
Enviado por
Iury RaianTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Educacao - Campo - Indigena - Livro
Educacao - Campo - Indigena - Livro
Enviado por
Iury RaianDireitos autorais:
Formatos disponíveis
9
Educação do Campo e
Educação Indígena
A Educação do Campo e a Educação Indígena estão intimamente ligadas aos
espaços de lutas dos movimentos sociais, pois historicamente não havia reconheci-
mento da identidade dessas escolas nem dos currículos que atendiam tais populações.
Problemas como evasão, exclusão, baixa escolarização e repetência sempre foram mais
acentuados no meio rural e para o povo indígena. Daí a necessidade de buscar progra-
mas emergenciais e políticas compensatórias a fim de minimizar tais problemas.
Neste capítulo vamos estudar a Educação do Campo, a Educação Indígena e a
legislação que fundamenta o processo de atendimento educacional para a popula-
ção indígena.
Formação docente para a diversidade 125
9 Educação do Campo e Educação Indígena
Vídeo 9.1 Educação do Campo
Na década de 1960, com o desenvolvimento industrial e a fim de conter o fluxo migrató-
rio do campo para a cidade, o Estado começou a pensar no investimento da educação rural.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, em seu art. 105, estabelece que
“os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona
rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações
profissionais”. Assim, ainda em meados de 1960 foi criada a Escola-Fazenda, fornecendo
ensino técnico agropecuário.
Dentro de um processo politizador, os trabalhadores rurais começam a ter voz em seus
sindicatos e surgem iniciativas populares de organização da educação para o campo, entre
elas, o Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Comissão Pastoral
da Terra (CPT), a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), o
Movimento Eclesial de Base (MEB), o Escolas Famílias Agrícolas (Efas), as Casas Familiares
Rurais (CFRs) e os Centros Familiares de Formação por Alternância (Cefas).
A mobilização social teve seus reflexos na Constituição Federal de 1988, que consolidou
o compromisso do Estado e da sociedade brasileira em promover a educação para todos, ga-
rantindo direito ao respeito e à adequação da educação às singularidades culturais e regio-
nais. Ao afirmar no seu art. 208 que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito pú-
blico subjetivo” (BRASIL, 1988), edificaram-se os pilares jurídicos sobre os quais viria a ser
construída uma legislação educacional capaz de sustentar o cumprimento desse direito pelo
Estado brasileiro. Dessa forma, a educação do campo passa a ser abordada como segmento
específico, recheada de implicações sociais e propostas pedagógicas próprias.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) propõe no seu artigo
28 as medidas de adequação da escola à vida do campo:
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades
da vida rural e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e
interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às
fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.
Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas
será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de
ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação,
a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade
escolar (Incluído pela Lei n. 12.960, de 2014).
Em 1998, foi criada a Articulação Nacional por uma Educação do Campo, que pro–
movia e geria ações para escolarização dos povos do campo em âmbito nacional. Desse
126 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
trabalho resultaram: a instituição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) das Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2002; a instituição do Grupo
Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT), em 2003; e duas Conferências
Nacionais por uma Educação Básica do Campo, sendo a primeira em 1998 e a segunda em
2004. O documento final da II Conferência apresentou as seguintes demandas:
• Universalização do acesso à Educação Básica de qualidade para a população bra-
sileira que trabalha e vive no e do campo, por meio de uma política pública per-
manente que inclua como ações básicas: o fim do fechamento arbitrário de escolas
no campo; a construção de escolas no campo que sejam do campo; a construção
de alternativas pedagógicas que viabilizem, com qualidade, a existência de esco-
las de Educação Fundamental e de Ensino Médio no próprio campo; a oferta de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) adequada à realidade do campo; políticas
para a elaboração de currículos e para escolha e distribuição de material didático-
-pedagógico que levem em conta a identidade cultural dos povos do campo; e o
acesso às atividades de esporte, arte e lazer.
• Ampliação do acesso e permanência da população do campo na Educação
Superior, por meio de políticas públicas estáveis.
• Valorização e formação específica de educadores do campo por meio de uma po-
lítica pública permanente.
• Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade de seus sujeitos.
A Resolução CNE/CEB n. 1 (BRASIL, 2002) dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a
Educação Básica nas escolas do campo:
[...] concepção político pedagógica, voltada para dinamizar a ligação dos seres
humanos com a produção das condições de existência social, na relação com a
terra e o meio ambiente, incorporando os povos e o espaço da floresta, da pecuá-
ria, das minas, da agricultura, os pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos, quilombolas,
indígenas e extrativistas.
Com essa resolução, há o entendimento de que as pessoas que vivem no campo têm
direito à educação diferenciada, que extrapola a noção somente de espaço geográfico e con-
sidera as necessidades culturais, dos direitos sociais e a formação integral do indivíduo.
O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (Secad), criou, em 2004, a Coordenação Geral de Educação do
Campo (CGEC), com o objetivo de elaborar políticas públicas específicas a essa população.
Em 2007, pela Portaria n. 1.258/2007, o MEC instituiu a Comissão Nacional de Educação do
Campo, órgão colegiado de caráter consultivo com a atribuição de assessorar o MEC para
realizar a elaboração de políticas públicas em Educação do Campo.
Assim, o objetivo maior da Educação do Campo é ofertar uma educação escolar que
esteja associada à produção, à cultura e aos saberes do campo, buscando ações coletivas a
fim de garantir um processo de ensino e aprendizagem com qualidade.
Nesse sentido, é importante não confundir educação rural com educação do campo,
conforme mostra o quadro a seguir.
Formação docente para a diversidade 127
9 Educação do Campo e Educação Indígena
Quadro 1 – Características de educação rural e da educação do campo.
Educação rural Educação do campo
Atendia aos interesses das oligarquias ru- Surge a partir da luta de movimentos so-
rais, que moldavam a sociedade campone- ciais para colocar como ponto central de
sa de acordo com suas necessidades. debate a identidade do homem do campo.
Escola rural sob modelo urbano, tendo Escola que tem no campo, e principalmen-
como ponto de partida que o campo era te no homem do campo, a questão central
local inferior às cidades. para elaboração das práticas pedagógicas.
Alfabetização de trabalhadores. Educação além da alfabetização.
Perda da identidade do trabalhador Valorização da identidade do homem
do campo. do campo.
Fonte: Elaborado pela autora.
Vídeo
9.2 Educação Indígena
A Educação Indígena tem algumas especificidades determinadas pela Fundação
Nacional do Índio (Funai), que foram pensadas a fim e garantir os direitos fundamentais
e de cidadania a esse povo. A Funai é um órgão federal que profere as políticas indige-
nistas e monitora sua aplicação e funcionalidade, visando sempre ao respeito e à autono-
mia dos povos indígenas diante das próprias organizações. Ela atua em áreas no campo
da Coordenação de Processos Educativos (Cope), que integra a Coordenação Geral de
Promoção da Cidadania (CGPC).
Figura 1 – Áreas de atuação da Funai.
Cope
Iniciativas de garantia
Apoio a processos de
Apoio à discussão e Monitoramento das de acesso e perma-
discussão e implemen-
elaboração de projetos políticas de Educação nência dos povos
tação de projetos de
político-pedagógicos. Indígena. indígenas no Ensino
Educação Profissional.
Superior.
Fonte: Elaborada pela autora.
Em relação ao apoio à discussão e elaboração de projetos político-pedagógicos (PPP), o
povo indígena pode expressar qual tipo de escola deseja para seus alunos, que estrutura ela
terá e que tipo de integração fará com os projetos comunitários, sempre buscando atender
aos seus interesses.
A Funai contribui com o projeto político-pedagógico quanto:
128 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
• À necessidade de assegurar os direitos à educação diferenciada aos povos
indígenas e à valorização de suas línguas, seus conhecimentos e processos
pedagógicos próprios.
• Ao entendimento de que o currículo compõe o todo do fazer escolar, e não ape-
nas a organização da matriz na qual se abrigam as disciplinas. Asim, o PPP se
constitui como elemento estruturante da vida escolar que expressa a identidade
e os projetos societários. A escola indígena deve refletir o modo de vida, a con-
cepção cultural e política de cada povo indígena e as relações intersocietárias
que mantém.
• Ao papel da escola na vida da comunidade, sua articulação com demais ações
e projetos do povo indígena, assim como sua influência em outras áreas de
atuação dos governos, tendo como pressuposto, portanto, a necessidade do
tratamento integrado de questões de territorialidade, sustentabilidade e patri-
mônio cultural.
Para implementar e discutir tais ações, a Funai atua junto às Secretarias Municipais e
Estaduais de Educação. Em relação ao monitoramento e acompanhamento das políticas de
Educação Indígena, a Funai observa a participação desse povo nas discussões de propostas,
implantação e avaliação das políticas destinadas a eles.
Nessa perspectiva, o monitoramento ocorre sobre uma ação formulada e discutida
pelos educadores indígenas e comunidades, com assessoria de educadores indigenistas
– técnicos da Funai. Dessa forma, as pessoas que atuam nessa área podem acompanhar
a execução da atividade sendo parte de sua trajetória, e não apenas fiscalizando a ação.
É importante dizer que a Funai não se configura como a única responsável pela avaliação
dos processos educativos, mas os acompanha junto aos indígenas e aos órgãos governa-
mentais e não governamentais envolvidos com a Educação Indígena.
Não podemos deixar de considerar que a intenção da Funai é a autogestão comunitária.
Para isso, ela acompanha e monitora os processos educativos realizados junto aos povos
indígenas com as seguintes perspectivas:
• Apoio às iniciativas de acompanhamento das políticas de educação escolar, e
aos diálogos interinstitucionais para elaboração e implementação de propostas
em parceria.
• Incentivo à formação de técnicos, no que diz respeito às políticas de educação, e
ao exercício das atribuições relacionadas à garantia dos direitos educacionais dos
povos indígenas.
• Apoio à formação de indígenas voltada à participação nas políticas de educação e
ao controle social.
Em relação à Educação Infantil, a Resolução n. 5, de 17 de dezembro de 2009
(BRASIL, 2009b), estabelece que ela é opcional, cabendo a cada comunidade indígena
decidir o que lhe convém.
Formação docente para a diversidade 129
9 Educação do Campo e Educação Indígena
Considerando que neste período o indivíduo se constitui enquanto parte de um
corpo social, falante de uma língua, compartilhando uma visão de mundo com o
grupo social a que pertence, muitos povos indígenas entendem que não há me-
lhor situação para uma criança na sua primeira infância do que o convívio com
os seus familiares e o aprender fazendo que a vida nas aldeias proporciona. (p. 4)
Assim, a Educação Infantil é avaliada de acordo com as condições de cada família indí-
gena, que deve decidir o ingresso ou não da criança na escola formal. O apoio e a contribui-
ção da Funai quanto a esse ensino se dão mediante:
• Colaboração aos processos de discussão sobre essa educação.
• Disponibilização de informação clara e objetiva, oferecendo subsídios para a de-
cisão das comunidades indígenas sobre sua implementação ou não nas aldeias.
• Acompanhamento e avaliação das ações em execução, tendo como condição a
consulta às comunidades e referências técnicas adequadas às especificidades dos
direitos indígenas.
Já o Ensino Fundamental é prioridade para as comunidades indígenas, desde que valo-
rizados os conhecimentos e processos pedagógicos próprios de cada povo, a língua materna,
a interculturalidade, o calendário e os currículos escolares.
O Ensino Médio, Técnico e Profissional têm número pequeno de frequência de estu-
dantes indígenas. Isso devido à falta de oferta de escolas nas aldeias e à dificuldade de
deslocamento. Outro problema diz respeito à falta de oferta de cursos em nível médio que
atendam às especificidades das comunidades – daí a necessidade de discussões com os po-
vos indígenas sobre isso. A Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras
Indígenas (PNGATI) da qual a Funai é coordenadora, tem entre seus eixos um sobre forma-
ção, que apresenta em meio às suas finalidades a execução de ações educativas de caráter
escolar e não escolar.
Nesse sentido, a participação da Funai é de:
• Apoiar processos de discussão e implementação de projetos de formação profis-
sional, com base nas demandas das comunidades indígenas.
• Dar apoio técnico e participar nas discussões de projetos pedagógicos de formação
profissional, em parceria com os Institutos Federais de Educação, e das políticas
de acesso e permanência para indígenas.
• Contribuir para a discussão e adequação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
e do Catálogo de Cursos Pronatec, buscando atender às especificidades das pro-
postas pedagógicas dos povos indígenas.
• Apoiar e participar nas etapas de extensão comunitária, visando à integração das ati-
vidades de formação aos projetos comunitários e às ações da Funai em outros setores.
As principais ações da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(Secad) do Ministério da Educação para garantir a oferta da Educação Indígena de qualida-
de são as seguintes:
130 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
• Formação inicial e continuada de professores indígenas em nível médio (ma-
gistério indígena).
• Formação de professores indígenas em nível superior (licenciaturas
interculturais).
• Produção de material didático específico em línguas indígenas, bilíngue ou
em português.
• Apoio político-pedagógico aos sistemas de ensino para a ampliação da ofer-
ta de educação escolar em terras indígenas.
• Promoção do controle social indígena.
• Apoio financeiro à construção, reforma ou ampliação de escolas indígenas.
(BRASIL, 2018)
Quanto às iniciativas de garantia do acesso e permanência de indígenas no Ensino
Superior, percebe-se que há avanços. O MEC instituiu o Prolind, que é um programa
de apoio à formação superior de professores indígenas por meio de cursos na área
das licenciaturas interculturais em Instituições de Ensino Superior públicas federais e
estaduais, que têm como objetivo formar professores para docência nos anos finais do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Há também o Termo de Cooperação e Convênios com Universidades públicas e
privadas, em todo território nacional, desde 1996. Com a criação do Programa de Bolsa
Permanência do MEC (Portaria n. 389, de 9 de maio de 2013) (BRASIL, 2013a), os es-
tudantes universitários indígenas das instituições federais passam a ter acesso à bolsa,
possibilitando sua permanência fora de suas aldeias e cidades de origem durante o
período letivo.
Vídeo 9.3 O que diz a lei sobre Educação Indígena
A legislação nacional entende que os povos indígenas devem ter uma educação
específica, já que é necessário considerar prioritariamente suas diferenças culturais
e sociais, a interculturalidade, o estudo bilíngue e multilíngue. É da competência do
Ministério da Educação (MEC) a coordenação nacional das políticas de Educação
Indígena, cabendo aos Estados e Municípios a execução para garantia desse direito
dos povos indígenas. Dentro da lei maior brasileira, a Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 1988), merecem destaque os artigos 210, 231 e 232.
O artigo 210 fixa os conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental. Há uma
preocupação em assegurar os conteúdos básicos para formação comum, porém res-
peitando os valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Vejamos os parágrafos
que se referem ao ensino religioso e de língua:
§ 1o O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.
Formação docente para a diversidade 131
9 Educação do Campo e Educação Indígena
§ 2o O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asse-
gurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.
O artigo 231 reforça aos indígenas o reconhecimento de costumes, organização social,
língua, crenças e tradições e também retoma o direito sobre a terra. Vejamos os parágrafos
do artigo que contemplam tais considerações:
§ 1o São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as impres-
cindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e
as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes
e tradições.
§ 2o As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas existentes.
§ 3o O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéti-
cos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma
da lei.
§ 4o As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direi-
tos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5o É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad referen-
dum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em
risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo
que cesse o risco.
§ 6o São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo,
ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existen-
tes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito à indenização ou a
ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa-fé. (BRASIL, 1988)
Já o artigo 232 legitima os indígenas e suas comunidades a ingressar em juízo em defe-
sa de seus direitos e interesses, com interferência do Ministério Público em todos os atos e
processos.
Vale mencionar ainda o Decreto n. 26 (BRASIL, 1991), que dispõe sobre a Educação
Indígena no Brasil. Ele atribui ao Ministério da Educação a competência para coordenar as
ações referentes à Educação Indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino.
A Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) afirma no seu artigo 78 que o sistema de ensino da União,
com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios,
132 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar
bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:
I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de
suas línguas e ciências;
II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades
indígenas e não índias.
O artigo 79 determina que compete à União o apoio técnico e financeiro aos sistemas de
ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa.
Já a Lei n. 11.645 (BRASIL, 2008) altera a Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996), modificada pela
Lei n. 10.639 (BRASIL, 2003), que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e
cultura afro-brasileira e indígena”.
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, pú-
blicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasi-
leira e indígena.
§ 1° O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspec-
tos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira,
a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e
dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra
e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, res-
gatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes
à história do Brasil.
§ 2° Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos in-
dígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (NR)
O Decreto n. 6.861 (BRASIL, 2009a) institui a organização da Educação Indígena em
territórios etnoeducacionais, definindo que:
Cada território etnoeducacional compreenderá, independentemente da divisão
político-administrativa do País, as terras indígenas, mesmo que descontínuas,
ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracteriza-
das por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações lin-
guísticas, valores e práticas culturais compartilhados.
Ainda de acordo com esse decreto (art. 2°), são objetivos da Educação Indígena (art. 2°):
I – valorização das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de
sua diversidade étnica;
II – fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada co-
munidade indígena;
Formação docente para a diversidade 133
9 Educação do Campo e Educação Indígena
III – formulação e manutenção de programas de formação de pessoal especiali-
zado, destinados à educação escolar nas comunidades indígenas;
IV – desenvolvimento de currículos e programas específicos, neles incluindo os
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
V – elaboração e publicação sistemática de material didático específico e dife-
renciado; e
VI – afirmação das identidades étnicas e consideração dos projetos societários
definidos de forma autônoma por cada povo indígena.
A Lei n. 12.711 (BRASIL, 2012c) dispõe sobre o ingresso nas universidades federais
e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências.
O art. 6° determina que o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, serão responsáveis pelo
acompanhamento e pela avaliação do programa de que trata essa Lei, ouvida a Fundação
Nacional do Índio (Funai).
O Decreto n. 7.747 (BRASIL, 2012a), de 5 de junho de 2012, institui a Política Nacional de
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI. O art. 4°, eixo 7, indica a ca-
pacitação, formação, o intercâmbio e a Educação Ambiental, promovendo ações voltadas ao
reconhecimento profissional, à capacitação e à formação de indígenas para gestão territorial
e ambiental no Ensino Médio, no Ensino Superior e na Educação Profissional e Continuada.
Indica, além disso, capacitar, equipar e conscientizar os povos indígenas para prevenção e
controle de queimadas e incêndios florestais; promover e estimular intercâmbios nacionais
e internacionais entre povos indígenas para troca de experiências sobre gestão territorial e
ambiental, proteção da agrobiodiversidade e outros temas pertinentes à PNGATI.
Ao mesmo tempo, a Resolução CEB/CNE n. 5 (BRASIL, 2012b), define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Indígena na Educação Básica. No artigo 14, pará-
grafos 3° e 6°, determina-se que na Educação Especial, na Educação do Campo, na Educação
Indígena, na Educação Quilombola, na Educação a Distância e de pessoas em regime de
acolhimento ou internação e de privação de liberdade, devem ser observadas as respectivas
diretrizes e normas nacionais que estão pautadas pelos princípios da igualdade social, da
diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade.
A Portaria do Ministério da Educação n. 389, de 9 de maio de 2013 (BRASIL, 2013a), que
cria o Programa Nacional de Bolsa Permanência para estudantes de graduação ingressantes
em universidades e institutos federais, viabiliza, no artigo 3º, a permanência no curso de
graduação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os
indígenas e quilombolas, e oferece bolsas de iniciação científica.
Já a Portaria GM/MEC n. 1.062, de 30 de outubro de 2013 (BRASIL, 2013b), institui o
Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais (PNTEE), que consiste em um conjun-
to articulado de ações de apoio técnico e financeiro do MEC aos sistemas de ensino, para
organização e fortalecimento da Educação Indígena, conforme disposto no Decreto n. 6.861,
de 27 de maio de 2009 (BRASIL, 2009a).
O Decreto n. 9.010, de 23 de março de 2017 (BRASIL, 2017), dispõe sobre o Estatuto da
Funai. Ela é uma fundação pública instituída em conformidade com a Lei n. 5.371, de 5 de
134 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
dezembro de 1967 (BRASIL, 1967), vinculada ao Ministério da Justiça, tendo sede e foro no
Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional e prazo de duração indeterminado.
A Funai tem por finalidade:
I – proteger e promover os direitos dos povos indígenas, em nome da União;
II – formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da polí-
tica indigenista do Estado brasileiro, [...]
III – administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles cuja ges-
tão tenha sido atribuída aos indígenas ou às suas comunidades, conforme
o disposto no art. 29, podendo também administrá-los por expressa dele-
gação dos interessados;
IV – promover e apoiar levantamentos, censos, análises, estudos e pesquisas
científicas sobre os povos indígenas visando à valorização e à divulgação de
suas culturas;
V – monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas;
VI – monitorar as ações e serviços de educação diferenciada para os
povos indígenas;
VII – promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas,
conforme a realidade de cada povo indígena;
VIII – despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo
para a causa indígena; e
IX – exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas.
(BRASIL, 2017)
O mesmo decreto determina as competências da Funai diante dos poderes de assistên-
cia jurídica aos povos indígenas e sua estrutura organizacional.
A educação indígena está diretamente vinculada à Funai, que acompanha os avanços e
necessidades dos povos indígenas, buscando as melhores soluções sempre considerando as
diferenças culturais e sociais, a interculturalidade.
Ampliando seus conhecimentos
AS TIC e a educação escolar indígena:
possibilidades e desafios
(FEITOSA, 2017, p. 91-94)
[...]
As TIC: possibilidades e/ou desafios na educação escolar indígena?
Nas últimas décadas o avanço e disseminação das tecnologias de informa-
ção e comunicação, vêm transformando a sociedade e instituindo novas
Formação docente para a diversidade 135
9 Educação do Campo e Educação Indígena
formas de convivência e relações setoriais no campo da economia, política,
sociedade e cultura. Este novo paradigma de interagir no espaço ciberné-
tico, também se perfaz no ambiente educacional, intermediada pela inclu-
são das TIC na perspectiva da melhoria da qualidade dos processos de
ensino e aprendizagem (LIGUORI, 1997).
A revolução tecnológica e sua disseminação global estabeleceu uma nova
representação social, um “perfil da sociedade contemporânea imersa no
mundo digital” como assevera Rosa e Silva (2014, p. 107) sobre as esferas
da vida humana, que estimulou à inclusão das TIC no sistema educacio-
nal, interconectando o uso das ferramentas tecnológicas a sala de aula,
com vistas ao avanço e melhoria dos processos educativos.
Para Guimarães e Dias (2006), as TIC apresentam-se na atmosfera educa-
cional como uma possibilidade de um fazer educativo que ofereça múlti-
plos significados, pautados em estratégias pedagógicas presumíveis para
a ampliação do acesso a informação e que contraponha o discurso mono-
lógico, da sequência linear de estruturas prontas e inertes aos movimen-
tos de uma nova ordem de comunicação.
Os autores Liguori (1997) e Barreto (2002) asseveram sobre a importância
da inclusão das TIC no ambiente escolar, reforçando o seu uso na escola
com intuito de promover nos processos de ensino e aprendizagem a cone-
xão com o mundo da múltipla e rápida informação. Enfatizando que a
escola não pode ficar recusa às transformações sociais ocorridas com a
revolução tecnológica e suas modificações nas relações sociais. Assim,
o ambiente escolar deve acompanhar os movimentos metamórficos da
sociedade contemporânea, incorporando e auxiliando os indivíduos a uti-
lizarem diversas ferramentas de informação que estão disponíveis para a
produção do conhecimento.
[...] Contudo, o ambiente escolar indígena é incorporado com adornos
convergentes de sua cultura aos procedimentos pedagógicos e operacio-
nais da escola formal, Almeida (2012), assevera a educação escolar indí-
gena, evidenciada principalmente pelos os seus impérios socioculturais,
no processo de ensinar as suas crianças, o conhecimento advindo de suas
tradições, do seu saber local, de tal modo, a representar seus cânticos,
danças, artesanatos, crenças, ciências e, sobretudo no ensinar sua filosofia
da interação do homem com a natureza, no seio do respeito mútuo.
136 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
Os indígenas concebem a educação escolar, como um ambiente de trans-
formação, assim não pode assumir um comando que neutralize a edu-
cação cultural de sua comunidade, tampouco, que continue a perpetuar
a negação da subjetividade que alimenta a sua cultura, como historica-
mente é revelada a educação indígena, marcada pelo paradigma de injun-
ção, como elenca, Paladino e Almeida (2012, pp.16-17), “assimilacionista,
integracionista e multicultural” pautados, respectivamente, na “nega-
ção da cultura; cultura transitória e aceitação da cultura, mas não a sua
valorização.
Desta forma, Borsatto (2010), Luciano (2006), Markus (2006) e Mota (2012),
apresentam a implantação da educação escolar indígena em momen-
tos historicamente distintos, iniciando a parti r do século VI até os dias
atuais, com a Promulgação da Constituição Federal. Entretanto, Markus
(2006) destaca que os modos introdutórios da educação escolar indígena,
reforçaram a violência cultural promovida pelo exercício da negação do
modo de viver do índio e pela injunção de valores da sociedade e, é nesta
perspectiva que as TIC podem ser utilizadas, não com o intuito de tentar
apagar a injunção histórica cometida aos povos indígenas, mas como pos-
sibilidade da visibilidade das populações indígenas, por meio do regis-
tro e compartilhamento do seu modo de viver e de seus pleitos culturais,
dando visibilidade a sua cultura, que é o centro dos processos educacio-
nais, pautados no ensino diferenciado, específico, bilíngue e intercultural.
[...] Nesta perspectiva, as TIC nas comunidades indígenas devem ser utili-
zadas como ferramentas de apoio e de socialização de seu modo de vida e
não para desconstrução da identidade do índio, como menciona Renesse
(2015) em que as comunidades indígenas visualizam o uso da internet,
como uma possibilidade indispensável para a transmissão de suas ideias
e processos culturais, tornando-se um dispositivo de comunicação funda-
mental para os que antes não tinha voz e nem evidência nas mídias.
[...] Nesta perspectiva, as comunidades indígenas ao conectarem nessa
nova ordem de relação social instrumentalizada pelas TIC também estão
sujeitas a transformação em suas relações de convívio individual e cole-
tivo, principalmente nos processos educacionais, como corrobora Costa
(2011, p. 7) “o contato tecnológico, uma vez realizado, estabelece uma
nova e irreversível ordem para as sociedades indígenas.
Formação docente para a diversidade 137
9 Educação do Campo e Educação Indígena
Atividades
1. Quais são as adaptações necessárias para a Educação do Campo?
2. Qual o papel da Fundação Nacional do Índio (Funai)?
3. De acordo com nossa legislação vigente, em qual língua os professores devem minis-
trar as aulas para os alunos indígenas?
Referências
BRASIL. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 27 dez. 1961. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L4024.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967. Autoriza a instituição da “Fundação Nacional do
Índio” e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 6 dez. 1967.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5371.htm>. Acesso em: 13 mar.
2018.
_____. Constituição (1988). Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 13
mar. 2018.
_____. Ministério da Educação. Decreto n. 26, de 4 de fevereiro de 1991. Dispõe sobre a Educação
Indígena no Brasil. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 fev. 1991. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0026.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 2002. Institui
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 9 abr. 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=13800-rceb001-02-pdf&category_slug=agosto-2013-
pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino
a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 10 jan. 2003. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mo-
dificada pela Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 11
mar. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>.
Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Decreto n. 6.861, de 27 de maio de 2009. Dispõe sobre a Educação Escolar Indígena, define
sua organização em territórios etnoeducacionais, e dá outras providências. Diário Oficial da União,
138 Formação docente para a diversidade
Educação do Campo e Educação Indígena 9
Poder Executivo, Brasília, DF, 28 maio 2009a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2009/decreto/d6861.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Ministério da Educação. Resolução n. 5, de 17 de dezembro de 2009. Fixa as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2009b.
Disponível em: <http://www.seduc.ro.gov.br/portal/legislacao/RESCNE005_2009.pdf>. Acesso em: 13
mar. 2018.
_____. Decreto n. 7.747, de 5 de junho de 2012. Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder
Executivo, Brasília, DF, 6 jun. 2012a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/decreto/d7747.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n. 5, de 22 de junho de 2012. Define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília,
DF, 25 jun. 2012b. Disponível em: <http://mobile.cnte.org.br:8080/legislacao-externo/rest/lei/86/pdf>.
Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e
nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Diário Oficial da
União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 30 ago. 2012c. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Ministério da Educação. Portaria n. 389, de 9 de maio de 2013. Cria o Programa de Bolsa Permanência
e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 maio 2013a. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/docman/programas-e-acoes/programa-bolsa-permanencia/68911-portaria-389-09052013/file>.
Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Ministério da Educação. Portaria n. 1.062, de 30 de outubro de 2013. Institui o Programa
Nacional dos Territórios Etnoeducacionais – PNTEE. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 out.
2013b. Disponível em: <http://www.lex.com.br/legis_25017657_PORTARIA_N_1062_DE_30_DE_
OUTUBRO_DE_2013.aspx>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Lei n. 12.960, de 27 de março de 2014. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que esta-
belece as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer constar a exigência de manifestação de ór-
gão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas.
Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 mar. 2014. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12960.htm>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Decreto n. 9.010, de 23 de março de 2017. Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, remaneja
cargos em comissão, substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores
– DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo – FCPE e revoga o Decreto n. 7.778, de 27
de julho de 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 mar. 2017. Disponível em: <http://www2.
camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9010-23-marco-2017-784493-publicacaooriginal-152195-
pe.html>. Acesso em: 13 mar. 2018.
_____. Ministério da Educação. Educação indígena. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/educacao-
indigena>. Acesso em: 13 mar. 2018.
FEITOSA, L. B. As TIC’s e a educação escolar indígena: possibilidades e desafios. Humanidades & Inovação,
v. 4, n. 4, nov. 2017. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/
view/389>. Acesso em: 13 mar. 2018.
FUNAI – Fundação Nacional do Índio. Educação escolar indígena. Disponível em: <http://www.
funai.gov.br/index.php/educacao-escolar-indigena?start=6>. Acesso em: 13 mar. 2018.
Formação docente para a diversidade 139
Você também pode gostar
- Gestão Da Inovação e Do ConhecimentoDocumento4 páginasGestão Da Inovação e Do ConhecimentoVinicius PazziAinda não há avaliações
- Edu Cacao CampoDocumento81 páginasEdu Cacao CampoPós-graduando SilvaAinda não há avaliações
- As Tecnologias e A Verdadeira InovaçãoDocumento5 páginasAs Tecnologias e A Verdadeira InovaçãoLizete Maria P. De LimaAinda não há avaliações
- Aeducaonocampo2 160925000314Documento40 páginasAeducaonocampo2 160925000314BENILDE DE NAZARE LAMEIRA ROSAAinda não há avaliações
- Fabiane Mesquita Haudt e Luciano Brasil RivattoDocumento11 páginasFabiane Mesquita Haudt e Luciano Brasil RivattoIzabela NascimentoAinda não há avaliações
- Slide ApresentaçãoDocumento16 páginasSlide ApresentaçãomaianeAinda não há avaliações
- EDUCAÇAO DO CAMPO - Parecer DOEBEC - PPT - 2Documento44 páginasEDUCAÇAO DO CAMPO - Parecer DOEBEC - PPT - 2janeglaucenedelAinda não há avaliações
- Educacao Do Campo-Algumas Consideracoes A Partir Do Olhar GeograficoDocumento12 páginasEducacao Do Campo-Algumas Consideracoes A Partir Do Olhar GeograficoreisgracianaAinda não há avaliações
- Texto 10 Grupo 1 - 5 Encontro Diretrizes Curriculares Da Educacao Do Campo 14 34Documento22 páginasTexto 10 Grupo 1 - 5 Encontro Diretrizes Curriculares Da Educacao Do Campo 14 34Ana GobettiAinda não há avaliações
- A História de PoçõesDocumento37 páginasA História de PoçõesGizelia Martins SilvaAinda não há avaliações
- 10 - A Educação Do Campo, Marcos Histórico e NormativoDocumento4 páginas10 - A Educação Do Campo, Marcos Histórico e NormativoJoãoColtoAinda não há avaliações
- Texto Base Educação Do CampoDocumento11 páginasTexto Base Educação Do Camposergio_jp7Ainda não há avaliações
- Atividade 2 Ana Forma CampoDocumento6 páginasAtividade 2 Ana Forma CampoAna Elisia Alves de SouzaAinda não há avaliações
- R - e - Miriam Rosa TorresDocumento15 páginasR - e - Miriam Rosa TorresAnne de FreitasAinda não há avaliações
- POR UMA EDUCAO DO CAMPO - Percursos Histricos e Possibilidades - Astrogildo F. Da Silva Jnior e Mrio BorgasDocumento16 páginasPOR UMA EDUCAO DO CAMPO - Percursos Histricos e Possibilidades - Astrogildo F. Da Silva Jnior e Mrio BorgasRenato WaiandtAinda não há avaliações
- Marco Legal Da Educação Do CampoDocumento59 páginasMarco Legal Da Educação Do CampoPaulo Roberto100% (1)
- Educação Do CampoDocumento10 páginasEducação Do CampoFranco JorgeAinda não há avaliações
- A Atual Política de Educação Especial Na Perspectiva Da Educação InclusivaDocumento4 páginasA Atual Política de Educação Especial Na Perspectiva Da Educação InclusivaDaniel SouzaAinda não há avaliações
- Educação Do Campo: Alternativas Metodológicas para Uma Prática Educacional de QualidadeDocumento16 páginasEducação Do Campo: Alternativas Metodológicas para Uma Prática Educacional de QualidadeJainara BragaAinda não há avaliações
- Floresta Agenda Diária SlideDocumento19 páginasFloresta Agenda Diária SlideJessica MenezesAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento6 páginas1 PBbrito.lAinda não há avaliações
- Artigo Da Educacao Rural A Educacao Do CampoDocumento11 páginasArtigo Da Educacao Rural A Educacao Do CampoCirlene SilvaAinda não há avaliações
- ARROYO. O Territorio Da Educacao Do Campo A Partir Dos Anos de 1990Documento22 páginasARROYO. O Territorio Da Educacao Do Campo A Partir Dos Anos de 1990Gilcimária Felix RibeiroAinda não há avaliações
- Atividade BimestralDocumento2 páginasAtividade Bimestralxmonalisa8Ainda não há avaliações
- Diretrizes Da Educação Do Campo - SEC-BADocumento13 páginasDiretrizes Da Educação Do Campo - SEC-BAAnaldino FilhoAinda não há avaliações
- 4 - Educao Do Campo e Pedagogia Da Alternncia - AdrieneDocumento15 páginas4 - Educao Do Campo e Pedagogia Da Alternncia - AdrieneNani ReisAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa 2Documento8 páginasProjeto de Pesquisa 2Patric MenezesAinda não há avaliações
- Educação e Cultura As Escolas Do Campo em MovimentoDocumento17 páginasEducação e Cultura As Escolas Do Campo em MovimentoTúlio BorgesAinda não há avaliações
- Identidade, Cultura, Educação Do Campo e Políticas EducacionaisDocumento37 páginasIdentidade, Cultura, Educação Do Campo e Políticas EducacionaisJOAO ANTONIO DOS SANTOS DE LIMAAinda não há avaliações
- 01 Educação Do Campo - Marcos Normativo PDFDocumento96 páginas01 Educação Do Campo - Marcos Normativo PDFRalphMoreiraAinda não há avaliações
- Carta Educação Do CampoDocumento2 páginasCarta Educação Do CampoLazaro CunhaAinda não há avaliações
- Diretrizes Educacionais para A Educação ÍndigenaDocumento2 páginasDiretrizes Educacionais para A Educação ÍndigenaLUZIA VIEIRAAinda não há avaliações
- EEI Políticas e Tendencias Atuais Rita PotyguaraDocumento12 páginasEEI Políticas e Tendencias Atuais Rita Potyguarasofia agamezAinda não há avaliações
- Edu 3 Ca 3 CaoDocumento6 páginasEdu 3 Ca 3 CaoGraciele Dos SantosAinda não há avaliações
- Práticas Pedagógicas Da Educação No CampoDocumento141 páginasPráticas Pedagógicas Da Educação No CampoPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- WEIGEL, Valéria - Educação Escolar Indígena Entre A Que Temos e A Que Queremos PDFDocumento18 páginasWEIGEL, Valéria - Educação Escolar Indígena Entre A Que Temos e A Que Queremos PDFfgomestavaresAinda não há avaliações
- Livro 54Documento129 páginasLivro 54Eudes SousaAinda não há avaliações
- 2013 Uenp Ped Artigo Wanderleia Aparecida BergamascoDocumento20 páginas2013 Uenp Ped Artigo Wanderleia Aparecida BergamascoCentro de MidiaAinda não há avaliações
- Pedagogia GeralDocumento12 páginasPedagogia GeralIonaldo Mbingano100% (1)
- Dossiê Educ. Esc. Indíg. RJDocumento10 páginasDossiê Educ. Esc. Indíg. RJPedro NevesAinda não há avaliações
- Educacao Do Campo e Educacao Ambiental E1671210222Documento53 páginasEducacao Do Campo e Educacao Ambiental E1671210222Gabriel CarvalhoAinda não há avaliações
- 2 - Populações Ribeirinhas, Indígenas e Étnico-RaciaisDocumento11 páginas2 - Populações Ribeirinhas, Indígenas e Étnico-Raciaiscicimesquita18Ainda não há avaliações
- I - Educação Do CampoDocumento17 páginasI - Educação Do Campocicimesquita18Ainda não há avaliações
- Salomao HageDocumento18 páginasSalomao HageDouglas Oliveira100% (1)
- Plano Nacional de Educacao Escolar Indigena Versao 5Documento35 páginasPlano Nacional de Educacao Escolar Indigena Versao 5Amilton MattosAinda não há avaliações
- Relatório Sobre A Educação No Campo No BrasilDocumento4 páginasRelatório Sobre A Educação No Campo No BrasilSabri VieiraAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Educação No CampoDocumento144 páginasFundamentos Da Educação No CampoPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Educação IndígenaDocumento17 páginasEducação Indígenabrandaocamilly39Ainda não há avaliações
- Crianças Do CampoDocumento13 páginasCrianças Do CampoDienne PontesAinda não há avaliações
- Territorio em FocoDocumento5 páginasTerritorio em FocoEdson HilárioAinda não há avaliações
- Resolução Da Educação No CampoDocumento12 páginasResolução Da Educação No CampoMicharlito De Souza OliveiraAinda não há avaliações
- Livro Didatico PDFDocumento15 páginasLivro Didatico PDFIvânia Freitas100% (1)
- Linguas Indìgenas CompletoDocumento43 páginasLinguas Indìgenas CompletoNayemy VasquesAinda não há avaliações
- A Educ. Do Campo e Seus Aspectos LegaisDocumento15 páginasA Educ. Do Campo e Seus Aspectos LegaisIzabela NascimentoAinda não há avaliações
- Wa0061. 1Documento4 páginasWa0061. 1Estrella GoiisAinda não há avaliações
- 3 - Agroecologia e Educação No CampoDocumento6 páginas3 - Agroecologia e Educação No CampoTHAYNAN DE LIMAAinda não há avaliações
- Educacao Indigena AcreDocumento10 páginasEducacao Indigena AcreThays CavalcanteAinda não há avaliações
- Formação de educadores na perspectiva do Intelectual Coletivo: um diálogo da Pedagogia Socialista e a Educação do CampoNo EverandFormação de educadores na perspectiva do Intelectual Coletivo: um diálogo da Pedagogia Socialista e a Educação do CampoAinda não há avaliações
- Educação Do/no Campo:No EverandEducação Do/no Campo:Ainda não há avaliações
- Educação Do/no Campo: Demandas Da Contemporaneidade E Reflexões Sobre A Práxis DocenteNo EverandEducação Do/no Campo: Demandas Da Contemporaneidade E Reflexões Sobre A Práxis DocenteAinda não há avaliações
- A Educação do Campo e a Luta pela Reforma Agrária no Alto Sertão SergipanoNo EverandA Educação do Campo e a Luta pela Reforma Agrária no Alto Sertão SergipanoAinda não há avaliações
- Educação Inclusiva 1Documento9 páginasEducação Inclusiva 1Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 054Documento17 páginasAc Car Net Dir Con 054Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 016Documento14 páginasAc Car Net Dir Con 016Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 051Documento9 páginasAc Car Net Dir Con 051Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 053Documento9 páginasAc Car Net Dir Con 053Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 015Documento10 páginasAc Car Net Dir Con 015Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 012Documento8 páginasAc Car Net Dir Con 012Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 014Documento10 páginasAc Car Net Dir Con 014Iury RaianAinda não há avaliações
- Ac Car Net Dir Con 013Documento8 páginasAc Car Net Dir Con 013Iury RaianAinda não há avaliações
- Geografia Da ParaíbaDocumento6 páginasGeografia Da ParaíbaIury RaianAinda não há avaliações
- Geografia Da Paraíba (Concursos Públicos)Documento5 páginasGeografia Da Paraíba (Concursos Públicos)Iury RaianAinda não há avaliações
- A Gênese Das Teses Do Escola Sem Partido Esfinge e Ovo Da Serpente Que Ameaçam A Sociedade e A Educação - Gaudêncio Frigotto PDFDocumento20 páginasA Gênese Das Teses Do Escola Sem Partido Esfinge e Ovo Da Serpente Que Ameaçam A Sociedade e A Educação - Gaudêncio Frigotto PDFJosevandro Chagas100% (1)
- Texto para Debate e ReflexãoDocumento3 páginasTexto para Debate e Reflexãobiblioteca digital100% (1)
- 1 - Apostila - Metodologia de SociologiaDocumento26 páginas1 - Apostila - Metodologia de SociologiaDavid RodriguesAinda não há avaliações
- Guia de Percurso - Filosofia - Unopar 2021Documento15 páginasGuia de Percurso - Filosofia - Unopar 2021Edson ThomaziniAinda não há avaliações
- t1, Vitor - CorretoDocumento7 páginast1, Vitor - CorretoSuzi Moras CiceriAinda não há avaliações
- Tutorial Proex Volume1 o Que e Um Projeto de ExtensaoDocumento9 páginasTutorial Proex Volume1 o Que e Um Projeto de ExtensaoErico Lopes Pinheiro de PaulaAinda não há avaliações
- Prova 110 Construcao Civil Arquitetura Urbanizacao Paisagismo EdificacoesDocumento23 páginasProva 110 Construcao Civil Arquitetura Urbanizacao Paisagismo EdificacoesGabriel RisoAinda não há avaliações
- Prática de Ensino Observação e Projeto (20h - LET - MAT)Documento34 páginasPrática de Ensino Observação e Projeto (20h - LET - MAT)Milena Tarzia100% (1)
- CARMO, FERREIRA, Metodologia Da Investigação. Guia para Auto-AprendizagemDocumento306 páginasCARMO, FERREIRA, Metodologia Da Investigação. Guia para Auto-AprendizagemCristinaJardim100% (1)
- Modelo - Nutrição - Módulo ProgramaçãoDocumento60 páginasModelo - Nutrição - Módulo ProgramaçãoAdriana CerqueiraAinda não há avaliações
- Modelo de Plano de Ação - Deficiência Intelectual 2024Documento8 páginasModelo de Plano de Ação - Deficiência Intelectual 2024Elisangela FigueiredoAinda não há avaliações
- Atividade NullDocumento17 páginasAtividade NullDarlan Duvoizem MottaAinda não há avaliações
- Tecnologia Ciclos 1,2,3,4.Documento16 páginasTecnologia Ciclos 1,2,3,4.roseniAinda não há avaliações
- INACIO-DIDACTICA GERAL - CópiaDocumento15 páginasINACIO-DIDACTICA GERAL - CópiaLucas João L. JúniorAinda não há avaliações
- Atividade FábulaDocumento43 páginasAtividade FábulajunimeverAinda não há avaliações
- Gestão Escolar OrganizaçãoDocumento13 páginasGestão Escolar Organizaçãofrancisco de freitasAinda não há avaliações
- Dissertação - Ana Cecília Marques de OliveiraDocumento72 páginasDissertação - Ana Cecília Marques de OliveiraBarbara TavaresAinda não há avaliações
- Identidade Do Adolescente Na Contemporaneidade PDFDocumento13 páginasIdentidade Do Adolescente Na Contemporaneidade PDFAnaRamyresAinda não há avaliações
- A Função Da Literatura em Humberto EcoDocumento11 páginasA Função Da Literatura em Humberto EcoJhonatan PerottoAinda não há avaliações
- Projetos Construindo ConhecimentosDocumento17 páginasProjetos Construindo ConhecimentosIrani02Ainda não há avaliações
- LC Nº 164 de 03 de Julho de 2006 Estatuto Dos Militares Do Estado Do Acre 25.02.2019 1Documento59 páginasLC Nº 164 de 03 de Julho de 2006 Estatuto Dos Militares Do Estado Do Acre 25.02.2019 1Jose Francisco PessoaAinda não há avaliações
- Atividade Física e Qualidade de Vida PDFDocumento182 páginasAtividade Física e Qualidade de Vida PDFLucas Silva67% (3)
- Regulamento Académico ISPLB 2022-2023 - 16 Março 2023Documento36 páginasRegulamento Académico ISPLB 2022-2023 - 16 Março 2023Alcides Arfra Francisco AlcifranAinda não há avaliações
- Serviço Social 7 e 8Documento7 páginasServiço Social 7 e 8Arleno FavachoAinda não há avaliações
- PP Ced 03 SobradinhoDocumento85 páginasPP Ced 03 SobradinhoMaruan MCOAinda não há avaliações
- Apostila Espanhol - Estratégia Concrusos PDFDocumento160 páginasApostila Espanhol - Estratégia Concrusos PDFernaneespanhol32Ainda não há avaliações
- PPC HistoriaDocumento95 páginasPPC HistoriaBeto SouzaAinda não há avaliações
- FundamentosDocumento13 páginasFundamentosJuma Manuel NahipaAinda não há avaliações