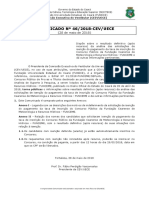Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Forum o Problema II Diagramado
Forum o Problema II Diagramado
Enviado por
Gisele GuimaraesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- O Genocídio do negro brasileiro: Processo de um Racismo MascaradoNo EverandO Genocídio do negro brasileiro: Processo de um Racismo MascaradoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (9)
- Texto 3 João Freire 2014 - A Sociologia e o TrabalhoDocumento13 páginasTexto 3 João Freire 2014 - A Sociologia e o TrabalhodurbanAinda não há avaliações
- Carneiro. Racismo, Sexismo e Desigualdade No BrasilDocumento12 páginasCarneiro. Racismo, Sexismo e Desigualdade No Brasilmjohannak0% (3)
- Manuel Querino e A Formação Do 'Pensamento Negro' No Brasil, de A.S.A. GuimarãesDocumento23 páginasManuel Querino e A Formação Do 'Pensamento Negro' No Brasil, de A.S.A. GuimarãesSabrina Gledhill100% (1)
- Democracia RacialDocumento22 páginasDemocracia RacialajlapriaAinda não há avaliações
- Democracia Racial PDFDocumento23 páginasDemocracia Racial PDFMísia FiúzaAinda não há avaliações
- Racialismo e Antirracismo No Pensamento Social BrasileiroDocumento8 páginasRacialismo e Antirracismo No Pensamento Social Brasileiroflick5719Ainda não há avaliações
- Ponencia Dissidentes Da Nação - Pensamento Social e Diásporico de Lelia e Abdias Do NascimentoDocumento10 páginasPonencia Dissidentes Da Nação - Pensamento Social e Diásporico de Lelia e Abdias Do NascimentofernandocpradoAinda não há avaliações
- Psicologia SocialDocumento7 páginasPsicologia SocialErick RizentalAinda não há avaliações
- O Bloqueio Epistemológico No Brasil e A PsicologiaDocumento11 páginasO Bloqueio Epistemológico No Brasil e A PsicologiaAdriana OliveiraAinda não há avaliações
- GT 08 - Uma Leitura Decolonial Sobre A Humilhação Social (Márcio F. Souza)Documento18 páginasGT 08 - Uma Leitura Decolonial Sobre A Humilhação Social (Márcio F. Souza)eloinagullarAinda não há avaliações
- Ser QuilombolaDocumento10 páginasSer QuilombolahaborelaAinda não há avaliações
- Silva - EXPERIÊNCIAS INTELECTUAIS NEGRASDocumento7 páginasSilva - EXPERIÊNCIAS INTELECTUAIS NEGRASHeráclio TavaresAinda não há avaliações
- Lelia Gonzalez e Seu Lugar Na AntropologDocumento34 páginasLelia Gonzalez e Seu Lugar Na AntropologLuane Bento Dos SantosAinda não há avaliações
- Angela Figueiredo e Ramón Grosfoguel Sobre Intelectuais Negros Na Universidade PDFDocumento6 páginasAngela Figueiredo e Ramón Grosfoguel Sobre Intelectuais Negros Na Universidade PDFleoamphibioAinda não há avaliações
- 62428-Texto Do Artigo-198223-1-10-20230628Documento13 páginas62428-Texto Do Artigo-198223-1-10-20230628brubzfreitasAinda não há avaliações
- AMAURI Mendes PereiraDocumento7 páginasAMAURI Mendes PereiraGustavo FordeAinda não há avaliações
- Democracia Racial - o Ideal, o Pacto e o MitoDocumento16 páginasDemocracia Racial - o Ideal, o Pacto e o MitoEstefani Leitzke100% (1)
- Artur Ramos e Controle SocialDocumento18 páginasArtur Ramos e Controle SocialPedro Jardel PereiraAinda não há avaliações
- Os Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoDocumento24 páginasOs Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoMelquisedeque da silva romanoAinda não há avaliações
- Tyego, Artigo 5 (No 10)Documento20 páginasTyego, Artigo 5 (No 10)ANDERSON AUGUSTO MOTA SERRAAinda não há avaliações
- Breve Historico Psicologico Brasileiro Sobre Relações Etinicos RaciaisDocumento14 páginasBreve Historico Psicologico Brasileiro Sobre Relações Etinicos RaciaisRicardo AlvesAinda não há avaliações
- Nina Rodrigues e o Discurso Sobre As Raças Na Formação Da Nação BrasileiraDocumento16 páginasNina Rodrigues e o Discurso Sobre As Raças Na Formação Da Nação BrasileiraFlávia FerreiraAinda não há avaliações
- Dora 01Documento46 páginasDora 01Vera Lúcia CarvalhoAinda não há avaliações
- Carneiro Racismo Sexismo e Desigualdade No Brasil PDFDocumento12 páginasCarneiro Racismo Sexismo e Desigualdade No Brasil PDFAngela Vanessa Epifanio0% (1)
- A "Democracia Racial" e A Negação Do Racismo No BrasilDocumento6 páginasA "Democracia Racial" e A Negação Do Racismo No Brasiladriano cesar montagnaAinda não há avaliações
- Lilia Moritz - Questão Racial No BrasilDocumento8 páginasLilia Moritz - Questão Racial No BrasilRafael Zacca100% (1)
- A Pobreza No Paraíso TropicalDocumento15 páginasA Pobreza No Paraíso TropicalAlexAinda não há avaliações
- 632 114 PBDocumento27 páginas632 114 PBAndressa QueirozAinda não há avaliações
- Sintese Sociologia BrasileiraDocumento5 páginasSintese Sociologia Brasileiragui.xcbAinda não há avaliações
- FLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Documento12 páginasFLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Rhavier Pereira100% (1)
- Questão Racial e EtnicidadeDocumento2 páginasQuestão Racial e EtnicidadeFlávia MendesAinda não há avaliações
- Sintese Sessão SeisDocumento4 páginasSintese Sessão Seisgui.xcbAinda não há avaliações
- Luitgarde Oliveira Cavalcanti BarrosDocumento8 páginasLuitgarde Oliveira Cavalcanti BarrosMoa MJrAinda não há avaliações
- Sexualidade Indentidade Historiografia Brasileira RagoDocumento35 páginasSexualidade Indentidade Historiografia Brasileira RagothaisAinda não há avaliações
- Denilson Questões Acerca Do Genocídio Negro No Brasil XDocumento24 páginasDenilson Questões Acerca Do Genocídio Negro No Brasil XRogério HaesbaertAinda não há avaliações
- Preconceito racial: modos, temas e temposNo EverandPreconceito racial: modos, temas e temposAinda não há avaliações
- A Mulher Negra Na Sociedade BrasileiraDocumento11 páginasA Mulher Negra Na Sociedade BrasileiraLucas PiresAinda não há avaliações
- Resenha Atitudes RaciaisDocumento5 páginasResenha Atitudes RaciaisJoão ViannaAinda não há avaliações
- ORTIZ, Renato. Imagens Do BrasilDocumento25 páginasORTIZ, Renato. Imagens Do BrasilSherida ColassoAinda não há avaliações
- Aula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Documento38 páginasAula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Graziele ArraesAinda não há avaliações
- Genocídio Negro BrasileiroDocumento26 páginasGenocídio Negro BrasileiroLusia SouzaAinda não há avaliações
- Paper de Gabriela Bacelar ANPOCSDocumento22 páginasPaper de Gabriela Bacelar ANPOCSlivia.paivaAinda não há avaliações
- A Ideologia Do Branqueamento e o Mito Da Democracia RacialDocumento4 páginasA Ideologia Do Branqueamento e o Mito Da Democracia RacialPriscila AlcantaraAinda não há avaliações
- A Questão Racial Brasileira Na Obra de Florestan Fernandes - João BaptistaDocumento8 páginasA Questão Racial Brasileira Na Obra de Florestan Fernandes - João BaptistaFelipe SimiqueliAinda não há avaliações
- E-Book - Educação Das Relações Étnico - RaciaisDocumento30 páginasE-Book - Educação Das Relações Étnico - RaciaisThaís EscobarAinda não há avaliações
- Dicionario Do Ensino de Sociologia Verbe PDFDocumento31 páginasDicionario Do Ensino de Sociologia Verbe PDFLu Flores0% (1)
- A Questão Racial Nas Letras Das Canções Populares BrasileirasDocumento17 páginasA Questão Racial Nas Letras Das Canções Populares BrasileirasAyawo NoletoAinda não há avaliações
- Cap.14 Soc 2anoDocumento16 páginasCap.14 Soc 2anoisaqueslk16Ainda não há avaliações
- Mario Augusto Da Silva - Um Pensamento Social Negro Brasileiro, Após Os Anos 1930 PDFDocumento16 páginasMario Augusto Da Silva - Um Pensamento Social Negro Brasileiro, Após Os Anos 1930 PDFGabriel RolembergAinda não há avaliações
- História e Cultura Afro-BrasileiraDocumento6 páginasHistória e Cultura Afro-BrasileiraMarta OliveiraAinda não há avaliações
- Transviadas - 1.3 - Por Uma Sociologia Das AbjeçõesDocumento7 páginasTransviadas - 1.3 - Por Uma Sociologia Das Abjeçõespriscila hernandesAinda não há avaliações
- Antonio Sergio Alfredo Guimarães - A Questão Racial Na Política BrasileiraDocumento22 páginasAntonio Sergio Alfredo Guimarães - A Questão Racial Na Política BrasileiraVIVIANE SOUZA DE ALMEIDAAinda não há avaliações
- Antro 3Documento37 páginasAntro 3Marcos MuriloAinda não há avaliações
- Apostila Curso Racismo Estrutural e Práticas AntirracistasDocumento113 páginasApostila Curso Racismo Estrutural e Práticas AntirracistasHenrique Garcez de OliveiraAinda não há avaliações
- Améfrica Ladina e A Crítica À DemocraciaDocumento27 páginasAméfrica Ladina e A Crítica À DemocraciaLuana De Souza Alves PereiraAinda não há avaliações
- Osório Desigualdade Racial e Mobilidade SocialDocumento33 páginasOsório Desigualdade Racial e Mobilidade SocialwednesdayerAinda não há avaliações
- SODRÉ - Muniz-Uma Genealogia Das Imagens Do RacismoDocumento5 páginasSODRÉ - Muniz-Uma Genealogia Das Imagens Do RacismoRuth MacielAinda não há avaliações
- GuiaProf MaterialEducativoENDocumento60 páginasGuiaProf MaterialEducativoENIndiara TainanAinda não há avaliações
- A Situação Do Negro No Brasil No Sec Xix e XXDocumento15 páginasA Situação Do Negro No Brasil No Sec Xix e XXPâmelaFernandaNunesRomeroAinda não há avaliações
- st01 27Documento2 páginasst01 27Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- V Seminario GrioDocumento221 páginasV Seminario GrioGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Dissertacao ArquiteturaPublicaModernaDocumento128 páginasDissertacao ArquiteturaPublicaModernaGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- AQUESTODERAANASLEISEDUCACIONAIS DALDB1961ALEI10639 LucimarDiasDocumento17 páginasAQUESTODERAANASLEISEDUCACIONAIS DALDB1961ALEI10639 LucimarDiasGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Flavia-Costa1989, 20Documento7 páginasFlavia-Costa1989, 20Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Deposito Café AlteradoDocumento1 páginaDeposito Café AlteradoGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre A Exploracao Do Homem e Da Natureza Na Sociedade CapitalistaDocumento9 páginasReflexoes Sobre A Exploracao Do Homem e Da Natureza Na Sociedade CapitalistaGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Medeiros V Barros A 2011Documento3 páginasMedeiros V Barros A 2011Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- A Escrevivência de Espacialidades: A Escrita Do Corpo Negro em Espaços Alternativos Da Periferia de Belém-PaDocumento17 páginasA Escrevivência de Espacialidades: A Escrita Do Corpo Negro em Espaços Alternativos Da Periferia de Belém-PaGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- A Covid-19 Nos Marajós: Reflexões Sobre Territórios Negros e EducaçãoDocumento22 páginasA Covid-19 Nos Marajós: Reflexões Sobre Territórios Negros e EducaçãoGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- O Epistemicídio e Os Desafios Enfrentados Por Arquitetas (Os) Negras (Os) .Documento7 páginasO Epistemicídio e Os Desafios Enfrentados Por Arquitetas (Os) Negras (Os) .Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Comunicado46 2018Documento25 páginasComunicado46 2018AnonimoAinda não há avaliações
- Desiderio Murcho-Ensinar A FilosofarDocumento28 páginasDesiderio Murcho-Ensinar A FilosofarWalter MarcianoAinda não há avaliações
- ATIVIDADE PRÁTICA - MOVIMENTO EM QUEDA LIVRE - NOTA 100 - Passei DiretoDocumento10 páginasATIVIDADE PRÁTICA - MOVIMENTO EM QUEDA LIVRE - NOTA 100 - Passei Diretonailson madrugaAinda não há avaliações
- Berçario I e Ii IntegralDocumento130 páginasBerçario I e Ii IntegralIane Larissa Silva Lima Ribeiro100% (1)
- Livro 1 - O Que Ensinar em Educação ProfissionalDocumento22 páginasLivro 1 - O Que Ensinar em Educação ProfissionalBatista OliverAinda não há avaliações
- André Scholl de Almeida Trabalho em Vieira PintoDocumento174 páginasAndré Scholl de Almeida Trabalho em Vieira PintoDauto da SilveiraAinda não há avaliações
- 2024 Online Geografia 01 Historia-Do-Pensamento-GeograficoDocumento6 páginas2024 Online Geografia 01 Historia-Do-Pensamento-GeograficoLucas Ferreira AlvesAinda não há avaliações
- Fernanda Da S, Santos - RESUMO METODOLOGIA DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE OPERAÇÕESDocumento4 páginasFernanda Da S, Santos - RESUMO METODOLOGIA DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE OPERAÇÕESFernanda SilvaAinda não há avaliações
- 2-Historia e Historiografia - Escola MétodicaDocumento6 páginas2-Historia e Historiografia - Escola Métodicaflavio benitesAinda não há avaliações
- Ano16 181 1975Documento54 páginasAno16 181 1975Wesley LeiteAinda não há avaliações
- Vozes SilenciadasDocumento80 páginasVozes SilenciadasValdeciOliveiraAinda não há avaliações
- Construcao de Terrarios Cassiano Santos Rodrigues PDFDocumento13 páginasConstrucao de Terrarios Cassiano Santos Rodrigues PDFmirianamorymAinda não há avaliações
- Metodologia Da Pesquisa e Do Ensino de Artes UAB-UECEDocumento78 páginasMetodologia Da Pesquisa e Do Ensino de Artes UAB-UECEAlan Emmanuel Oliveira dos SantosAinda não há avaliações
- A Psicologia Enquanto Profissão PDFDocumento3 páginasA Psicologia Enquanto Profissão PDFMariana MesquitaAinda não há avaliações
- Günther - Psicologia Ambiental - Algumas Considerações Sobre Sua Área de Pesquisa e Ensino PDFDocumento16 páginasGünther - Psicologia Ambiental - Algumas Considerações Sobre Sua Área de Pesquisa e Ensino PDFRaila BarbosaAinda não há avaliações
- Teste T StudentDocumento15 páginasTeste T StudentAndréBastosAinda não há avaliações
- A Prática Pedagógica e o Desafio Do Paradigma EmergenteDocumento5 páginasA Prática Pedagógica e o Desafio Do Paradigma EmergenteFernando MarquesAinda não há avaliações
- Modelo de LaudoDocumento14 páginasModelo de LaudojaequisonAinda não há avaliações
- Planejamento Diário de AulaDocumento5 páginasPlanejamento Diário de AulaRaquel FincklerAinda não há avaliações
- Critica Hermeneutica o Direito - Do Quadro Referencial Teorico A Articualçao de Uma Posição Filosofica Sobre o DireitoDocumento16 páginasCritica Hermeneutica o Direito - Do Quadro Referencial Teorico A Articualçao de Uma Posição Filosofica Sobre o DireitoJoão Victor LeãoAinda não há avaliações
- É Duro Ver Milhões de Pessoas Sendo Enganadas Pela Mitologia CristãDocumento82 páginasÉ Duro Ver Milhões de Pessoas Sendo Enganadas Pela Mitologia CristãDivino Moab100% (1)
- Resumo de Medicina LegaDocumento10 páginasResumo de Medicina LegaTeo SilvaAinda não há avaliações
- PIAB3Documento8 páginasPIAB3escolamusicafaetecmalhermesAinda não há avaliações
- Plano de Aula Diário Reformulado PRIMEIRO E SEGUNDO ANODocumento11 páginasPlano de Aula Diário Reformulado PRIMEIRO E SEGUNDO ANOpedrodaalmei32Ainda não há avaliações
- Caderno de Ciências Humanas Vol.1Documento276 páginasCaderno de Ciências Humanas Vol.1Thayse BachmeyerAinda não há avaliações
- Artigo 2 Educação InclusivaDocumento12 páginasArtigo 2 Educação InclusivaNildo SouzaAinda não há avaliações
- Compreensao e Interpretacao de Textos Parte IDocumento58 páginasCompreensao e Interpretacao de Textos Parte IJosé Ivan DantasAinda não há avaliações
- BERNOULLI RESOLVE Português - Volume 1Documento24 páginasBERNOULLI RESOLVE Português - Volume 1TauaneAinda não há avaliações
- Musculação Aplicações Praticas - Luis Carlos ChiesaDocumento87 páginasMusculação Aplicações Praticas - Luis Carlos ChiesarodrigoppretoAinda não há avaliações
Forum o Problema II Diagramado
Forum o Problema II Diagramado
Enviado por
Gisele GuimaraesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Forum o Problema II Diagramado
Forum o Problema II Diagramado
Enviado por
Gisele GuimaraesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FÓRUM I FORUM
O PROBLEMA (II)
“COMO É A SENSAÇÃO DE SER UM
PROBLEMA?”
A Antropologia Negra Brasileira e a
construção de territórios da negritude na
academia
Mílton Ribeiro
Universidade do Estado do Pará | Universidade Federal do Pará
Departamento de Filosofia e Ciências Sociais | Programa de
Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia | Belém, Brasil
milton.ribeiro@uepa.br | ORCID iD: 0000-0002-7275-7614
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
DOI: 10.48006/2358-0097-7226
2 | MÍLTON RIBEIRO
De início
A
pergunta que intitula este texto-problema pode
ser encontrada na recente tradução para o
português brasileiro d’As almas do povo negro
(2021: 21), de Willian Eduard Burghardt Du Bois (1868-
1963). Ela aparece logo nas primeiras linhas do capítulo 1,
intitulado “Sobre nossos conflitos espirituais”, e marca o
reconhecimento do autor à maneira como as pessoas o
encaram e esperam dele sempre uma resposta a sua
existência como pessoa negra, porém, sempre se utilizando
de artifícios retóricos para evadir o desconforto de estar na
presença de uma pessoa racialmente marcada (como se as
pessoas brancas não o fossem, apesar de serem lidas
sempre na chave da universalidade!). Esta edição é
importante por trazer às pessoas leitoras brasileiras o
pensamento deste que talvez tenha sido um/a das/os
maiores pensadoras/es do século XIX, contemporâneo dos
chamados clássicos das Ciências Sociais – como Durkheim,
Weber e Boas –, mas esquecido da lista de cânones da nossa
disciplina. Antes desta edição, podíamos encontrar algumas
outras traduções desse livro feitas por coletivos dos
movimentos negros e, também, por editoras comerciais, em
uma edição datada de 1999 e esgotada há um certo tempo.
A ideia aqui não é apresentar o pensamento de Du
Bois em sua plenitude, mas colocar em perspectiva a
pergunta que ele elabora na virada do século XX – a
primeira edição d’As almas do povo negro foi lançada em
1903 – e conjecturar o quanto essa pergunta atravessa os
modos de fazer da academia e ciência brasileiras. Em
especial, é preciso dimensionar o quanto a pergunta
(“Como é a sensação de ser um problema?”) atravessa os
modos de ser das/os antropólogas/os negras/os no Brasil.
A pergunta de Du Bois chegou até mim enquanto eu
escrevia um texto sobre homens pretos e masculinidades
negras (Ribeiro 2020) e encontra-se como parte da crítica
construída sobre a produção de conhecimento acerca deste
tema por Alan Ribeiro & Deivison Faustino (2017), em um
excelente texto-revisão intitulado “Negro tema, negro vida,
negro drama: estudos sobre masculinidades negras na
diáspora”. Este contato permitiu com que eu conhecesse as
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
O PROBLEMA II - “COMO É A SENSAÇÃO DE SER UM PROBLEMA?” | 3
principais referências na área de estudos sobre
masculinidades negras e, também, colocou em perspectiva
o problema negro e a ideia sobre o negro-tema – que serviu
de base para o jogo epistêmico proposto na construção do
negro-lugar (Ribeiro 2020a e 2020b).
Esta orientação, e o acesso à leitura de Alberto
Guerreiro Ramos (1995), permitiram com que eu
entendesse como a pergunta mobiliza as formas como os
temas-negros foram construídos como “uma estranha
experiência de viver os ‘agradáveis desprezos’ de uma vida
marcada por um ‘recíproco desdém’ e uma limitação da
vida a um insosso sicofantismo, ou seja, uma vida caluniada,
mentirosa, ordinária e parasita, enganadora...” (Ribeiro &
Faustino 2017: 165). Ou seja, um problema criado pelos
brancos será um problema sobre o qual as pessoas negras
terão que se debruçar o tempo inteiro para responder?
Quem é o responsável pelo pacto narcísico não é o mesmo
responsável pelas estruturas perversas que aprisionam os
corpos negros? Ou haverá lugares-outros1 possíveis para
as/os antropólogas/os negras/os que não o lugar de
estudiosa/o das relações raciais no Brasil?
Antropologia do problema negro e do negro-tema
A Antropologia feita no Brasil emerge diante de uma
crise moral, política e epistemológica, frente a um cenário
marcado pelo racismo científico e projetos de limpeza
racial, no final do século XIX. De acordo com Leith Mullings,
“la disciplina que en un momento promovió el racismo
científico y la visión racial del mundo que proporcionaron
la racionalidad para la esclavitud, el colonialismo, el
segregacionismo y la eugenesia” (2013: 331). Médicos,
juízes e escritores deram conta do problema negro
escrevendo sobre sua degenerescência, perversidade e
desvio. A leitura antropológica por traz desses escritos
reflete o desconforto das circunstâncias políticas em
relação a temas lidos como progressistas à época, como os
debates acerca do liberalismo, republicanismo e
abolicionismo. As hipóteses que aventam naqueles tempos
tendiam a culpar as pessoas negras pelo atraso nacional e
criminalizar suas práticas culturais. Não à toa é construída
1 Palermo (2019: 91).
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
4 | MÍLTON RIBEIRO
uma retórica na ciência e na literatura que associa pessoas
negras à natureza e que o freio para esses instintos viria das
instituições, criando assim a ideia de responsabilidade
penal e doença mental. Nestas circunstâncias disciplinas
como medicina legal, direito e antropologia física se
confundiam na tentativa de entender o problema negro,
criando assim o negro-tema (Amador de Deus 2019; Pinho
2019; Ramos 1995).
O problema negro surge então como efeito das
causas morais, políticas e epistemológicas na virada do
século XIX para o XX. E as disciplinas científicas surgem
como profilaxias para estes estados de ânimo: é preciso
eliminar o atavismo racial da sociedade brasileira. E, para
isso, a Antropologia Física (ou Biológica) que se
institucionaliza no país, com a figura de Nina Rodrigues à
frente, estabelece novos paradigmas à criminalização das
pessoas negras diante dos “estudos de antropologia
criminal, de antropometria e de frenologia” (Amador de
Deus 2019: 65).
Na tentativa de construir o negro como tema se
estabeleceram premissas distintas no interior das Ciências
Sociais, fazendo com que “os antropólogos, pela lente da
observação participante, só enxergassem aquilo que acabou
definindo a ‘diferença’ dos negros, a Cultura Negra. E os
sociólogos, pela janela das tabelas estatísticas,
privilegiassem a conexão entre a autodefinição racial e o
lugar (desigual) na estrutura social” (Pinho 2019: 102). E,
assim, teremos os trabalhos de Edson Carneiro, Arthur
Ramos e Gilberto Freyre (e a chamada “Escola
Pernambucana) delineando “com clareza o corpus temático
que marcou a esfera ampliada de interesses sobre o ‘negro’
e que, na verdade, o constitui como um problema
antropológico” (idem: 101).
Na diferença entre perspectivas dentro da própria
Antropologia, mas também com a sua prima-irmã (a
Sociologia), que conformaremos entre os anos 1930-1970
um arsenal teórico-metodológico que ampliaram não
apenas o problema negro, mas também os negros-temas. É
importante salientar o papel de pesquisadoras/es
estrangeiras/os e nacionais na conformação de uma leitura
racial sobre a nossa nacionalidade. Dos esquemas
sociológicos caros à Escola de Chicago, suas análises sobre a
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
O PROBLEMA II - “COMO É A SENSAÇÃO DE SER UM PROBLEMA?” | 5
questão racial e tensões diante do nosso modelo que irão
surgir as primeiras considerações sobre o racismo à
brasileira. Esse formado por marcas fenotípicas e
hierarquias de cor, ou preconceito de marca, em detrimento
do modelo americano que foi chamado de preconceito de
origem, por ser determinado pela herança genética e
ancestralidade, conforme orientações de Oracy Nogueira e
Marvin Harris.
No geral, as pesquisas evidenciaram tanto a cultura
(práticas, manifestações e aspectos da vida cultural) quanto
a estrutura (de dominação, de sistemas hierárquicos e de
controle social) e conformaram uma excelente resposta aos
dilemas apresentados internacionalmente, como as
expectativas de que o Brasil havia superado o racismo pós-
abolição da escravatura, conformando aquilo que Osmundo
Pinho (2019) chamou de “sociologia da desigualdade
racial” e “etnografia da cultura negra” (: 103). Esse debate
aparece durante, e logo após, a II Guerra Mundial e orientou
os prospectos de pesquisa construídos naquele momento:
“[por] se trata[r] de un campo que tiene una tradición antir-
racista significativa, más notablemente durante y en las
postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando las
consecuencias genocidas del racismo comenzaron a hacerse
evidentes” (Mullings 2013: 331).
O Projeto UNESCO, desenvolvido no país com
pesquisadoras/es estrangeiras/os e nacionais (quase
sempre fazendo o papel de auxiliares de pesquisa), aparece
para nós como um grande paradigma na elaboração de uma
narrativa que advoga o papel do racismo como constitutivo
das relações sociais no Brasil. No entanto, mesmo tendo
sido responsável pela formação das primeira e segunda
gerações de sociólogas/os e antropólogas/os brasileiras/os,
o projeto acabou por publicar os relatórios e livros em
inglês, com edições de difícil acesso e até mesmo esgotadas
há tempos, e possibilitou com que apenas uma elite
acadêmica tivesse acesso ao conteúdo produzido em meses
de pesquisas.
O acesso aos dados dessas pesquisas e sua
manipulação por uma elite acadêmica tem sido matéria de
crítica, uma vez que foram essas/es intelectuais que
reificaram o problema negro e ajudaram a perpetuar o
negro-tema. Com algumas exceções, a grande parte dessa
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
6 | MÍLTON RIBEIRO
intelectualidade é (e foi) composta por pessoas brancas de
classe média (alta). É importante, porém, ressaltar os
diálogos críticos de Carlos Hasenbalg quando traz “o
racismo para o centro do debate sobre as relações raciais”,
e seus distanciamentos teórico-analíticos das gerações
anteriores (Amador de Deus, 2019: 79).
Nas considerações de Guerreiro Ramos (1995: 215):
“O negro-tema é uma coisa examinada, olhada, vista, ora
como ser mumificado, ora como ser curioso, ou de qualquer
modo como um risco, um traço da realidade nacional que
chama atenção”. Com isso, compreendemos que, na maioria
das vezes, os objetivos dessas pesquisas eram compreender
“‘os outros’ da nação” (Pereira 2020: 9). Essas/os
outras/os, atualmente, ocupam lugares e constroem
territórios em campos minados pelo “logocentrismo
ocidental” e “branquidade hegemônica das ciências sociais”
(Walsh 2007: 103; Pereira 2020: 1).
O logocentrismo é o que impede a expansão de
racionalidades-outras, transformando-as apenas em
militância, olhar de dentro e guetificação, como se fossem
coisas negativas e essencializadas, e, dessa forma, a
branquidade hegemônica acaba por reforçar os
estereótipos acadêmicos de que o lugar da pessoa negra é
entendendo sua própria condição (sua própria cultura,
como dizem), entendendo como é ser “a/o outro/a” e como
é ser um problema nacional e objeto de estudo. No entanto,
como nos diz Osmundo Pinho (2019: 102): “Uns produzem
leituras sobre os Outros, [mas] os Outros leem a si mesmos
e a seus intérpretes no espelho multirrefratado da raça”. Ou
seja, a branquidade se viu contestada na própria armadilha
que criou para encarcerar as pessoas pretas, aí, eu te
pergunto, pessoa branca: Qual é a sensação de ser um
problema agora?
Antropologia Negra Brasileira & Territórios da Negritude
Se até aqui a ideia foi instigar uma crítica acerca do
problema construído pelas/os de dentro (da academia),
seja pela sensação que causaram em muitas/os de nós,
antropólogas/os negras/os, ao longo do tempo por sermos
encaradas/os sempre como pretas/os únicas/os ou pela
amenização do problema em estratégias como o black card,
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
O PROBLEMA II - “COMO É A SENSAÇÃO DE SER UM PROBLEMA?” | 7
ou escudo negro, como pontua a professa Vera Rodrigues
em entrevista (2021) –, nesta seção eu mobilizo um pouco
dos problemas levantados acima para pensar o que
denomino aqui de Antropologia Negra Brasileira e
Territórios da Negritude na Academia.
Por Antropologia Negra Brasileira compreendo toda
a produção intelectual de antropólogas/os negras/os feita
no Brasil. Independentemente do tema das pesquisas, seus
objetos e recortes, a intenção aqui é marcar que existe uma
outra Antropologia para além daquela feira pela
branquidade hegemônica (Pereira 2020). Essa outra
Antropologia não é marcada pela “ocultação e
invisibilização das marcas étnicas de africanidade e de
indigenidade, em nome da criação da chama- da cultura
brasileira” (idem: 9), mas, pelo contrário, constrói sua
especificidade evidenciando suas marcações étnico-raciais
e seu lugar de origem. O corpo assume dimensão
metodológica e ajuda na construção de um pressuposto
“epistêmico-vivencial” que exaspera todas as dimensões da
reflexividade (Walsh 2007: 107). Nesse sentido, as
dimensões da subjetividade da/o antropóloga/o em campo
e das posicionalidades histórico-geo-corpoliticamente
marcadas são estratégicas (Palermo 2019). Estratégicas ao
romper com a fantasia acadêmica da cientificidade, pois se,
anteriormente, vimos uma academia, e consequentemente
uma ciência, alicerçadas pela universalidade, neutralidade e
superioridade do logocentrismo ocidental agora podemos
vislumbrar a possibilidade de romper com teorias
monolíticas, monoculturais e universal orientadas por
mudanças epistemológicas trazidas por aquelas/es que
eram consideradas/os de fora (Walsh 2007).
Nesta disputa, a Antropologia (Branca) Brasileira
acaba por se basear em ilusões de alteridade construídas no
reduto da sua própria domesticidade, ou seja, “essa
antropologia ‘feita em casa’ consegue epistemologicamente
resolver o problema da alteridade produzindo sua própria
alteridade doméstica, que são os próprios outros do Estado
nacional – negros, índios, camponeses, pobres – mas toma a
si própria como autor não situado” (Pereira 2020: 9-10). A
julgar pela forma como a disciplina se institucionalizou no
país não me surpreende que redes e alianças tenham sido
formadas desde o início para manutenção de hegemonias e
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
8 | MÍLTON RIBEIRO
pactos narcísicos. As maneiras como 1) as ementas e planos
de ensino são construídas, as disciplinas são ministradas –
tendo ainda na figura do catedrático seu (pior) exemplo –,
2) as formações colegiadas e congregadas – em assembleia
pouco republicanas – são compostas e administradas, 3) as
ausências intencionais de intelectuais e pensadoras/es
negras/os, mulheres, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+,
refugiadas/os, camponesas/es e pobres – e/ou de
referências do Sul Global – e 4) os evidentes desconfortos
em sala quando se relega a essas epistemologias distintas o
lugar de não-conhecimento (Walsh 2007) marcam a
ausência de territórios da negritude nos espaços
acadêmico-científicos.
No entanto, contra todas essas ausências e
impedimentos, surgiram epistelomogias-outras
mobilizadas pela possibilidade de um pensamento
transfronteiriço, comprometido com o pensar e o fazer
como partes indissociáveis da luta antirracista dentro da
academia brasileira (Palermo 2019: 96; Mullings 2013). Em
relação à teoria antirracista em Antropologia, podemos
pensar nas críticas de Manuel Querino2 e Edson Carneiro
como sendo as precursoras deste modelo de pensamento. O
primeiro dimensionando a civilização brasileira como efeito
da exploração do colono preto e o segundo observando
como o negro se tornou objeto de ciência, ao sair de sua
condição de escravo e configurar-se como objeto de estudo
pelo establishment científico nos séculos XIX e XX.
Juntam-se a estes dois autores pioneiros, em décadas
posteriores, as/os intelectuais reconhecidas/os e
admiradas/os, e que recentemente estão sendo
reposicionadas/os no cânone antropológico nacional:
Marlene Cunha, Lélia Gonzalez, Josildeth Gomes Consorte,
Kabengele Munanga e Zelia Amador de Deus. Para nós,
antropólogas/os negras/os – e, para mim, em especial – é
esse conjunto de pessoas negras que fundamentam os
primeiros territórios da negritude na academia. Em
especial, quero fazer referência a três mulheres desse
panteão: à Marlene Cunha, que fundou – junto com Beatriz
Nascimento – o Grupo de Trabalho André Rebouças
(GTAR), e que “talvez [seja] o primeiro movimento negro
2Considerado “one of the most important names in the Ethnographv
and Arts History in Brazil” (Querino 1980 [1918]: 157).
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
O PROBLEMA II - “COMO É A SENSAÇÃO DE SER UM PROBLEMA?” | 9
universitário do país” (Cunha 2017: 18); à Lélia Gonzalez,
que não apenas modificou o pensamento social brasileiro
ao adicionar às suas análises as perspectivas de raça e
gênero, mas que também ousou encruzilhar política e
ciência ao se tornar professora na PUC-Rio e militante do
Partido dos Trabalhadores (e depois do PDT), nos quais
pode concorrer a cargos eletivos no legislativo estadual; e à
Zélia Amador, professora universitária, atriz e militante,
cofundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do
Pará (CEDENPA), uma das organizações da militância negra
mais antiga do país. Essas três experiências, somadas às de
Josildeth Consorte3 e Kabengele Munanga4, marcam o
estabelecimento de um trânsito entre academia e militância
e a conformação de territórios da negritude.
O sentido que dou aqui a ideia de territórios da
negritude encontra paralelo nas proposições de Lélia
Gonzalez & Carlos Hasenbalg (1982), de Monica Conrado,
Marilu Campelo e Alan Ribeiro (2015), e nas minhas
próprias reflexões sobre esta categoria, como aparecem em
Ribeiro (2020a e 2020b), uma vez que a encaro tanto como
“espaços bem demarcados, como sendo o ‘meu pedaço’, o
‘meu lugar’ [...] ‘ilhas seguras’ [...] ‘que postulam que o
pertencimento ao território implica a representação da
identidade cultural” (Conrado, Campelo & Ribeiro 2015:
217) quanto como “territórios educativos, comunicacionais,
visuais, imagéticos, sonoros, gestuais com dispositivos
narrativos, enunciativos, argumentativos, interpretativos,
imaginativos e estéticos” (Ribeiro 2020b: 127); sem
esquecer que tudo isso foi orientado pelos “tradicionais
espaços africanizados no Brasil, como os quilombos,
terreiros de umbanda/candomblé/mina, movimentos
sociais, rodas de capoeira, escolas de samba, nas entidades”
(idem).
Ainda que seja possível somar aos territórios da
negritude diversos lugares-outros do mundo acadêmico –
como salas de aula, disciplinas, centros e diretórios
acadêmicos, coletivos estudantis, eventos, grupos de
3 A professora Josildeth Consorte foi uma das primeiras
antropólogas brasileira a trabalha no Projeto UNESCO.
4 O professor Kabengele Munanga foi umas das primeiras pessoas
intérpretes do pensamento social brasileiro a construir suas
análises pelas perspectivas raciais e antirracista.
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
10 | MÍLTON RIBEIRO
trabalho, simpósios especiais, cursos, revistas, periódicos e
livros e uma miríade de outras coisas – é importante situar
que são os grupos de estudos e de pesquisas que tem se
conformado ao longo do tempo como verdadeiros
exercícios de territórios da negritude. As experiências de
coletivos estudantis têm gerado grande impacto também,
mas principalmente nas normas institucionais e agendas
políticas (dentro e fora da universidade). No entanto, é nos
grupos de estudos e de pesquisas que muita das vezes
atualizamos as referências e sacolejamos as estruturas das
disciplinas, propondo novas leituras para antigos debates e
sugerindo a ampliação do referencial teórico-conceitual e
metodológico do ensino e da prática antropológica.
A proposição de um fórum acerca do que denominei
aqui de Antropologia Negra Brasileira evidencia que novos
territórios da negritude estão sendo gestados e alimentados
na academia brasileira. Se o gérmen dessa iniciativa foram
as respostas intelectuais construídas por nossas/os mais
velhas/os, nossas ancestralidades, confrontando as
perspectivas racistas de longa duração, que nos querem ver
sucumbir, cabe a nós elaborarmos novos caminhos na luta
antirracista. Como já diria um conhecido adágio da
militância negra: “Eles combinaram de nos matar, mas nós
combinamos de não morrer”. Portanto, nós – antropólogas
negras e antropólogos negros – não sucumbiremos!
Referências Bibliográficas:
AMADOR DE DEUS, Zélia. 2019. Ananse tecendo teias na
diáspora: uma narrativa de resistência e luta das
herdeiras e herdeiros de Ananse. Belém: Secult/PA.
CONRADO, Mônica; CAMPELO, Marilu & RIBEIRO, Alan.
2015. Metáforas da cor: morenidade e territórios da
negritude nas construções de identidades negras na
Amazônia Paraense. Afro-Ásia, 51: 213-246.
CUNHA, José Alipio de Oliveira. 2017. “Em busca de um
espaço: a linguagem gestual no candomblé de Angola. À
memória de Marlene de Oliveira Cunha”. Cadernos de
Campo, n. 26, v. 1: 15-41.
DU BOIS, Willian Eduard Burghardt. 2021. As almas do
povo negro. São Paulo: Veneta.
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
O PROBLEMA II - “COMO É A SENSAÇÃO DE SER UM PROBLEMA?” | 11
GONZALEZ, Lélia. 2018. “Racismo e sexismo na cultura
brasileira”. In: Primavera para as rosas negras: Lélia
Gonzalez em primeira pessoa. Diáspora Africana:
Editora Filhos da África. p. 190-214.
GONZALEZ, Lélia & HASENBALG, Carlos. 1982. Lugar de
negro. Rio de Janeiro: Marco Zero.
MULLINGS, Leith. 2013. “Interrogando el racismo. Hacia
una Antropología antirracista”. Revista CS, v. 12: 325-
374.
OLIVEIRA, Thiago; RIBEIRO, Milton & VENANCIO, Vinícius.
2021. “O PROBLEMA - Localizando a Antropologia
Brasileira: contribuições para pensar corpo, lugar e a
geopolítica da produção de conhecimento”. Novos
Debates, v. 7, n. 1.
PALERMO, Zulma. 2019. “Alternativas locais ao
globocentrismo”. Revista Epistemologia do Sul, v. 3, n.
2: 88-99.
PEREIRA, Luena Nascimento Nunes. 2020. “Alteridade e
raça entre África e Brasil: branquidade e
descentramentos nas Ciências Sociais brasileiras”.
Revista de Antropologia, 63(2): 1-14.
PINHO, Osmundo. 2019. “A antropologia no espelho da
raça”. Novos Olhares Sociais, v. 2, n. 1: 99-118.
QUERINO, Manuel. 1980 [1918]. “O colono preto como fator
da civilização brasileira”. Afro-Ásia, n.13: 143-158.
RAMOS, Alberto Guerreiro. 1995. Introdução crítica à
Sociologia Brasileira. Rio de Janeiro: Editora UFRJ.
RIBEIRO, Alan & FAUSTINO, Deivison. 2017. Negro tema,
negro vida, negro drama: estudos sobre masculinidades
negras na diáspora. Transversos, n. 10: 163-182.
RIBEIRO, Mílton. 2020a. “O negro-lugar do homem preto
brasileiro – episódios de racismo cotidiano em AmarElo
(2019)”. Crítica Histórica, v. 11, n. 22: 131-152.
RIBEIRO, Mílton. 2020b. “Eu decido se ‘cês vão lidar com
king ou se vão lidar com kong”: homens pretos,
masculinidades negras e imagens de controle na
sociedade brasileira. Revista Humanidades e Inovação,
v. 7, n. 25: 117-134.
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
12 | MÍLTON RIBEIRO
SILVA, Marcus; SILVA, Flavia; ALESSIO, Polliana & SILVA,
Ana Luiza. 2021. “‘Do facão ao bisturi’: entrevista com a
antropóloga Vera Rodrigues”. Novos Debates, v. 7, n. 2.
WALSH, Catherine. 2007. “¿Son posibles unas ciencias
sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las
epistemologías decoloniales”. Nómadas, n. 26: 102-113.
NOVOS DEBATES, 7(2): E7226, 2021
Você também pode gostar
- O Genocídio do negro brasileiro: Processo de um Racismo MascaradoNo EverandO Genocídio do negro brasileiro: Processo de um Racismo MascaradoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (9)
- Texto 3 João Freire 2014 - A Sociologia e o TrabalhoDocumento13 páginasTexto 3 João Freire 2014 - A Sociologia e o TrabalhodurbanAinda não há avaliações
- Carneiro. Racismo, Sexismo e Desigualdade No BrasilDocumento12 páginasCarneiro. Racismo, Sexismo e Desigualdade No Brasilmjohannak0% (3)
- Manuel Querino e A Formação Do 'Pensamento Negro' No Brasil, de A.S.A. GuimarãesDocumento23 páginasManuel Querino e A Formação Do 'Pensamento Negro' No Brasil, de A.S.A. GuimarãesSabrina Gledhill100% (1)
- Democracia RacialDocumento22 páginasDemocracia RacialajlapriaAinda não há avaliações
- Democracia Racial PDFDocumento23 páginasDemocracia Racial PDFMísia FiúzaAinda não há avaliações
- Racialismo e Antirracismo No Pensamento Social BrasileiroDocumento8 páginasRacialismo e Antirracismo No Pensamento Social Brasileiroflick5719Ainda não há avaliações
- Ponencia Dissidentes Da Nação - Pensamento Social e Diásporico de Lelia e Abdias Do NascimentoDocumento10 páginasPonencia Dissidentes Da Nação - Pensamento Social e Diásporico de Lelia e Abdias Do NascimentofernandocpradoAinda não há avaliações
- Psicologia SocialDocumento7 páginasPsicologia SocialErick RizentalAinda não há avaliações
- O Bloqueio Epistemológico No Brasil e A PsicologiaDocumento11 páginasO Bloqueio Epistemológico No Brasil e A PsicologiaAdriana OliveiraAinda não há avaliações
- GT 08 - Uma Leitura Decolonial Sobre A Humilhação Social (Márcio F. Souza)Documento18 páginasGT 08 - Uma Leitura Decolonial Sobre A Humilhação Social (Márcio F. Souza)eloinagullarAinda não há avaliações
- Ser QuilombolaDocumento10 páginasSer QuilombolahaborelaAinda não há avaliações
- Silva - EXPERIÊNCIAS INTELECTUAIS NEGRASDocumento7 páginasSilva - EXPERIÊNCIAS INTELECTUAIS NEGRASHeráclio TavaresAinda não há avaliações
- Lelia Gonzalez e Seu Lugar Na AntropologDocumento34 páginasLelia Gonzalez e Seu Lugar Na AntropologLuane Bento Dos SantosAinda não há avaliações
- Angela Figueiredo e Ramón Grosfoguel Sobre Intelectuais Negros Na Universidade PDFDocumento6 páginasAngela Figueiredo e Ramón Grosfoguel Sobre Intelectuais Negros Na Universidade PDFleoamphibioAinda não há avaliações
- 62428-Texto Do Artigo-198223-1-10-20230628Documento13 páginas62428-Texto Do Artigo-198223-1-10-20230628brubzfreitasAinda não há avaliações
- AMAURI Mendes PereiraDocumento7 páginasAMAURI Mendes PereiraGustavo FordeAinda não há avaliações
- Democracia Racial - o Ideal, o Pacto e o MitoDocumento16 páginasDemocracia Racial - o Ideal, o Pacto e o MitoEstefani Leitzke100% (1)
- Artur Ramos e Controle SocialDocumento18 páginasArtur Ramos e Controle SocialPedro Jardel PereiraAinda não há avaliações
- Os Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoDocumento24 páginasOs Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoMelquisedeque da silva romanoAinda não há avaliações
- Tyego, Artigo 5 (No 10)Documento20 páginasTyego, Artigo 5 (No 10)ANDERSON AUGUSTO MOTA SERRAAinda não há avaliações
- Breve Historico Psicologico Brasileiro Sobre Relações Etinicos RaciaisDocumento14 páginasBreve Historico Psicologico Brasileiro Sobre Relações Etinicos RaciaisRicardo AlvesAinda não há avaliações
- Nina Rodrigues e o Discurso Sobre As Raças Na Formação Da Nação BrasileiraDocumento16 páginasNina Rodrigues e o Discurso Sobre As Raças Na Formação Da Nação BrasileiraFlávia FerreiraAinda não há avaliações
- Dora 01Documento46 páginasDora 01Vera Lúcia CarvalhoAinda não há avaliações
- Carneiro Racismo Sexismo e Desigualdade No Brasil PDFDocumento12 páginasCarneiro Racismo Sexismo e Desigualdade No Brasil PDFAngela Vanessa Epifanio0% (1)
- A "Democracia Racial" e A Negação Do Racismo No BrasilDocumento6 páginasA "Democracia Racial" e A Negação Do Racismo No Brasiladriano cesar montagnaAinda não há avaliações
- Lilia Moritz - Questão Racial No BrasilDocumento8 páginasLilia Moritz - Questão Racial No BrasilRafael Zacca100% (1)
- A Pobreza No Paraíso TropicalDocumento15 páginasA Pobreza No Paraíso TropicalAlexAinda não há avaliações
- 632 114 PBDocumento27 páginas632 114 PBAndressa QueirozAinda não há avaliações
- Sintese Sociologia BrasileiraDocumento5 páginasSintese Sociologia Brasileiragui.xcbAinda não há avaliações
- FLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Documento12 páginasFLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Rhavier Pereira100% (1)
- Questão Racial e EtnicidadeDocumento2 páginasQuestão Racial e EtnicidadeFlávia MendesAinda não há avaliações
- Sintese Sessão SeisDocumento4 páginasSintese Sessão Seisgui.xcbAinda não há avaliações
- Luitgarde Oliveira Cavalcanti BarrosDocumento8 páginasLuitgarde Oliveira Cavalcanti BarrosMoa MJrAinda não há avaliações
- Sexualidade Indentidade Historiografia Brasileira RagoDocumento35 páginasSexualidade Indentidade Historiografia Brasileira RagothaisAinda não há avaliações
- Denilson Questões Acerca Do Genocídio Negro No Brasil XDocumento24 páginasDenilson Questões Acerca Do Genocídio Negro No Brasil XRogério HaesbaertAinda não há avaliações
- Preconceito racial: modos, temas e temposNo EverandPreconceito racial: modos, temas e temposAinda não há avaliações
- A Mulher Negra Na Sociedade BrasileiraDocumento11 páginasA Mulher Negra Na Sociedade BrasileiraLucas PiresAinda não há avaliações
- Resenha Atitudes RaciaisDocumento5 páginasResenha Atitudes RaciaisJoão ViannaAinda não há avaliações
- ORTIZ, Renato. Imagens Do BrasilDocumento25 páginasORTIZ, Renato. Imagens Do BrasilSherida ColassoAinda não há avaliações
- Aula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Documento38 páginasAula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Graziele ArraesAinda não há avaliações
- Genocídio Negro BrasileiroDocumento26 páginasGenocídio Negro BrasileiroLusia SouzaAinda não há avaliações
- Paper de Gabriela Bacelar ANPOCSDocumento22 páginasPaper de Gabriela Bacelar ANPOCSlivia.paivaAinda não há avaliações
- A Ideologia Do Branqueamento e o Mito Da Democracia RacialDocumento4 páginasA Ideologia Do Branqueamento e o Mito Da Democracia RacialPriscila AlcantaraAinda não há avaliações
- A Questão Racial Brasileira Na Obra de Florestan Fernandes - João BaptistaDocumento8 páginasA Questão Racial Brasileira Na Obra de Florestan Fernandes - João BaptistaFelipe SimiqueliAinda não há avaliações
- E-Book - Educação Das Relações Étnico - RaciaisDocumento30 páginasE-Book - Educação Das Relações Étnico - RaciaisThaís EscobarAinda não há avaliações
- Dicionario Do Ensino de Sociologia Verbe PDFDocumento31 páginasDicionario Do Ensino de Sociologia Verbe PDFLu Flores0% (1)
- A Questão Racial Nas Letras Das Canções Populares BrasileirasDocumento17 páginasA Questão Racial Nas Letras Das Canções Populares BrasileirasAyawo NoletoAinda não há avaliações
- Cap.14 Soc 2anoDocumento16 páginasCap.14 Soc 2anoisaqueslk16Ainda não há avaliações
- Mario Augusto Da Silva - Um Pensamento Social Negro Brasileiro, Após Os Anos 1930 PDFDocumento16 páginasMario Augusto Da Silva - Um Pensamento Social Negro Brasileiro, Após Os Anos 1930 PDFGabriel RolembergAinda não há avaliações
- História e Cultura Afro-BrasileiraDocumento6 páginasHistória e Cultura Afro-BrasileiraMarta OliveiraAinda não há avaliações
- Transviadas - 1.3 - Por Uma Sociologia Das AbjeçõesDocumento7 páginasTransviadas - 1.3 - Por Uma Sociologia Das Abjeçõespriscila hernandesAinda não há avaliações
- Antonio Sergio Alfredo Guimarães - A Questão Racial Na Política BrasileiraDocumento22 páginasAntonio Sergio Alfredo Guimarães - A Questão Racial Na Política BrasileiraVIVIANE SOUZA DE ALMEIDAAinda não há avaliações
- Antro 3Documento37 páginasAntro 3Marcos MuriloAinda não há avaliações
- Apostila Curso Racismo Estrutural e Práticas AntirracistasDocumento113 páginasApostila Curso Racismo Estrutural e Práticas AntirracistasHenrique Garcez de OliveiraAinda não há avaliações
- Améfrica Ladina e A Crítica À DemocraciaDocumento27 páginasAméfrica Ladina e A Crítica À DemocraciaLuana De Souza Alves PereiraAinda não há avaliações
- Osório Desigualdade Racial e Mobilidade SocialDocumento33 páginasOsório Desigualdade Racial e Mobilidade SocialwednesdayerAinda não há avaliações
- SODRÉ - Muniz-Uma Genealogia Das Imagens Do RacismoDocumento5 páginasSODRÉ - Muniz-Uma Genealogia Das Imagens Do RacismoRuth MacielAinda não há avaliações
- GuiaProf MaterialEducativoENDocumento60 páginasGuiaProf MaterialEducativoENIndiara TainanAinda não há avaliações
- A Situação Do Negro No Brasil No Sec Xix e XXDocumento15 páginasA Situação Do Negro No Brasil No Sec Xix e XXPâmelaFernandaNunesRomeroAinda não há avaliações
- st01 27Documento2 páginasst01 27Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- V Seminario GrioDocumento221 páginasV Seminario GrioGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Dissertacao ArquiteturaPublicaModernaDocumento128 páginasDissertacao ArquiteturaPublicaModernaGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- AQUESTODERAANASLEISEDUCACIONAIS DALDB1961ALEI10639 LucimarDiasDocumento17 páginasAQUESTODERAANASLEISEDUCACIONAIS DALDB1961ALEI10639 LucimarDiasGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Flavia-Costa1989, 20Documento7 páginasFlavia-Costa1989, 20Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Deposito Café AlteradoDocumento1 páginaDeposito Café AlteradoGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre A Exploracao Do Homem e Da Natureza Na Sociedade CapitalistaDocumento9 páginasReflexoes Sobre A Exploracao Do Homem e Da Natureza Na Sociedade CapitalistaGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Medeiros V Barros A 2011Documento3 páginasMedeiros V Barros A 2011Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- A Escrevivência de Espacialidades: A Escrita Do Corpo Negro em Espaços Alternativos Da Periferia de Belém-PaDocumento17 páginasA Escrevivência de Espacialidades: A Escrita Do Corpo Negro em Espaços Alternativos Da Periferia de Belém-PaGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- A Covid-19 Nos Marajós: Reflexões Sobre Territórios Negros e EducaçãoDocumento22 páginasA Covid-19 Nos Marajós: Reflexões Sobre Territórios Negros e EducaçãoGisele GuimaraesAinda não há avaliações
- O Epistemicídio e Os Desafios Enfrentados Por Arquitetas (Os) Negras (Os) .Documento7 páginasO Epistemicídio e Os Desafios Enfrentados Por Arquitetas (Os) Negras (Os) .Gisele GuimaraesAinda não há avaliações
- Comunicado46 2018Documento25 páginasComunicado46 2018AnonimoAinda não há avaliações
- Desiderio Murcho-Ensinar A FilosofarDocumento28 páginasDesiderio Murcho-Ensinar A FilosofarWalter MarcianoAinda não há avaliações
- ATIVIDADE PRÁTICA - MOVIMENTO EM QUEDA LIVRE - NOTA 100 - Passei DiretoDocumento10 páginasATIVIDADE PRÁTICA - MOVIMENTO EM QUEDA LIVRE - NOTA 100 - Passei Diretonailson madrugaAinda não há avaliações
- Berçario I e Ii IntegralDocumento130 páginasBerçario I e Ii IntegralIane Larissa Silva Lima Ribeiro100% (1)
- Livro 1 - O Que Ensinar em Educação ProfissionalDocumento22 páginasLivro 1 - O Que Ensinar em Educação ProfissionalBatista OliverAinda não há avaliações
- André Scholl de Almeida Trabalho em Vieira PintoDocumento174 páginasAndré Scholl de Almeida Trabalho em Vieira PintoDauto da SilveiraAinda não há avaliações
- 2024 Online Geografia 01 Historia-Do-Pensamento-GeograficoDocumento6 páginas2024 Online Geografia 01 Historia-Do-Pensamento-GeograficoLucas Ferreira AlvesAinda não há avaliações
- Fernanda Da S, Santos - RESUMO METODOLOGIA DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE OPERAÇÕESDocumento4 páginasFernanda Da S, Santos - RESUMO METODOLOGIA DE PESQUISA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E GESTÃO DE OPERAÇÕESFernanda SilvaAinda não há avaliações
- 2-Historia e Historiografia - Escola MétodicaDocumento6 páginas2-Historia e Historiografia - Escola Métodicaflavio benitesAinda não há avaliações
- Ano16 181 1975Documento54 páginasAno16 181 1975Wesley LeiteAinda não há avaliações
- Vozes SilenciadasDocumento80 páginasVozes SilenciadasValdeciOliveiraAinda não há avaliações
- Construcao de Terrarios Cassiano Santos Rodrigues PDFDocumento13 páginasConstrucao de Terrarios Cassiano Santos Rodrigues PDFmirianamorymAinda não há avaliações
- Metodologia Da Pesquisa e Do Ensino de Artes UAB-UECEDocumento78 páginasMetodologia Da Pesquisa e Do Ensino de Artes UAB-UECEAlan Emmanuel Oliveira dos SantosAinda não há avaliações
- A Psicologia Enquanto Profissão PDFDocumento3 páginasA Psicologia Enquanto Profissão PDFMariana MesquitaAinda não há avaliações
- Günther - Psicologia Ambiental - Algumas Considerações Sobre Sua Área de Pesquisa e Ensino PDFDocumento16 páginasGünther - Psicologia Ambiental - Algumas Considerações Sobre Sua Área de Pesquisa e Ensino PDFRaila BarbosaAinda não há avaliações
- Teste T StudentDocumento15 páginasTeste T StudentAndréBastosAinda não há avaliações
- A Prática Pedagógica e o Desafio Do Paradigma EmergenteDocumento5 páginasA Prática Pedagógica e o Desafio Do Paradigma EmergenteFernando MarquesAinda não há avaliações
- Modelo de LaudoDocumento14 páginasModelo de LaudojaequisonAinda não há avaliações
- Planejamento Diário de AulaDocumento5 páginasPlanejamento Diário de AulaRaquel FincklerAinda não há avaliações
- Critica Hermeneutica o Direito - Do Quadro Referencial Teorico A Articualçao de Uma Posição Filosofica Sobre o DireitoDocumento16 páginasCritica Hermeneutica o Direito - Do Quadro Referencial Teorico A Articualçao de Uma Posição Filosofica Sobre o DireitoJoão Victor LeãoAinda não há avaliações
- É Duro Ver Milhões de Pessoas Sendo Enganadas Pela Mitologia CristãDocumento82 páginasÉ Duro Ver Milhões de Pessoas Sendo Enganadas Pela Mitologia CristãDivino Moab100% (1)
- Resumo de Medicina LegaDocumento10 páginasResumo de Medicina LegaTeo SilvaAinda não há avaliações
- PIAB3Documento8 páginasPIAB3escolamusicafaetecmalhermesAinda não há avaliações
- Plano de Aula Diário Reformulado PRIMEIRO E SEGUNDO ANODocumento11 páginasPlano de Aula Diário Reformulado PRIMEIRO E SEGUNDO ANOpedrodaalmei32Ainda não há avaliações
- Caderno de Ciências Humanas Vol.1Documento276 páginasCaderno de Ciências Humanas Vol.1Thayse BachmeyerAinda não há avaliações
- Artigo 2 Educação InclusivaDocumento12 páginasArtigo 2 Educação InclusivaNildo SouzaAinda não há avaliações
- Compreensao e Interpretacao de Textos Parte IDocumento58 páginasCompreensao e Interpretacao de Textos Parte IJosé Ivan DantasAinda não há avaliações
- BERNOULLI RESOLVE Português - Volume 1Documento24 páginasBERNOULLI RESOLVE Português - Volume 1TauaneAinda não há avaliações
- Musculação Aplicações Praticas - Luis Carlos ChiesaDocumento87 páginasMusculação Aplicações Praticas - Luis Carlos ChiesarodrigoppretoAinda não há avaliações