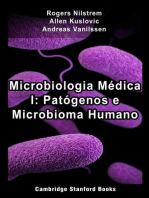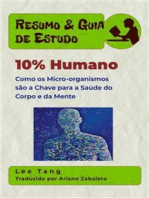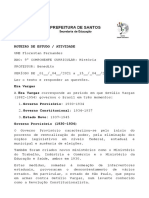Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 1
Aula 1
Enviado por
Maria MatosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aula 1
Aula 1
Enviado por
Maria MatosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
INTRODUÇÃO
Em Farmacologia dos Antibióticos, Antifúngicos e Antivirais abordaremos o
mecanismo de ação, as propriedades farmacocinéticas, os efeitos colaterais e as
contraindicações dos fármacos utilizados no tratamento das infecções ocasionadas
por micro-organismos. Para tanto, iniciaremos este curso com uma breve introdução
sobre as principais particularidades destes agentes.
Também conhecidos como micróbios ou germes, são as formas de vida que
originalmente só poderiam ser vistas com auxílio de um microscópio óptico e/ou
eletrônico. Elas incluem as bactérias, fungos, vírus, protozoários e algas
unicelulares. Embora microscópios e associados às doenças causadas por eles nas
plantas e nos animais, os micro-organismos são de extrema importância para a vida
do planeta. Na verdade, uma parcela muito restrita corresponde aos causadores das
doenças humanas, animais e vegetais. A tabela a seguir mostra alguns dos
benefícios que os micro-organismos trazem para o homem e para o planeta:
GRUPO IMPORTÂNCIA
Bactérias - Produtores de antibióticos e antifúngicos - Fixadoras
de nitrogênio
- Controle biológico
- Produtores de alimentos: iogurte
- Produtores de ácidos e vitaminas
- Sintetizadores de hormônios por engenharia
genética
Algas - Fotossintetizantes
Vírus - Controle biológico
- Engenharia genética (vetores de terapia genética)
Microorganismos - Base da cadeia alimentar
marinhos
Fungos - Produtores de alimentos: queijos, cerveja, pão,
vinho, rum, uísque.
- Produtores de antibióticos e antifúngicos - Maiores
decompositores do planeta - Controle biológico
Microbiologia
Os micro-organismos são objetos de estudo da Microbiologia (do grego
mikrós, que significa pequeno + bíos, vida + lógos, estudo). A expansão desta
ciência se deu pela descoberta do químico francês Louis Pasteur. Por volta de 1850,
o cientista foi procurado para ajudar a solucionar um problema relacionado à
qualidade dos vinhos. Analisando amostras de vinhos de alta e baixa qualidade,
observou que havia micro-organismos diferentes nos lotes. Pasteur acreditava que
estes eram responsáveis por essas características. Buscou, então, eliminar os
micro-organismos existentes no suco de uva, que seria usado para a produção do
vinho através do aquecimento.
Posteriormente introduziu uma amostra de vinho de boa qualidade e
consequentemente os micro-organismos nele existentes. O processo de
aquecimento e imediato resfriamento do suco resultaram na eliminação dos
microorganismos preexistentes sem perder as características da bebida. Pasteur
inoculou o suco com o vinho de alta qualidade buscando provê-lo dos micro-
organismos que transformariam o açúcar em álcool, processo conhecido como
fermentação, obtendo então um vinho com a mesma qualidade. O método de
aquecimento e resfriamento ficou conhecido como pasteurização e é amplamente
empregado na indústria alimentícia até hoje.
Pasteur, na mesma época trabalhou com uma doença que dizimava os gados
na Europa, conhecida como antraz. Para muitos cientistas da época era inaceitável
a ideia de que as doenças fossem causadas por seres invisíveis. Além de Pasteur, o
médico alemão Robert Koch acredita que os micro-organismos eram causadores de
diversas patologias. Koch descobriu que o agente causador do antraz era uma
bactéria em forma de bastão. O médico também é reconhecido pela descoberta do
micro-organismo responsável pela tuberculose, doença devastadora do século XIX.
Utilizando-se das melhorias da microscopia e de técnicas de coloração, visto
que muitos micro-organismos são incolores, juntamente com suas técnicas de
inoculações e cultivo em meio de cultura, Koch conseguiu isolar a bactéria
causadora da doença, vindo a receber o Prêmio Nobel, em 1905, por sua
descoberta. O século XIX e início do século seguinte foram extremamente
importantes para o avanço da microbiologia. Muitos outros cientistas posteriormente
contribuíram para a compreensão do universo dos micro-organismos e as
consequentes aplicações destas descobertas na pesquisa, indústria e medicina.
Um nome não menos importante foi o do microbiologista escocês Alexander
Fleming, que pela sua descoberta quase acidental deu início à produção de drogas
que combatessem os micro-organismos. A contaminação por bolor em algumas
placas de Petri, nas quais ele cultivava bactérias, chamou sua atenção – nelas, ao
redor do fungo, as colônias de bactérias não cresciam. Este estranho fenômeno
levou a descobrir que o fungo ali instalado, o Penicillium notatum, liberava uma
substância que inibia o crescimento dos outros micro-organismos.
Surgia, então, a penicilina. Outros cientistas haviam anteriormente identificado
e produzido substâncias com ação antibiótica, porém a descoberta de Fleming era
um grande avanço, pois a produção da penicilina tornou-se rapidamente viável a
partir de um organismo simples como um tipo de bolor. Muitas doenças de origem
bacteriana puderam ser combatidas eficientemente com a nova substância.
Micro-organismos e a Saúde Humana
A primeira ideia que temos em relação aos micro-organismos e a nossa
saúde são as doenças acarretadas por estes. Porém, é importante saber que nossa
relação com esses seres é mais do que isso. Em nossa pele, cavidade oral, vias
aéreas superiores, órgãos genitais e principalmente no aparelho digestivo
apresentamos uma população ampla e diversificada de micro-organismos. Estima-se
que na cavidade oral haja pelo menos 800 espécies. Nos intestinos as bactérias
predominantemente do gênero Staphylococccus e Streptococcus formam a
chamada flora intestinal, onde se aproveitam do local em que se encontram obtendo
proteção e nutrientes e nos proporcionam alguns benefícios, como: a síntese de
vitaminas K e do complexo B e auxílio no metabolismo de fibras e açucares que não
somos capazes de metabolizar.
Além disso, a competição com outros micro-organismos danosos ao nosso
organismo garante a não proliferação nos protegendo de possíveis infecções.
Quando, por alguma razão, os micro-organismos que se encontram
harmonicamente em determinada região do nosso corpo pare em outra região,
podem nos trazer problemas sérios. Assim como aqueles provenientes do ambiente
externo, trazidos pela ingestão de água e alimentos contaminados, pelo ar, pelo
contato com fluidos corporais de um indivíduo infectado, pela mordida e insetos ou
animais. Há inúmeras doenças de origem microbiana, como abordaremos no
decorrer deste curso. Cada grupo possui características e formas de ação diferentes
importantes de se conhecer para iniciar uma terapia farmacológica eficaz.
GRUPO PRINCIPAIS PATOLOGIAS
Bactérias Cólera (Vibrio cholerae)
Coqueluche (Bordetella pertussis)
Escarlatina (Streptococcus pyogenes)
Febre tifoide (Salmonella typhi)
Gonorreia ou blenorragia (gonococo de Neisseria gonorrhoeae)
Hanseníase ou Lepra (bacilo Mycobacterium lepra)
Leptospirose (Leptospira interrogans)
Meningite meningocócica (Neisseria meningitidis)
Pneumonia bacteriana (Streptococcus pneumoniae)
Sífilis (Treponema pallidum)
Tétano (bacilo Clostridium tetani)
Tracoma (Chlamydia trachomatis)
Tuberculose (bacilo Mycobacterium tuberculosis)
Fungos Candidíase vulvogenital, urogenital, oral (Candida sp.)
Pitiríase versicolor (Malassezia spp)
Vírus Hepatite B e C (Hepatitis B e C)
Varicela (Herpes-zóster)
Influenza (Influenza vírus)
Herpes (Herpes simplex)
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) Citomegalovírus (Herpes)
Bactérias: Definição e Princípios Gerais
A Bacteriologia é a ciência que estuda a morfologia, ecologia, genética e
bioquímica das bactérias. As bactérias consistem em micro-organismos procariontes
unicelulares de dimensões microscópicas de diâmetro de 0,2 a 1,5 µm e
comprimentos de 1-6 µm. Podem ser divididas de acordo com a sua morfologia em
formas esféricas (cocos), bastonetes (bacilos) e espiriladas (espirilos).
(A) (B) (C)
Figura – Morfologia das bactérias. (A) cocos; (B) bacilos e (C) espirilos.
As bactérias podem estar dispostas entre si como:
- cocos isolados;
- diplococos = cocos aos pares,
- estreptococos = cocos em cadeia
- estafilococos = grupos de cocos irregulares
A figura abaixo mostra de forma esquemática simplificada as principais
estruturas de uma célula bacteriana.
Figura– Ilustração de uma célula bacteriana.
A célula bacteriana é circundada pela parede celular, que é essencial para o
seu crescimento e desenvolvimento normais. O peptidoglicano é um componente
heteropolimérico da parede celular, que proporciona estabilidade mecânica rígida
em virtude da sua estrutura entrelaçada com alto índice de ligação cruzada. Esse
componente é constituído de cadeias de glicano, que consistem em filamentos
lineares de dois aminoácidos alternados (N-acetilglicosamina e ácido
Nacetilmurâmico) com ligações cruzadas estabelecidas por cadeias peptídicas. A
biossíntese do peptidoglicano implica cerca de 30 enzimas bacterianas e pode ser
dividida em três etapas.
A biossíntese do peptidoglicano implica cerca de trinta enzimas bacterianas e
pode ser dividida em três estágios. Na primeira etapa, ocorre a formação do
precursor difosfato de uridina (UDP)-acetilmuramil-pentapeptídeo, no citoplasma.
Para completar a formação deste precursor é necessário o acréscimo de um
dipeptídeo, D-alanil-D-alanina. A síntese deste dipeptídeo implica a recemização
prévia da L-alanina e condensação catalisada pela D-alanil-D-alanina sintetase.
Durante as reações da segunda etapa ocorre ligação do UDP-
acetilmuramilpentapeptídeo e da UDP-acetilglicosamina, com liberação dos
nucleotídeos de uridina, formando um longo polímero. A terceira e última etapa
consiste no término da ligação cruzada. Essa etapa é efetuada através de uma
reação de transpeptidação que ocorre fora da membrana. A enzima transpeptidase
está ligada à membrana celular. O resíduo de glicina terminal da fonte
pentapeptídica liga-se ao quarto resíduo do pentapeptídico (D-alanina) de outro
arcabouço, liberando o quinto resíduo (também D-alanina).
Figura – Reação de transpeptidase no Staphylococcus aureus.
O peptidoglicano é exclusivo das células procarióticas e não tem nenhum
correspondente nos eucariontes, conferindo à parede celular uma rigidez e proteção
à célula bacteriana quando em meio hipotônico. Nos micro-organismos
Grampositivos a parede celular tem uma espessura constituída de 50-100
moléculas, ao passo que nas bactérias Gram-negativas é constituída de apenas
uma ou duas moléculas. A figura a seguir ilustra a estrutura e a composição da
parede celular das bactérias.
Figura – Comparação da estrutura e da composição das paredes celulares
dos micro-organismos gram-positivo e gram-negativo.
No interior da parede celular encontra-se a membrana plasmática, que se
assemelha à da célula eucariótica, consistindo numa dupla camada de fosfolipídios e
proteínas. Todavia, nas bactérias a membrana plasmática não contém qualquer
esterol, podendo permitir a penetração diferencial de substâncias químicas.
Funciona como uma membrana seletivamente permeável, dotada de mecanismos
de transporte específicos para diversos tipos de nutrientes. A membrana plasmática
e a parede celular formam, juntas, o envoltório.
O citoplasma encontra-se no interior da membrana plasmática. Contém todas
as proteínas solúveis, a maioria com funções enzimáticas, os ribossomos envolvidos
na síntese de proteínas, todos os pequenos intermediários moleculares contidos no
metabolismo e os íons inorgânicos. Ao contrário das células eucariontes, as
bactérias não possuem núcleo; em vez disso há material genético na forma de um
único cromossoma que encerra toda a informação genética da célula. Além da
ausência de núcleo, as bactérias não apresentam mitocôndria e toda a energia
produzida provém da membrana plasmática.
Além dessas estruturas essenciais algumas bactérias apresentam outros
componentes, como uma cápsula e/ou um ou mais flagelos, porém uma estrutura
adicional importante na terapia com antibióticos consiste na membrana externa, fora
da parede celular, que é encontrada nas bactérias gram-negativas e que pode
impedir a penetração de alguns agentes antibióticos. A membrana externa é
composta por uma dupla camada lipoproteica formada por lipopolissacarídeos,
lipoproteínas e porinas.
A porção lipídica do lipopolissacarídeo está inserida na face externa da dupla
camada e a porção polissacarídica exposta na superfície da célula bacteriana. As
lipoproteínas contribuem para a fixação da membrana externa ao peptidoglicano
através de uma ligação covalentemente. As porinas são moléculas de proteínas que
formam poros de passagem através da membrana externa, envolvidos no transporte
de moléculas.
As reações bioquímicas que ocorrem na célula bacteriana envolvidas na sua
formação e crescimento constituem alvos potenciais para ataque pelos antibióticos.
Existem três classes principais de reações:
Classe I = utilização de glicose ou de alguma fonte de carbono
alternativa para a produção de energia (ATP) e de compostos de
carbono simples (como os intermediários do ciclo dos ácidos
tricarboxílicos), que são utilizados como precursores na classe
seguintes;
Classe II = a utilização da energia e dos precursores para produzir
todas as pequenas moléculas necessárias: aminoácidos, nucleotídeos,
fosfolipídios, aminoaçúcares e fatores de crescimento;
Classe III = organização das pequenas moléculas em macromoléculas:
proteínas, RNA, DNA, polissacarídeos e peptidoglicano.
As reações de classe I não representam alvos promissores devido não existir
diferença significativa entre as bactérias e as células humanas quanto à obtenção de
energia a partir da glicose, e mesmo que tal via fosse bloqueada, as bactérias
poderiam utilizar uma grande variedade de outros compostos (aminoácidos, lactato,
etc) como alternativa. Entretanto, as reações de classe II e III constituem alvos
melhores, visto que algumas vias das reações II não ocorrem nas células humanas e
das reações III são alvos de toxicidade seletiva, já que cada célula deve produzir
suas próprias macromoléculas, que não podem ser obtidas no meio ambiente e que
as vias são exclusivas destes micro-organismos. Ao longo deste curso veremos que
muitos dos mecanismos de ação dos antibióticos consistem nestas reações
essenciais à célula bacteriana.
Antibioticoterapia
Seleção do antibiótico
A seleção ideal e criteriosa dos antimicrobianos
na terapia das doenças infecciosas exige
discernimento clínico e um conhecimento detalhado
dos fatores farmacológicos e microbiológicos. Infelizmente, a escolha de um
antibiótico é feita de forma sem considerar o possível micro-organismo infectante ou
as características farmacológicas do fármaco.
Em geral, os antibióticos são utilizados de três maneiras gerais – como
terapia empírica, como terapia definitiva e como terapia profilática ou preventiva.
Quando usado como terapia “empírica” ou inicial, o antibiótico deve oferecer
“cobertura” contra todos os patógenos prováveis, visto que o micro-organismo ou os
micro-organismos infectantes ainda não foram identificados. Esse tipo de escolha é
potencialmente perigoso tendo em vista que o diagnóstico pode ser mascarado se
não forem obtidas culturas apropriadas antes do início da antibioticoterapia.
Várias técnicas laboratoriais simples e rápidas para o exame dos tecidos
infectados para a identificação imediata de bactérias consistem na análise da
secreção infectada ou do líquido corporal por coloração pelo método de Gram Os
testes deste tipo auxiliam a reduzir a lista de patógenos potenciais e permitem uma
seleção mais racional da antibioticoterapia inicial. Uma vez identificado o
microorganismo infectante deve-se instituir a terapia antimicrobiana definitiva com
esquema de espectro estreito e baixa toxicidade para completar o tratamento. A
indicação de um antibiótico deve preconizar a seletividade contra o agente infectante
com menor grau de toxicidade ou reações alérgicas no indivíduo a ser tratado.
Para efetuar uma escolha apropriada do fármaco é essencial obter
informações sobre o padrão de sensibilidade do micro-organismo infectante. Haja
vista a ocorrência ampla de variações na sensibilidade de diferentes cepas da
mesma espécie bacteriana aos antibióticos. Os testes mais comumente utilizados
são os testes de difusão em disco, os testes de diluição em ágar ou caldo e os
sistemas de testes automatizados.
Técnica de difusão em disco = efetuado aplicando-se discos de papel
de filtro comercialmente disponíveis, impregnados com uma quantidade específica
do fármaco, a uma superfície de ágar sobre a qual foi espalhada uma cultura do
microorganismo. Após 18-24 h de incubação determina-se o tamanho da zona clara
de inibição ao redor do disco. O diâmetro da zona depende da zona da atividade do
fármaco contra a cepa do teste. O teste fornece informações qualitativas ou
semiquantitativas sobre a sensibilidade de determinado micro-organismo a um
antibiótico específico.
Figura– Teste de difusão em disco utilizando discos de ampicilina e de
vancomicina.
Técnica de diluição = emprega antibióticos em diluições com
concentrações seriadas em meios de ágar sólido ou caldo contendo uma cultura do
microorganismo que está sendo testado. A menor concentração do agente capaz de
inibir um crescimento visível depois de 18-24 h de incubação é conhecida como
concentração inibitória mínima (CIM).
Sistemas automáticos = utilizam método de diluição em caldo. A
densidade óptica de uma cultura do micro-organismo isolado em caldo, com
incubação na presença de fármaco, é medida por densitometria de absorbância. A
CIM é a concentração em que a densidade óptica permanece abaixo do limiar
predeterminado de crescimento bacteriano.
Figura – Materiais utilizados nas técnicas de diluição (esquerda) e sistemas
automáticos (direita).
Profilaxia da infecção com antibióticos
A grande maioria dos antibióticos é administrada mais para prevenir a
ocorrência de infecção que para tratar alguma doença estabelecida. Essa prática é
responsável por alguns dos erros mais flagrantes no emprego desses fármacos. A
antibioticoprofilaxia é altamente eficaz em algumas situações clínicas, ao passo que,
em outras, é totalmente desprovida de valor e pode, na verdade, ser deletéria.
A profilaxia pode ser utilizada para proteger indivíduos sadios contra a
aquisição ou a invasão de micro-organismos específicos aos quais estão expostos.
Como exemplos têm o uso da rifampicina para evitar a meningite meningocócica em
pessoas que têm estreito contato com um caso ou a prevenção da gonorreia ou
sífilis após contato com uma pessoa infectada. Outro exemplo comum é a profilaxia
utilizada para evitar uma variedade de infecções em pacientes submetidos a
transplante de órgãos ou a quimioterapia para o câncer.
Existem critérios estabelecidos para a seleção de fármacos específicos, bem
como dos pacientes que devem receber profilaxia com antibióticos para vários
procedimentos, como inserção de próteses, cirurgias cardíacas e neurocirurgias. O
uso mais extenso e mais estudado deste tipo de prática consiste em prevenir as
infecções da ferida após procedimento cirúrgico. As cefalosporinas são comumente
empregadas nessa forma de profilaxia.
Você também pode gostar
- 4 - Mapa Mental LDB 33 PagsDocumento33 páginas4 - Mapa Mental LDB 33 PagsAdriano Lima SilvaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Microbiologia e Parasitologia (Enfermagem)Documento139 páginasAula 1 - Microbiologia e Parasitologia (Enfermagem)Mariana Afonso100% (3)
- Microbiologia - Resumo I - O Mundo Microbiano e VocêDocumento4 páginasMicrobiologia - Resumo I - O Mundo Microbiano e VocêJhonatan Maraschin100% (1)
- Bulas de Remedio Como TrabalharDocumento4 páginasBulas de Remedio Como TrabalharMaria Helena Souza100% (1)
- Microbiologia E ParasitologiaDocumento65 páginasMicrobiologia E ParasitologiaAlya VerdialAinda não há avaliações
- Microbiologia 2Documento23 páginasMicrobiologia 2vivian.reismetodista.brgtempaccount.comAinda não há avaliações
- Princípios Básicos de Microbiologia Aula 1Documento26 páginasPrincípios Básicos de Microbiologia Aula 1QUIMICO CLINICO WILLIANS SANCHEZ100% (10)
- Análise Microbiológica de Alimentos - Aula Microbiologia Dos AlimentosDocumento150 páginasAnálise Microbiológica de Alimentos - Aula Microbiologia Dos AlimentosJuliana Arvani ZanioloAinda não há avaliações
- Pre Enem Roberto AssuncaoDocumento4 páginasPre Enem Roberto AssuncaobispoedineideeesophiaAinda não há avaliações
- Aula Microbiologia 01Documento87 páginasAula Microbiologia 01Francine SorianoAinda não há avaliações
- Origem (Recuperado Automaticamente)Documento25 páginasOrigem (Recuperado Automaticamente)indira garrettAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução A MicrobiologiaDocumento55 páginasAula 1 - Introdução A Microbiologiaapore2024Ainda não há avaliações
- Microbiologia E ParasitologiaDocumento15 páginasMicrobiologia E Parasitologiaflaviane silvaAinda não há avaliações
- 3-Microbiologia Vírus e BactériasDocumento52 páginas3-Microbiologia Vírus e BactériasDenivaldo Silva FerreiraAinda não há avaliações
- Bacteriologia ClínicaDocumento77 páginasBacteriologia ClínicaMaria jose Correa GuzmanAinda não há avaliações
- Introduà à o A Microbiologia AndreiaDocumento29 páginasIntroduà à o A Microbiologia AndreiaFrancine SorianoAinda não há avaliações
- Microbiologia 10156 A1Documento100 páginasMicrobiologia 10156 A1JJ Van der PoelAinda não há avaliações
- 1.1.A. MicroBiotech IntroducÌ Aì oDocumento32 páginas1.1.A. MicroBiotech IntroducÌ Aì oMaria De Lurdes TomasAinda não há avaliações
- 1 - Microorganismos e o Meio Ambiente 2Documento25 páginas1 - Microorganismos e o Meio Ambiente 2Rodrigo S. CostaAinda não há avaliações
- Aula 1 e 2 - Introdução Microbiologia MarinhaDocumento66 páginasAula 1 e 2 - Introdução Microbiologia MarinhaJOAO FRANCISCOAinda não há avaliações
- Transcrição Das AulasDocumento102 páginasTranscrição Das Aulasarthur.pereiraAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introduo - ESTUDANTESDocumento22 páginasAula 1 - Introduo - ESTUDANTESsamueltoddy7Ainda não há avaliações
- Introdução A Microbiologia 2011Documento18 páginasIntrodução A Microbiologia 2011Mariana AngoneseAinda não há avaliações
- Resumo de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia - IntroduçãoDocumento9 páginasResumo de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia - Introduçãogiovanaao88Ainda não há avaliações
- Trabalho 1 de Microbiologia Aldo MafungaDocumento11 páginasTrabalho 1 de Microbiologia Aldo MafungaSanchoAinda não há avaliações
- 1 Introdução Ao Estudo Da MicrobiologiaDocumento28 páginas1 Introdução Ao Estudo Da Microbiologiaamanda CostaAinda não há avaliações
- Apostila Microbiologia AtualizadaDocumento92 páginasApostila Microbiologia AtualizadaLino Seiji YoshizaneAinda não há avaliações
- Curso de Engenharia de Alimentos Do IFPA Campus Castanhal Disciplina: Microbiologia de Alimentos IDocumento29 páginasCurso de Engenharia de Alimentos Do IFPA Campus Castanhal Disciplina: Microbiologia de Alimentos IFlavio SouzaAinda não há avaliações
- Sebenta Micro - JCCSDocumento113 páginasSebenta Micro - JCCSDaniela PaivaAinda não há avaliações
- Revista Eletrônica - Microbiologia em FocoDocumento33 páginasRevista Eletrônica - Microbiologia em FocoCassiano HerreraAinda não há avaliações
- Aula 1 e 2 Microb. Geral 2019Documento106 páginasAula 1 e 2 Microb. Geral 2019Marcelo CorreaAinda não há avaliações
- Introduçaõ MicrobiologiaDocumento14 páginasIntroduçaõ MicrobiologiaMaria FernandaAinda não há avaliações
- Introdução A Microbiologia e BacteriologiaDocumento46 páginasIntrodução A Microbiologia e BacteriologiaLOURDES ARAUJOAinda não há avaliações
- Micologia e Virologia CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FUNGOSDocumento24 páginasMicologia e Virologia CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FUNGOSRomênia Health-Fit-NatureAinda não há avaliações
- Introdução A MicrobiologiaDocumento32 páginasIntrodução A MicrobiologiaValentina CrisAinda não há avaliações
- Cap3 PDFDocumento178 páginasCap3 PDFFelipe PachecoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Apresentação Da Ementa e Introdução A MicrobiologiaDocumento35 páginasAula 1 - Apresentação Da Ementa e Introdução A MicrobiologiaRaphael MachadoAinda não há avaliações
- Aula Microbiologia Fap (Salvo Automaticamente)Documento51 páginasAula Microbiologia Fap (Salvo Automaticamente)annaAinda não há avaliações
- História Da Microbiologia Morfologia E Citologia Bacteriana BIODocumento51 páginasHistória Da Microbiologia Morfologia E Citologia Bacteriana BIOLarissa Passos de JesusAinda não há avaliações
- Aula 1 Introduo e Histrico Da MicrobiologiaDocumento8 páginasAula 1 Introduo e Histrico Da MicrobiologiaGustavo Silva De Paiva PereiraAinda não há avaliações
- Objectos e Métodos de Estudo em MicrobiologiaDocumento19 páginasObjectos e Métodos de Estudo em MicrobiologiaCarlos BulaundeAinda não há avaliações
- Introdução À MicrobiologiaDocumento125 páginasIntrodução À MicrobiologiaPaacoal Gervasio MussaAinda não há avaliações
- Medicina Do Tra. E BiossegurançaDocumento25 páginasMedicina Do Tra. E Biossegurançassantosthaynara1Ainda não há avaliações
- Enfermagem - Módulo I - Microbiologia e ParasitologiaDocumento273 páginasEnfermagem - Módulo I - Microbiologia e ParasitologiamgabycbAinda não há avaliações
- Introdução MicrobiologiaDocumento27 páginasIntrodução Microbiologiamonica guerreiro100% (1)
- Microbiologia e Biologia Dos FungosDocumento85 páginasMicrobiologia e Biologia Dos FungosFardilha Catarina100% (1)
- Microbiologia Geral Aula 1 Parte ADocumento15 páginasMicrobiologia Geral Aula 1 Parte AdrysoaresAinda não há avaliações
- EAD MicrobiologiaDocumento19 páginasEAD MicrobiologiaNelson Armando ChilauleAinda não há avaliações
- Fundamentos de MicrobiologiaDocumento20 páginasFundamentos de MicrobiologiaRafael Henrique Rodrigues AlvesAinda não há avaliações
- BiotecnologiaDocumento16 páginasBiotecnologiaRosana Galev OliveiraAinda não há avaliações
- MicrobiologiaDocumento14 páginasMicrobiologiayasminAinda não há avaliações
- Trabalho de Biologia - 1Documento5 páginasTrabalho de Biologia - 1Emanuela GeovanaAinda não há avaliações
- RESUMO Micro-P1Documento17 páginasRESUMO Micro-P1Diogo RabettiAinda não há avaliações
- MicrobiologiaDocumento14 páginasMicrobiologiaVitor MartinezAinda não há avaliações
- Os Agentes BiologicosDocumento31 páginasOs Agentes BiologicosClaudinei SilvaAinda não há avaliações
- Auto Avaliacao AdencioDocumento5 páginasAuto Avaliacao AdencioabondioAinda não há avaliações
- Microbiologia Médica I: Patógenos e Microbioma HumanoNo EverandMicrobiologia Médica I: Patógenos e Microbioma HumanoAinda não há avaliações
- Resumo & Guia De Estudo - 10% Humano: Como Os Micro-Organismos São A Chave Para A Saúde Do Corpo E Da MenteNo EverandResumo & Guia De Estudo - 10% Humano: Como Os Micro-Organismos São A Chave Para A Saúde Do Corpo E Da MenteNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Castro AlvesDocumento9 páginasCastro AlvesRayane OliveiraAinda não há avaliações
- 9ano Historia A Era Vargas Nono AnoDocumento6 páginas9ano Historia A Era Vargas Nono AnoLuis MartinezAinda não há avaliações
- Eja - Observação de Sala de Aula e EnrevistaDocumento3 páginasEja - Observação de Sala de Aula e EnrevistaFranckSiilvaAinda não há avaliações
- Aula 2 Classicismo Quinhentismo Barroco ArcadismoDocumento14 páginasAula 2 Classicismo Quinhentismo Barroco ArcadismoThaysa Maria100% (1)
- Aula 7Documento20 páginasAula 7julianaAinda não há avaliações
- Press Release Do Resultado Da Equatorial Do 4t20Documento108 páginasPress Release Do Resultado Da Equatorial Do 4t20Matheus RodriguesAinda não há avaliações
- Av. Subst e Comp de Ausência 1 EtapaDocumento2 páginasAv. Subst e Comp de Ausência 1 EtapaMarcelo Henrique BastosAinda não há avaliações
- Mini E Book de Criacao de Personagens em Amigurumi by Linhas de Algodao Difxzn PDFDocumento21 páginasMini E Book de Criacao de Personagens em Amigurumi by Linhas de Algodao Difxzn PDFAlexa Mimi100% (3)
- Assédio Moral - Cartilha PetrobrasDocumento24 páginasAssédio Moral - Cartilha PetrobrasBlan Tavares100% (10)
- CHAKRAS - Parte IDocumento3 páginasCHAKRAS - Parte IAdriana ZiniAinda não há avaliações
- Acido TranexâmicoDocumento3 páginasAcido TranexâmicoFarmacia dra debora100% (1)
- Acordo de Quotistas Carmen SouzaDocumento100 páginasAcordo de Quotistas Carmen Souzalincolnpx100% (2)
- Dados de Joinville e HinoDocumento1 páginaDados de Joinville e HinoSandra Mari da Costa de FrançaAinda não há avaliações
- 05 de Maio M AvaliaçãoDocumento3 páginas05 de Maio M AvaliaçãoRosa Monica Palhano De LimaAinda não há avaliações
- Teste de Avaliação N.º 6 (Nível A)Documento3 páginasTeste de Avaliação N.º 6 (Nível A)Martim PaivaAinda não há avaliações
- Os Cinco MinistériosDocumento5 páginasOs Cinco MinistériosHenrique CorrêaAinda não há avaliações
- FilosferaDocumento20 páginasFilosferafelipe0% (1)
- Ao Som Sa Viola (Folklore) - Gustavo Barroso PDFDocumento760 páginasAo Som Sa Viola (Folklore) - Gustavo Barroso PDFLeandro Torres100% (2)
- Tabela Multas DetranDocumento15 páginasTabela Multas Detranchm_designerAinda não há avaliações
- Segmentação Estratégica de MercadoDocumento18 páginasSegmentação Estratégica de MercadoluizbandeiraAinda não há avaliações
- PDF Croche Boneca Lina Receita de Amigurumi GratisDocumento10 páginasPDF Croche Boneca Lina Receita de Amigurumi GratisAngelica AssisAinda não há avaliações
- Sequencia Didática - TeatroDocumento5 páginasSequencia Didática - TeatroAlice Nascimento100% (1)
- Comprovante Da Transferência de Conta Corrente para Conta CorrenteDocumento1 páginaComprovante Da Transferência de Conta Corrente para Conta CorrenteFavio Alexander GomezAinda não há avaliações
- Fiscal de TributosDocumento12 páginasFiscal de TributosFrancisco carpegeano Felix da silvaAinda não há avaliações
- Avaliação Da Utilização de Um Simulador Solar para Calibração Indoor de PiranômetrosDocumento6 páginasAvaliação Da Utilização de Um Simulador Solar para Calibração Indoor de PiranômetrosPatríciaAinda não há avaliações
- A QUÍMICA NA FARMÁCIA - Atividade de Química Na EJADocumento2 páginasA QUÍMICA NA FARMÁCIA - Atividade de Química Na EJAmarcostayroneAinda não há avaliações
- ETICADocumento85 páginasETICAjacqueline moraes torresAinda não há avaliações
- PDF - Lei 8.080.90Documento69 páginasPDF - Lei 8.080.90Dandara HeitorAinda não há avaliações