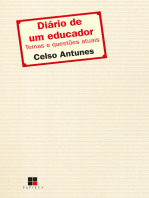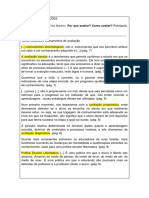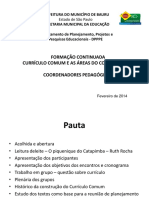Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Avaliação Dialógica
Avaliação Dialógica
Enviado por
Mel SampaioDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Avaliação Dialógica
Avaliação Dialógica
Enviado por
Mel SampaioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AVALIAO DIALGICA Desafios e Perspectivas
JOS EUSTQUIO ROMO
1998
Publicado sob o mesmo ttulo pela Editora Cortez, em So Paulo, em 1998 (1. edio), 1999 (2. edio), 2001 (3. edio), 2002 (4. edio) e 2003 (5. edio, ampliada com um Posfcio).
SUMRIO
Apresentao.................................................................................................. Introduo....................................................................................................... Parte I - A Ideologia na Educao e na Avaliao.......................................... Captulo I - Cincia e Ideologia.................................................................. 1. Cincia e Ideologia na Perspectiva Positivista................................. 2. Cincia e Ideologia na Perspectiva Dialtica.................................... Captulo II - Educao e Ideologia ............................................................ Captulo III - Avaliao e Ideologia............................................................ Parte II - Avaliao da Aprendizagem............................................................. Captulo I - O que Avaliao................................................................... 1. Consideraes Preliminares............................................................. 2. A Escola e as Concepes de Avaliao.......................................... Captulo II - Medida e Avaliao................................................................ 1. Medida.............................................................................................. 2. Avaliao........................................................................................... Parte III - Avaliao Dialgica......................................................................... Captulo I - Concepo da Avaliao Dialgica......................................... Captulo II - As Virtudes do Erro.............................................................. Captulo III - Etapas da Avaliao Dialgica.............................................. 1. Identificao do que vai ser avaliado................................................ 2. Construo, negociao e estabelecimento de padres.................. 3. Construo dos instrumentos de Medida e de Avaliao................. 4. Procedimento da Medida e da Avaliao.......................................... 5. Anlise dos resultados...................................................................... Captulo IV - Conselhos de Classe e Avaliao (uma experincia)........... Observaes Finais......................................................................................... Referncias Bibliogrficas..............................................................................
03 06 13 14 14 16 22 26 33 34 34 39 44 45 53 57 58 61 69 70 74 76 78 79 82 91 94
APRESENTAO
Em 1984, trabalhando na Secretaria Municipal de Educao de Juiz de Fora, percebemos que as maiores dificuldades apresentadas pelos professores da rede acabavam por esbarrar nos problemas da avaliao da aprendizagem de seus alunos. Levantamentos, estudos e pesquisas revelaram, em avaliaes externas s escolas, que tanto havia egressos de srie ou de grau sem a menor condio da certificao recebida, como havia alunos reprovados em perfeitas condies de enfrentar a srie subseqente ou, at mesmo, de concluir seu grau. Imediatamente, os membros da equipe tcnica levantavam uma srie de hipteses, que variavam das mais simplistas, baseadas na condescendncia ou na exigncia prepotente dos diversos professores, at as mais complexas, fundamentadas nas teorias econmicas, sociais, culturais ou pedaggicas mais sofisticadas. poca, desenvolvia-se, em algumas escolas da municipalidade, o Projeto "Interao entre Educao Bsica e Contextos Culturais Especficos"2, numa articulao da Secretaria Municipal de Educao com a Secretaria de Cultura do Ministrio da Educao. Nas escolas do Projeto", o registro dos resultados das verificaes de aprendizagem apresentava mdias acima das demais escolas. Travou-se ento uma polmica: de um lado, os defensores do Projeto Interao... atribuam o sucesso dos alunos s inovaes por ele introduzidas no desenvolvimento das atividades escolares; de outro, os que dele no participavam, a ele debitavam uma certa "facilitao", que falsificava os resultados reais. Provocado por toda essa situao, mas sem qualquer pretenso de oferecer trabalho original, mas apenas uma sntese da literatura at ento produzida sobre o tema, propusemo-nos a condensar os estudos especializados disponveis e, ao mesmo tempo, sistematizar experincias que vivenciramos anteriormente, na qualidade de professor de 1. grau, em vrias escolas3. Da resultou o Manual de Subsdios; Avaliao Qualitativa (ROMO, 1984). No era a primeira vez, nem seria certamente a ltima, que nos defrontvamos com uma tensa situao que afetava especialistas, professores, alunos e pais, em decorrncia da centralidade da avaliao da aprendizagem no
2 Uma avaliao sobre o desenvolvimento deste projeto no Brasil est contido na publicao do MinC/IPHAN (1996). 3 A maior parte das experincias mais inovadoras, porm, vivenciamo-las nos Colgios Vital Brasil (Juiz de Fora) e Wellington (So Paulo), cujos diretores, respectivamente, Professor Antnio Detoni Filho e Professor Wellington Moraes Folster abriram espao para que elas acontecessem. A eles, registro meu reconhecimento, extensivo a todos quantos puderam compartilhar de nossas "audcias realistas" no campo da avaliao do rendimento escolar.
sistema educacional, de seu impacto na vida de todos os agentes educacionais e da complexidade dos problemas por ela gerados. De l para c, nas andanas por todo o pas, defrontando-nos com os professores das redes pblicas, especialmente os das municipais, e constatamos o carter reiterativo das dificuldades em torno do mesmo tema. E diante das inmeras solicitaes de cursos e palestras sobre ele, resolvemos retomar o trabalho de 1984, atualizando-o tanto em termos das mais novas reflexes sobre o assunto, como tentando enriquec-lo com a anlise de outras experincias. Por outro lado, desenvolvendo trabalhos em mbitos mais amplos que o da escola, da sala de aula e das relaes professor/aluno, no Ministrio da Educao e junto s Secretarias Estaduais e Municipais de Educao, percebemos que as dificuldades relativas avaliao da aprendizagem eram extensivas avaliao institucional e de desempenho. No MEC, a ausncia de um rgo encarregado de analisar, em nvel nacional, o desempenho do Sistema Educacional Brasileiro, nos diversos graus de ensino, somava-se a falta de bases de dados atualizadas, dada a descontinuidade dos esforos pela constituio de um sistema nacional de avaliao. Nos ltimos anos, o Ministrio vem tentando superar essas lacunas com o Sistema de Avaliao da Educao Bsica (SAEB) e com a promessa de implantao de um sistema de avaliao dos cursos de ensino mdio e de graduao, nos moldes do que a CAPES j faz na ps-graduao. Infelizmente porm, at o momento da redao deste trabalho, neste ltimo caso, reduziu a avaliao aplicao do provo verificao da competncia de recmgraduados atravs de uma prova escrita gerando uma srie de crticas e de resistncias plenamente justificadas. Justificadas porque no se avalia todo um curso superior simplesmente atravs do desempenho de seus egressos, numa nica verificao de aprendizagem; alm disso, o diplomado no pode ser o responsvel exclusivo pela qualidade do ensino que lhe foi ministrado; finalmente, o Ministrio no pode reter o diploma ameaa que vem fazendo dos que se recusarem a se submeter ao provo, pois seu direito certificao foi adquirido mediante uma relao contratual bilateral, pactuada no vestibular, nas matrculas e nos xitos nas avaliaes da aprendizagem realizadas durante o curso. Aos Estados, alm das mesmas carncias, salvo algumas excees, faltam quadros com capacidade tcnico-profissional para levarem adiante um programa sistemtico de avaliao de desempenho dos recursos humanos voltados para o ensino e para a avaliao institucional. No nvel dos municpios o problema se agrava, pelas mesmas razes, porm exacerbadas. No que diz respeito avaliao de desempenho do pessoal do magistrio, as pontuais e poucas tentativas previstas h muito tempo nos planos de carreira estaduais e s mais recentemente inseridas nos municipais encontravam e encontram as mais renitentes resistncias do movimento docente, particularmente se se destinam ao credenciamento das progresses funcionais. Alis, ainda que haja unanimidade proclamada, nos ltimos anos, quanto necessidade de avaliao dos diversos atores, agentes, insumos e
instituies educacionais nos diversos graus de ensino, sua efetivao tem encontrado as mesmas resistncias, s vezes veladas, nas artimanhas tcnicopoltico protelatrias no estamos preparados, preciso aprofundar mais a discusso etc. s vezes explcita, na denncia de sua legitimidade e dos riscos de sua manipulao perseguidora-clientelista. Embora considerando-o relativamente vlido no contexto de vulnerabilidade das relaes interfuncionais dos diversos segmentos dos sistemas educacionais brasileiros, sempre que o ltimo argumento aparece, vem-me mente uma indagao que, ainda que resultante de mera impresso, deve encontrar algum fundamento numa anlise dos mecanismos de defesa: Quem atribui a outrem a possibilidade de manipular instrumentos que podem prejudic-lo, no est subestimando a possibilidade e competncia da prpria resistncia organizada? Nessas ocasies, fortalece-se em mim a convico da necessidade de participao dos agentes escolares na gesto democrtica, incluindo-se nela a negociao socializada dos critrios e padres de avaliao de desempenho. Como se pode perceber, o problema da avaliao inclui questes de ordem poltica, econmica, cultural e pedaggica. Em primeiro lugar, a natureza de seu processamento e de seus resultados depende da correlao de foras dentro do sistema. Em segundo, as implicaes e os resultados da avaliao afetam a economia dos sistemas educacionais em termos de sua produtividade, ao mesmo tempo que impactam as finanas familiares estipndios com o estudos e retardamento do engajamento dos filhos na fora economicamente ativa como tambm a remunerao dos trabalhadores do ensino, se so levados em conta para as progresses funcionais. A cultura pedaggica brasileira, em terceiro lugar, no tem qualquer tradio sobre o tema. Finalmente, do ponto de vista pedaggico, surgem questes tcnicas, dado o carter incipiente dos estudos dessa natureza no pas. Por tudo isso, embora sabendo da abrangncia e complexidade do assunto, resolvemos retom-lo neste trabalho, no s por sua relevncia social, pelas razes j apontadas, como tambm em funo de uma demanda reiterativa que tem chegado ao Instituto Paulo Freire sobre os problemas relativos avaliao da aprendizagem. Se fssemos registrar agora os nomes de todas as pessoas e instituies de que somos devedores para o desenvolvimento deste trabalho, certamente cometeramos imperdoveis omisses, tal o nmero de secretarias estaduais e municipais de educao, dirigentes, escolas, professores, estudantes e especialistas, com os quais temos comungado reflexes e extrado proveitosos ensinamentos. Porm, como devido nos encerramentos de apresentaes como esta, os erros, omisses e equvocos so da inteira responsabilidade de seu autor e no podem ser debitados seno na sua conta pessoal. Jos Eustquio Romo Juiz de Fora, vero de 1998.
INTRODUO
Muitas adjetivaes tm sido apostas ao termo "avaliao", numa tentativa quase desesperada de superao das concepes em voga e de construo de modelos alternativos, para que professores, administradores e formuladores de polticas educativas4 mais globais, sejam mais consistentes e conseqentes na aferio do desempenho de alunos, de unidades escolares e de sistemas educacionais. Percebe-se, em quase todos os intentos, a busca de uma terminologia que esteja mais atualizada com as teorias da moda, como tambm com as concepes mais consentneas com as questes educacionais emergentes neste final de sculo, ora privilegiando os processos, ora destacando a importncia dos resultados; ora centrando-se no rendimento escolar do aluno, ora focalizando o desempenho institucional; ora visando a correo de rumos, ora classificando terminalidades5. Em que pese o mrito desses esforos e alguns estudos e experincias fizerem avanar efetivamente as concepes e os processos avaliativos as instituies e os agentes educativos ainda manifestam posturas, no mnimo, contraditrias, quer atravs de uma tranqilidade arrogantemente indiferente, quer por uma impotncia imobilista, diante dos resultados catastrficos apresentados pelos sistemas e pelos alunos. A primeira atitude decorre de quem imagina no ter nada com isso, pois cumpriu seu dever com competncia e os alunos que so incapazes ou no fizeram a sua parte por uma srie de fatores, ou as condies da estrutura e do sistema que no permitem resultados melhores, a despeito dos esforos conjuntos de docentes e discentes. J a segunda denuncia o mito da insuperabilidade dos obstculos colocados pela complexidade da relao pedaggica, mormente nos momentos de avaliao da aprendizagem. Infelizmente, tanto nos cursos de formao de docentes quanto nas eventuais capacitaes, atualizaes e aperfeioamentos, o tema da avaliao tem sido pouco tratado. Mesmo na extensa literatura especializada disponvel no to extensa em Lngua Portuguesa a maior parte do melhor das publicaes dos ltimos anos tem se caracterizado por uma linguagem que
4 H uma certa displicncia sinttico-semntica quase sempre presente na literatura especfica brasileira, quando se trata de utilizar os qualificativos educativo e educacional. O primeiro denota mais a origem, a intencionalidade e o promotor; enquanto o segundo sugere o destino, a relevncia e o beneficirio do ato pedaggico e do sistema. Na medida do possvel, tentaremos ser um pouco mais precisos na sua utilizao, embora, algumas vezes tenhamos que lanar mo de expresses j consagradas no jargo pedaggico e que no respeitam tal preciso. Por ter sido empregado mais freqentemente, o galicismo educacional acabou por adquirir um significado mais global. O Dicionrio Aurlio registra-os como sinnimos. Em espanhol, predomina educativo. No ingls encontramos registro (Websters Collegiate Dictionary. Mass: G & C. Merriam Co., 1947) dos dois termos educative e educational mas o segundo que tem tido presena quase que exclusiva nos textos pedaggicos. 5 Ver bibliografia ao final deste trabalho.
dificulta o acesso dos professores do Ensino Fundamental. que no extremo da linha da fragilidade encontra-se esse docente, cuja formao, na maioria das vezes, no lhe permite entender uma produo voltada para a avaliao da aprendizagem e que tem se caracterizado por manuais excessivamente tcnicos ou por obras mais filosficas, que tanto espantam pela impenetrabilidade, quanto pela parca aplicabilidade. Por isso, apenas uma pequena parcela da populao docente enfrenta os cursos e a bibliografia especficos. E os que ousam arrostar o desafio, quase sempre se desacoroam nas tentativas concretas de aplicao do que ouvem/lem, ainda que algumas reflexes tericas lhes permitam prazerosa fruio intelectual. Este trabalho parecer, em alguns momentos, principalmente para os que esto em busca das inovaes messinicas, bvio, simplista. No nos move, porm, a menor inteno de produzir um texto que marcar poca na histria da literatura especializada, nem de fornecer modelos aplicveis em quaisquer situaes mesmo porque estamos convencidos de que eles no existem. No nos conforta sequer a convico sobre a facilidade do tema. Anima-nos, no entanto, a possibilidade de dar uma contribuio concreta ao assunto, agregando e consolidando as contribuies da produo existente sobre ele, tentando construir pontes entre as reflexes mais atualizadas e a prtica cotidiana da avaliao na sala de aula. Na maior parte das vezes que dermos exemplos de situaes concretamente vividas, o objetivo de tentar comprovar a possibilidade de traduo, na realidade palpvel, de idias e concepes previamente eleitas por sua consistncia interna; e no de demonstr-las como as mais adequadas em quaisquer momentos de avaliao. O relato de alguns fracassos completaria, de modo mais adequado, o intento de demonstrar a tese de que uma teoria s ganha legitimidade no interior de uma reflexo ou pesquisa concreta, permitindo a construo de mecanismos e instrumentos de interveno transformadora da realidade. Entretanto, tais exemplificaes aumentariam, demasiadamente, este estudo e ele fugiria aos seus objetivos especficos: oferecer subsdios, relativos ao tema da avaliao da aprendizagem, especialmente aos professores e demais agentes da escola bsica atualmente os mais pressionados e os mais deserdados pelos pensadores de ponta. Essa presso encontra seus fundamentos, contemporaneamente, em razes econmicas, polticas e sociais. Vrias naes do mundo, mesmo no conjunto das mais desenvolvidas6, tm se preocupado com a qualidade da educao dispensada regularmente s suas crianas e adolescentes, quando se percebem ultrapassadas por outras, no quadro de uma economia mundializada e extremamente competitiva. H um certo consenso de que a insero competente nessa disputa depende do bom desempenho da escola, porque o saber bsico sistematizado tem sido considerado como o insumo mais relevante para a produtividade e a qualidade dos produtos e servios gerados pelo sistema produtivo. A concorrncia mundial torna obrigatrio o novo padro
6 Nos Estados Unidos, por exemplo, a implantao de sistema de avaliao de desempenho escolar resultou no Relatrio Gardner (1983), cognominado Uma Nao em Perigo, ao se constatar o declinante desempenho de estudantes norte-americanos, quando comparados com os de outros pases.
de produtividade, configurado pela combinao de cincia, tecnologia avanada e grandes investimentos (SCHWARZ, 1992: 11). E se a concorrncia econmica impulsionada agora por uma alavancagem intelectual no mais por explorao extensiva de matria-prima barata e intensiva de mo-de-obra desqualificada a concorrncia poltica, usufruindo de uma trgua precria proporcionada pela Pax Americana, explode nas manifestaes dos nacionalismos, exigindo mais eficincia, eficcia, efetividade e relevncia7 de seus sistemas educativos, particularmente na luta pelo resgate das identidades especficas. Alm disso, a proclamao da liberdade como valor essencial e universal, com seu corolrio de auto-afirmao da cidadania, tem reconhecido, cada vez mais, o direito universal educao e tem cobrado, quer dos sistemas pblicos, quer dos privados, a qualidade dos servios oferecidos. H um reconhecimento progressivo do valor da educao bsica, no mais apenas como fator de erudio e ilustrao plido verniz que encobre o vazio do fundo mas como instrumento poltico-scio-tecnolgico-cultural estratgico. Pela primeira vez na Histria, fala-se at que os interesses do capital e os do trabalho esto coincidindo neste particular: o sistema econmico tem cobrado educao bsica de qualidade, por necessitar mais de flexibilidade no comportamento produtivo do trabalhador do que de adestramentos especializados para a linha de montagem8. Talvez, por isso mesmo, o tema tenha se tornado mais freqente na literatura pedaggica contempornea, superando-se, progressivamente, um certo "ensasmo", to tpico na produo brasileira. Alm disso, os quadros tericos esto sendo, cada vez mais, testados em situaes concretas ou, pelo menos, resultando de sistematizaes da reflexo sobre elas9. Porm, nunca demais reiterar que no podemos esquecer nossas prprias condies e devemos trabalhar com o que temos: escolas caindo aos pedaos, sem bibliotecas, professores cansados, desmotivados ou indiferentes, por receberem salrios miserveis e terem de dar aulas em vrias unidades durante a mesma jornada escolar; alunos que no tm qualquer tipo de material bibliogrfico em casa, pais analfabetos ou semi-analfabetos etc. Temos de construir nossos prprios modelos, ainda que busquemos referncias externas de sucesso, para trabalharmos nessa dura realidade. E se a luta deve continuar sendo travada em outras frentes, o combate no front da sala de aula com uma
7 A distino entre os conceitos de eficincia, eficcia, efetividade e relevncia foram, exaustiva e adequadamente, tratados por Benno Sander (1995: passim). Eles sero retomados mais adiante, pois embora esse autor os desenvolvesse a propsito da gesto da educao, tentaremos mostrar que eles so mais importantes ainda na discusso dos problemas da avaliao. 8 Ver, a este propsito, o trabalho de Vanilda Paiva, Produo e Qualificao para o Trabalho in: FRANCO e ZIBAS, 1990: 95 a 122. 9 Apenas para citar alguns exemplos, Ana Maria Saul (1991), Menga Ldke e Llia Mediano (1992) e Clarilza Prado de Souza (1993) publicaram trabalhos que no se limitam discusso terica e tcnica da avaliao, mas se estendem tambm interpretao de pesquisas etnogrficas e anlise de experincias concretas mais abrangentes. Da mesma natureza o trabalho de Adriana de Oliveira Lima (1994), resultante de sua tese de mestrado, no qual, embora buscando contrapor a avaliao-construo avaliao-julgamento com base em slido e rico referencial terico, no deixa de analisar casos reiterativos colhidos em situaes concretas.
concepo nascida dessa realidade, para a ela retornar e nela intervir de modo qualitativamente diferente significa arma poderosa nas estratgias da guerra pela transformao social. E ningum constri modelos adequados de abordagem de realidades especficas sem uma competncia prvia para diagnosticar tais realidades. Infelizmente, as matrizes, os modelos e os novos paradigmas tm se desenvolvido mais nos processos de avaliao institucional desempenho de sistemas e subsistemas e tm evoludo menos quando se trata de oferecer subsdios avaliao do aluno na sala de aula. Aqui tm predominado os procedimentos tradicionais, seja pelas razes j apontadas filosofismo e tecnicismo seja pela preguia intelectual da ortodoxia, seja pela fora da inrcia, comodista ou temerosa em relao ao novo. Este trabalho tambm no tem a pretenso de dar respostas conclusivas a todas as questes geradoras e geradas da/pela avaliao educacional no s por causa da sua complexidade, como tambm pela inteno deliberada de centralizar a ateno no ponto focal da aferio do rendimento do aluno, com vistas a oferecer subsdios ao professor da educao bsica. Vrias so os motivos que nos conduziram a esta escolha. l.) A maioria das obras sobre avaliao da aprendizagem tem oscilado quanto aos indicadores de qualidade do ensino. Inmeros estudos tm apresentado os pssimos resultados das escolas brasileiras, destacando, particularmente, o desempenho das escolas pblicas o que , no mnimo, discutvel, dada a precariedade, tanto em termos dos dados levantados, quanto da continuidade desses estudos. Seus resultados s podem ser levados em considerao, sem reservas, se se parte do pressuposto de que no houve rudos na coleta e interpretao de dados, e que a concepo de avaliao adotada era indiscutvel. Alguns desses estudos tm pesquisado a medida do impacto dos insumos oferecidos escola considerados como indicadores de qualidade no rendimento dos alunos. Consideram, portanto, que os fatores negativos do rendimento escolar se encontram no interior da prpria instituio. Outros perseguem os fatores negativos externos escola, ocorrentes no ambiente familiar ou social de origem do aluno. Um terceiro grupo enfatiza mais as deficincias pessoais do prprio aluno10. Em resumo, algumas pesquisas mais cuidadosas tm demonstrado que os insumos pedaggicos tm impactado muito pouco o rendimento do aluno brasileiro. Outras tm comprovado que, independentemente de sua origem, qualquer aluno aprende, desde que inserido em uma ambincia pedaggica adequada s suas caractersticas psicossociais. Assim, para as ltimas a qualificao docente e do pessoal tcnico-administrativo da escola, a poltica salarial aplicada aos professores, a infra-estrutura da unidade escolar, o material
10 Messias Costa (1990: 24) analisou as pesquisas sobre o rendimento escolar no Brasil e no Mundo e constatou quatro grupos de variveis nos relatrios examinados: (i) ambiente escolar, (ii) ambiente domstico e social, (iii) caractersticas pessoais dos alunos e (iv) fatores de natureza psicolgica. Neste trabalho, consideraremos os dois ltimos grupos como um s, dadas as evidentes interfaces e imbricaes em variveis demogrficas (idade, sexo, etc.) e as de natureza psicolgica.
10
didtico disponvel, os mtodos e as tcnicas de ensino adotados so os verdadeiros fatores intervenientes no processo de ensino-aprendizagem. Para as primeiras, ao ambiente extra-escolar que se deve debitar o fracasso do sistema educacional, sendo nele, portanto, que deve se concentrar a ao saneadora ou compensatria, para que as crianas e adolescentes, especialmente os das classes mais desfavorecidas, atravessem os umbrais da escola com um mnimo de pr-requisitos niveladores das oportunidades educacionais. evidente que os fatores sociais interferem no perfil e no desempenho do estudante. Entretanto, a partir da, individualizar o fracasso e socializar o sucesso , no mnimo, cinismo. No cabe clientela adaptar-se escola, mas, ao contrrio, cabe a ela adaptar-se s necessidades especficas de seus alunos, como sugere Ceccon e outros11. Tambm os fatores intra-escolares impactam o rendimento dos alunos. Da concluir que, resolvidos os problemas internos s unidades escolares, o bom desempenho dos estudantes alinhar-se- com os melhores escores do Mundo, fechar os olhos aos dados das avaliaes comparadas e cair numa robinsonada escolar. Trata-se, na realidade, de um processo real de natureza dialtica e que, por isso, deve ser tratado dialeticamente. Ou seja, as produes discentes revelam suas potencialidades e limites, tanto em funo de suas trajetrias sociais e pessoais, quanto dos recursos e obstculos existentes no meio escolar. Em decorrncia, tambm necessrio pensar e agir dialeticamente no que diz respeito relao a ser mantida pelo docente e pela escola com a cultura primeira do aluno: se, por um lado, simplesmente respeitar a condio trazida por ele de seu meio social e familiar pode conden-lo perpetuidade de sua situao original; por outro, impor-lhes padres de desempenho, que no levem em considerao suas condies concretas, pode fortalecer os mais odiosos processos de seletividade e discriminao. Embora possa parecer repetitivo, impe-se a reiterao do princpio de que os pontos de partida so diversos, mas os de chegada devem ser os mesmos. Isto , se o respeito aos traos culturais trazidos pelos alunos de seus primeiros crculos sociais de convivncia estratgia adequada aprendizagem, oferecer-lhes os servios e os produtos culturais a que, at ento, no tiveram acesso princpio de democratizao e de justia distributiva. A escola no somente uma instituio social capitalista e, por isso, aferidora e classificadora. Ela , dialeticamente, numa Sociedade Burguesa, um instrumento de alienao e de libertao, pois tanto ela pode meramente reproduzir os esquemas de discriminao e seletividade extra-escolares, como pode permitir a organizao da reflexo dos dominados sobre as determinaes sociais e sobre sua superao. Ela tanto pode ser o instrumento, por excelncia, de reforo e manuteno do status quo, como pode ser o meio onde os alunos constroem seus instrumentos de interveno qualitativamente superiores na realidade, de modo a mudar o sentido dos processos sociais para os interesses dos dominados. Tudo vai depender do projeto poltico-pedaggico da escola.
11 Depois que Claudius Ceccon, Miguel Darcy de Oliveira e Rosiska Darcy de Oliveira publicaram A vida na escola e a escola da vida (1985), muitos outros estudiosos da questo educacional brasileira incorporaram a tese de que a escola que deve adaptar-se ao aluno, e no o inverso.
11
2.) As dificuldades que os professores da Educao Bsica tm apresentado, ao lidar com o tema da avaliao, tm sido to grandes que, quase sempre, chegam a passar um sentimento de impotncia, lanando-os, ora numa espcie de limbo agonizante, ora no consolo da acomodao. Com relativa dose de razo, a maioria est cansada das inovaes inconsistentes e da efemeridade dos modismos, agravados pela descontinuidade das propostas, implantadas mais pelo narcisismo dos proponentes do que pelo enfrentamento efetivo dos obstculos. E ainda que avaliem os alunos o tempo todo, manifestam uma reao s matrizes avaliativas que denunciam sua prpria responsabilidade e que socializam o fracasso dos alunos com os docentes. 3.) A avaliao da aprendizagem no ensino fundamental merece ateno especial porque geralmente a que se praticam procedimentos avaliativos excludentes, a despeito da garantia constitucional do direito de todos a esse grau de ensino o que significa no s o acesso a ele, mas sua concluso, universalizada para os brasileiros, com sucesso. Como diz Pedro Demo, deve pois ser includente, jamais excludente, ainda que, sempre expresse alguma forma de acompanhar e comparar o desempenho dos alunos. (DEMO, 1996: 10). 4.) A certeza de que a soluo dos problemas da sociedade psindustrial ou "ps-capitalista", como a denominou determinado autor12 passa pela soluo dos especficos da educao; a convico de que o equacionamento adequado das questes de todo o sistema educacional transita pela superao dos impasses e deficincias da educao bsica; e, finalmente, a hiptese de que muitos dos problemas do rendimento no ensino fundamental brasileiro derivam dos processos de avaliao, que nos motivamos para escrever este trabalho, com o fito de mobilizar a comunidade pensante e docente para reflexes sobre o que ocorre na sala de aula. Alm das deficincias no processo de aprendizagem, pensamos que o sistema de promoo implantado nas escolas elementares do pas responsvel pelo artificialismo das situaes e pela precariedade dos instrumentos de avaliao, que tambm podem estar levando os alunos a um registro de desempenho no correspondente competncia efetivamente adquirida no domnio de conhecimentos, habilidades e posturas. Dependendo do processo de avaliao adotado, pode-se recuperar a reflexo sistemtica sobre o planejamento escolar, sobre metas e objetivos, sobre mtodos, sobre tcnicas, sobre procedimentos, sobre instrumentos de medida e sobre a prpria avaliao. Resgata-se, enfim, a possibilidade de verificao do prprio desempenho dos diversos atores escolares, abrindo espao para o replanejamento e para a correo de rumos. Alis, que outras finalidades tem a avaliao seno estas? Alguns julgaro (avaliaro) que exala-se deste trabalho o pretensioso objetivo de superar as teorias at agora apresentadas e de oferecer um modelo
12 Peter Drucker (1993), embora com uma viso burguesa, batizou seu livro com esta expresso. Na Terceira Parte da obra, apesar de o conjunto da obra se colocar na defesa do Capitalismo, o autor desenvolve interessantes reflexes sobre a importncia do conhecimento, o papel da escola e a posio da pessoa instruda nessa sociedade.
12
pronto e acabado que resolver todos os problemas da educao bsica e, por via de conseqncia, todos os problemas do Sistema Educacional Brasileiro. Longe de ns tal pretenso. E no se trata de declarao subjetiva de modstia, mas o simples reconhecimento de que a complexidade do processo de avaliao no admite modelos prontos e acabados. No mximo, ele permite o oferecimento de subsdios, por quem no s procurou beber nas fontes secundrias, como tambm teve a oportunidade de test-los numa prtica de vrios anos prtica essa objeto de uma reflexo coletiva e sistemtica de um grupo de especialistas, professores e estudantes, a quem credito a maior parte do sucesso de nossas experincias comuns. Certamente, muito mais do que os insumos e do que os fatores extraescolares, o relevante a matriz organizacional da escola, que d sentido e determina as formas de utilizao dos insumos, a articulao entre esses insumos e determinada proposta pedaggica e, como conseqncia, as formas pelas quais esses insumos se transformam (ou no) em resultados escolares (WAISELFISZ, 1993, 21). Talvez, fosse mais conveniente falar em matriz poltico-pedaggica da escola, que levaria em conta tanto as condies do alunado que recebe, isto , a interveno dos fatores sociais e familiares13, quanto o cotidiano da relao pedaggica, e teria como horizonte um projeto de nao democraticamente pactuado. Ao retomar a discusso da avaliao da aprendizagem, o que este trabalho pretende o resgate dessa matriz, isto , recuperao do sentido poltico da discusso pedaggica, no no rumo da transformao da escola num comcio, da ctedra num palanque e da aula num discurso eleitoral, mas no de politizar contextualizar o discurso e a proposta pedaggicos. Para melhor explicitar esta ltima colocao, tentaremos um exemplo bem atual. Tem-se discutido muito sobre a necessidade de ampliao da jornada escolar e de capacitao dos professores, para que seja possvel a elevao da qualidade do ensino. Cabe indagar, entretanto, se tal expanso e tal capacitao no agravaro os resultados, se ambas forem propiciadas por uma matriz polticopedaggica alienado-alienante no interior de uma instituio alienado-alienante. Ora, nenhuma das indagaes, dvidas e perplexidades a respeito do desempenho do estudante da escola bsica brasileira pode ser resolvida sem uma slida teoria crtica da educao, portadora de uma concepo da avaliao que respeite o multiculturalismo e, ao mesmo tempo demonstre como necessrio aos alunos. Finalmente, longe de ns a iluso de que basta avaliar para melhorar o desempenho do aluno, da escola e do sistema educacional brasileiros. Porm, se a avaliao, cientificamente consolidada e politicamente justa, no for assumida como condio necessria no suficiente no vemos como nos inscrever, com dignidade, entre os sistemas escolares de qualidade, no milnio que se avizinha.
13 No ser por isso que, ao elencar os elementos constitutivos da matriz organizacional, o autor no leva em considerao esses fatores?
13
PARTE I A IDEOLOGIA NA EDUCAO E NA AVALIAO
14
14 Retomamos aqui reflexes j desenvolvidas em outros trabalhos especialmente em nossa tese de doutorado: Dialtica da Diferena: O Projeto da Escola Cidad frente ao Projeto Pedaggico Neoliberal (1997: 31-49) porque, no momento mesmo em que se nega a existncia de ideologias, a reiterao sobre sua discusso se torna imperiosa, mormente quando nos debruamos sobre a avaliao da aprendizagem que, embora tenha sido at agora um dos procedimentos mais poderosos de alienao e dominao, pode tornar-se numa verdadeira alavanca da educao conscientizadora e libertria.
14
CAPTULO I CINCIA E IDEOLOGIA
Ainda que o termo "ideologia" esteja estigmatizado nos dias que correm, no temos receio de retomar sua anlise, uma vez que, neste trabalho, pretendemos demonstrar que no se trata de qualquer anacronismo epistemolgico, mas de fortes razes cientficas e polticas, dentre as quais destacamos: 1.) Todo e qualquer atividade humana perpassada pela ideologia. 2.) Quanto mais se nega a presena ideolgica em qualquer proposio, mais se ideolgico. 3.) A negao da ideologia no prprio discurso e nas prprias prticas ou o pretenso universalismo das prprias verdades tem impedido o desenvolvimento cientfico e a universalizao da democracia. 4.) O discurso e os procedimentos didtico-pedaggicos hegemnicos no Brasil proclamam-se como desideologizados e a-polticos mas, evidentemente, carregam consigo uma determinada viso de mundo que se pretende verdade indiscutvel, impedindo a manifestao de vises e posturas alternativas. Se a ideologia est presente em todas as atividades humanas e em todas as mensagens, a atividade cientfica e seu respectivo discurso so tambm afetados por ela. Ento, quem faz qualquer trabalho cientfico, alm convencerse e convencer a outrem sobre a verdade de suas concluses, tem a obrigao de desnudar-se ideologicamente. Da, as reflexes, que se seguem, sobre as relaes entre Cincia e Ideologia. Ter-se- tantas definies ou conceitos de cincia e ideologia quantos forem os autores consultados. Entretanto, correndo todos os riscos do reducionismo, pode-se classific-los em dois grandes grupos: os positivistas e os dialticos. 1. Cincia e Ideologia na Perspectiva Positivista No estamos chamando de positivista apenas os discpulos de Auguste Comte positivistas em sentido estrito. Como tambm no estamos cognominando dialticos os seguidores do Marxismo, como se ver mais adiante. O ser positivista ou ser dialtico no depende de uma determinao da vontade, mas da insero do prprio pensamento no universo da Razo Estrutural ou da Razo Dialtica. No grupo dos positivistas devem ser includos todos os que concebem cincia como um quadro pronto e acabado de axiomas, postulados, descries, definies, conceitos, interpretaes, teorias e leis, aplicveis ao conhecimento de parcela da realidade. Para eles, a cincia um "pacote",
15
porque, epistemologicamente, assumem a Razo Positivista e suas implicaes, que sumariamos a seguir. 1.) As definies, os conceitos, os postulados, os axiomas e as leis constituem um discurso, cujo estatuto cientfico determinado pela objetividade. 2.) A objetividade se ope subjetividade e sua validade se constri na estreita correspondncia entre os juzos e a realidade objetiva. 3.) As verdades cientficas so absolutas e, portanto, universais; isto , no admitem contestaes em qualquer tempo e lugar. 4.) O exame da veracidade de uma afirmao deve ser feito pela anlise lgica (verificao da no contradio lgica do discurso), ou compreensiva (estudo do discurso como uma entidade autnoma de dependncias internas), ou imanente (no busca referenciais fora do discurso), ou sinttico-semntica (anlise exclusiva das relaes dos signos entre si e dos signos com seus referentes). 5.) O significado de um discurso esgota-se na literalidade do mesmo, ou seja, na prpria expresso que se encontra todo o significado de uma mensagem. 6.) O discurso cientfico ope-se ao discurso ideolgico, pois este corresponde a uma distoro da realidade15. Enquanto o primeiro se constitui de juzos de fato, o segundo se constri por juzos de valor. Portanto, a ideologia ope-se cincia, na medida em que a primeira corre os riscos das distores derivadas das aspiraes, projees e ideais de seus formuladores, enquanto a segunda se projeta como ssia da realidade. 7.) Ao analista necessrio o distanciamento, para que ele no se envolva e no permita que sua subjetividade afete a objetividade das afirmaes. Em outros termos, para ocorrer a cincia necessrio uma biunivocidade entre as teorias e os fatos por elas enfocados, garantida pela neutralidade do cientista. Para cada ser, fato ou fenmeno existe uma, e apenas uma, forma de conhec-lo; e ela s possvel se o cientista tratar os fatos, mesmo nas cincias sociais, como coisas (DURKHEIM, 1977, XX), isto , externos e distanciados. Se pudssemos reduzir o conceito positivista de cincia num diagrama, teramos:
S O Concluses do Sujeito sobre o Objeto Sujeito Relao de Objeto CINCIA Cognoscente Conhecimento Cognoscvel
15 Marx e Engels, acrescentando que a ideologia nasce de condicionamentos sociais e visa a dominao, tambm usaram este conceito estrito de ideologia (falsificao da realidade) em vrias de suas obras, especialmente em A Ideologia Alem e O Capital. No entanto, a partir de Lnin, o conceito se amplia, cobrindo outras realidades, ao ponto de se admitir, desde ento, uma "ideologia proletria". Tudo leva a crer que o termo foi criado por Antoine Destutt de Tracy (1762-1830?), com a obra Elments d'idologie (1801). Enquanto estiveram nas graas do governo de Napoleo Bonaparte, os "idelogos" no foram molestados por causa de sua "cincia das idias". Porm, cados em desgraa, o Imperador iniciou uma verdadeira onda de "ideofobia" e, desde ento, o vocbulo iniciou uma trajetria semntica comprometedora de sua capacidade epistemolgica.
16
Assim, a Cincia nada mais que o conjunto dos resultados da reflexo de determinado sujeito sobre certo objeto, do qual o primeiro se distancia. De uma maneira geral, o conceito de cincia, desenvolvido ou aplicado pelos professores que militam na Educao Bsica o positivista, dado um velho preconceito de que o ensino deve ter sempre um carter dogmtico... [no se esclarecendo16] que nem tudo est elucidado, que as explicaes no so absolutamente certas, que as teorias se encontram em contnuo processo de renovao e aperfeioamento... (FREIRE-MAIA, 1991: 18). Em suma, os pensadores inscritos no universo da Razo Positivista, em qualquer de suas verses (Positivismo propriamente dito, Funcionalismo, Estruturalismo etc.), tm como idia fixa a busca da correspondncia estrita e perfeita entre as representaes humanas e a realidade (entes, seres e fenmenos) representada. E, mais do que isso, pretendem, na maioria das vezes, ter o monoplio dessa representao, rechaando outras interpretaes da realidade, em nome das verdades universais e absolutas que descobriram atravs de uma rgida lgica. 2. Cincia e Ideologia na Perspectiva Dialtica No grupo dos dialticos incluiremos todos os que concebem cincia como um processo, isto , os que entendem que o problema de uma compreenso positiva [e cientfica no positivista e no cientificista] da realidade torna-se o de uma correo progressiva dos dados da experincia e da reflexo, no sentido de sua insero no Ser, de modo a diminuir as distores, [histrica e] ontologicamente inevitveis (GOLDMANN, 1978: 18). Simplificando, diramos que, neste sentido, a cincia no significa adequao perfeita dos juzos realidade, nem um conhecimento absolutamente certo a orientar uma ao isenta de riscos, mas uma correo progressiva das distores introduzidas pelo entendimento humano na abordagem da realidade, tanto em funo de sua ontologia quanto de sua ideologia. Ou, dizendo de outra maneira, cincia no um estoque de saber irremovvel, mas processo de inovao. Recentemente, a propsito do lanamento do livro O conhecimento cientfico (COSTA, 1997), o jornal Folha de So Paulo (30/11/97), no caderno Mais, trouxe uma longa reportagem sobre o pensador brasileiro Newton Costa, autor das chamadas lgica paraconsistente ou quase-verdade. Em que pese sua verdadeira Filosofia da Tolerncia, Newton Costa passa-nos a impresso de estar buscando uma explicao estrutural para as contradies inerentes s verdades scio-historicamente relativizadas. E, no conseguindo resolver o problema dentro desta racionalidade, contenta-se com a provisoriedade das verdades. Alis, a confisso sobre sua no-especialidade em dialtica na verdade, sua rejeio Razo Dialtica sintomtica e f-lo cair numa verdadeira razo ambgua ou pragmtica.
16 Todas as inseres que fizermos (J. E. Romo), para maior inteligibilidade das citaes, coloc-las-emos entre colchetes.
17
Da posio dialtica tambm devem ser inferidas vrias implicaes: 1.) O conjunto de afirmaes a respeito de um problema no constitui um quadro pronto e acabado, mas relacional s condies histrico-sociais de quem as formula. "Relacional", para se evitar o termo "relativismo" e suas armadilhas17, j que essa concepo admite o progresso real do conhecimento (GOLDMANN, 1978: 18). 2.) Embora o estatuto da cincia seja determinado pela objetividade, nesta concepo no se nega a interferncia da subjetividade na elaborao da cincia nem no discurso cientfico. Se a cincia formulao humana sob condies histrico-sociais concretas, seus resultados so marcados por essas condies, no se admitindo, portanto, nenhum discurso absolutamente objetivo nem essencialmente subjetivo. Por mais original que algum quisesse ser, apresentaria sempre os elementos de seu contexto, no mnimo para ser inteligvel para seus semelhantes. Por outro lado, por mais objetivo que se pretendesse, todo discurso carregaria consigo as "relatividades" da observao sob certa perspectiva histrico-social. 3.) No h verdades absolutas e universais, pois tanto sua construo quanto sua recepo se do em situaes especficas. Neste sentido, para a concepo dialtica, no h um pensamento de Aristteles, mas tantas leituras de Aristteles quantas sos as tentativas da interpretao de seu pensamento. 4.) O exame cientfico de uma afirmao passa pela anlise lgica, compreensiva, imanente ou sinttico-semntica passo necessrio, porm insuficiente mas s se conclui na anlise sociolgica, explicativa, transcendente ou pragmtica; isto , na abordagem das condies reais de produo, disseminao e recepo das mensagens. 5.) O significado de um discurso no se esgota na literalidade de sua expresso, mas inicia-se nesta e completa-se nas condies histrico-sociais de sua produo. Para melhor entender esta implicao, vejamos a fbula de Ashby, citada por Vern (1970: 177-178):
Dois pases, A e B, esto em guerra. Cada um toma prisioneiro um soldado do outro pas. Pouco depois, as esposas de ambos os soldados recebem a seguinte mensagem: "Estou bem." Sabe-se que no pas A o prisioneiro pode enviar sua famlia uma mensagem entre as seguintes: Estou bem. Estou ligeiramente enfermo. Estou seriamente enfermo. O pas B, por seu lado, autoriza somente uma mensagem: Estou bem, que significa ento, simplesmente, "estou vivo"; a alternativa disponvel em B a ausncia de mensagem. Torna-se, assim, evidente que essas duas mensagens recebidas pelas esposas dos soldados, idnticas quanto ao seu contedo manifesto ou comunicado, tm significados muito diferentes.
suficientemente conhecida a refutao incontestvel atribuda a Aristteles sobre o relativismo dos sofistas: Se tudo relativo, esta afirmao tambm o ; e se ela absoluta, ela se nega.
17
18
Se no conhecssemos, previamente, a estrutura poltica dos dois pases em questo; se nos limitssemos ao contedo manifesto das mensagens, certamente no perceberamos as diferenas profundas entre as duas. No pas A, certamente uma democracia que respeita as determinaes da Conveno de Genebra quanto ao tratamento dos prisioneiros de guerra, o soldado poderia escrever, deixar de escrever ou escolher uma das vrias mensagens possveis; j no B, possivelmente uma autocracia regressiva e repressiva18; e, radicalizando ainda mais a fbula infelizmente muito prxima da realidade da recente Histria do Brasil imaginemos que o prisioneiro no pde deixar de escrever e que, sob tortura, foi obrigado a escrever o que lhe ditavam. Percebe-se claramente, pelo exemplo dado, que a significao de uma mensagem no se esgota em sua denotao, ou seja, toda mensagem humana denota em um nvel e conota noutro (VERN, ob. cit.: 176), seja ela poltica, artstica, religiosa, filosfica ou cientfica. A funo denotativa dada e recebida atravs de um cdigo de comunicao comum; j a conotativa se edifica nas possibilidades eletivas que o emissor tem de selecionar e combinar unidades disponveis. E essa disponibilidade se d tanto no nvel das atualidades gnoseolgicas quanto no das polticas. No caso da cincia, cada emissor escolhe dentro de um repertrio existente as unidades epistemolgicas que o convencem. S que sua escolha estar fatalmente dimensionada por suas condies de atualizao em relao ao nvel de conhecimento alcanado pela cincia de sua poca e pelas possibilidades concretas econmicas, sociais e polticas de sua utilizao. Galileu, por exemplo, embora dispusesse de um aparato cientfico superior ao de seus contemporneos, em relao Astronomia, no pde escolh-lo publicamente, em funo das sanes do poder constitudo poca. Todo pensamento oficial est fadado mediocridade, porque tem como parmetro certa censura, no a discutibilidade (DEMO, 1993: 19). Inspirado nesta afirmao to oportuna, diramos que toda ortodoxia burra, porque ela a oficialidade epistemolgica que alimenta a preguia intelectual e inibe a vontade crtica. Estas consideraes nos obrigam ainda a admitir que uma classificao das cincias, em ltima instncia, no se d pela natureza de seus respectivos objetos, mas pelos condicionantes sociais, sendo, portanto, histrica. 6.) Em conseqncia da implicao anterior, cabe deduzir que a ideologia no independente e oposta cincia, mas dela faz parte, na medida em que no se constitui num discurso, mas num nvel de significao de qualquer discurso, inclusive do cientfico. O reconhecimento da presena da ideologia na atividade cientfica, por si s, no garantir a cientificidade de seus resultados, claro; porm, querer elimin-la, torna-a ainda mais presente e mais comprometedora da verdade cientfica. 7.) O distanciamento do cientista em relao aos fatos estudados impossvel e a neutralidade, um mito. H pensadores que foram dialticos em seus esforos cientficos iniciais, apresentando, depois, "recadas positivistas", como foi o caso de Karl
Nos termos da classificao dos regimes e militncias polticas latino-americanas de Darcy Ribeiro (1977: 21-25).
18
19
Mannheim19; ao mesmo tempo, houve outros que, mesmo negando a Razo Dialtica, realizaram estudos dialticos nos campos especficos em que atuaram, como foi o caso de Freud, em vrios aspectos de sua anlise sobre os fenmenos psquicos20. Aqui tambm, se simplificssemos a concepo dialtica numa representao diagramtica, teramos:
S O Concluses do Sujeito sobre o Objeto Sujeito Relao de Objeto Cognoscente Conhecimento Cognoscvel
CINCIA
Neste caso, a Cincia no se confunde com um conjunto de concluses de um sujeito a respeito de determinado objeto, mas da prpria relao que se estabelece entre os dois. Em se tratando das cincias naturais, a natureza do objeto (material e formal), embora apresente relativa pertinncia, pouco tem a ver com a natureza da relao de conhecimento. J com as sociais, esse grau de pertinncia21 aumenta, ao ponto de, como no caso da Epistemologia e da Sociologia do Conhecimento, praticamente, tudo que o sujeito afirmar a respeito do objeto dir respeito prpria relao que com ele estabelece. Para exemplificar, tomemos uma situao em que o sujeito cognoscente examina no laboratrio uma experincia qumica e que seu objeto especfico de anlise seja a verificao dos resultados da reao provocada pela combinao de um cido com uma base:
19 Seu esforo, notvel contribuio por sinal, de construo da Sociologia do Conhecimento, admitiu que todos os seres humanos, em todas as suas iniciativas, no tm como escapar das opes ideolgicas, determinadas por condicionantes de classe social. Porm, preocupado com as verdades absolutas, universais e neutras, teve uma espcie de "recada positivista", ao admitir que uma categoria social os intelectuais constitui uma espcie de "Inteligentsia sem vnculos" ("freischwebende Intelligenz"), capaz de fazer a "sntese das divergncias", isto , reunir os acertos das diversas classes, depurando seus equvocos, e chegar s verdades indiscutveis. Alis, foi Mannheim, que ao fazer um estudo classificatrio das ideologias, certamente por causa da "recada" mencionada, deu ao conceito sua definitiva conotao negativa identificao com erro, falsidade ou equvoco. 20 Discutimos mais detalhadamente a questo das relaes entre razo dialtica e ortodoxia no trabalho Materialismo Dialtico e Psicanlise (ROMO, 1984, 106-113). 21 Tomamos o conceito de "grau de pertinncia" de Eliseo Vern (1970), bem como a maior parte das reflexes que se seguem.
20
S Qumico
Fato Social22
O Fato Qumico
Evidentemente, toda pesquisa, todo estudo, todo levantamento, toda elaborao cientfica enfim, um fato social: envolve pessoas, histrica e socialmente situadas, trabalhando em condies especficas. Ora, no exemplo dado, tudo que o sujeito descobriu sobre o objeto (fato qumico) toda vez que se combinar cido e base em determinadas condies obtm-se sal e gua pouco dir respeito relao e s operaes que se do entre ele e o objeto (fato social). Portanto, o grau de pertinncia, ainda que no seja nulo toda cincia elaborao humana, representao do universo e com ele no se confunde baixo. No caso das cincias sociais, conforme se pode perceber no exemplo a seguir, h uma clara elevao desse grau, chegando at, em algumas situaes especficas, pertinncia mxima. Imaginemos um terico do conhecimento explicando a seus alunos os passos que devem ser dados para que a anlise de um objeto seja cientfica. No momento mesmo da explicao, se quiser ser cientfico, de acordo com sua prpria teoria, ele ter que dar os passos explicados. Diramos que, neste caso, trata-se do grau mximo de pertinncia. que, nas cincias sociais, a natureza do objeto aproxima-se da natureza da relao estabelecida entre ele e o sujeito, conforme se pode perceber na representao abaixo. S Cientista Social Fato Social O Fato Social
Rechaada pelos positivistas, at mesmo nas cincias sociais pretendem que elas adotem os procedimentos das cincias naturais a unidade entre sujeito e objeto, ou, no limite, sua identidade, no plano do conhecimento, inquestionvel. E este plano, seja em que cincia for, apresenta o carter histrico e social, e por que no dizer dialtico, caracterstico de todas as manifestaes humanas. No h sentido, pois, em separar juzos de fato de juzos de valor, denotao de conotao, teoria de doutrina, cincia de ideologia, mas integrlos numa mesma busca. Quem, pretensamente, coloca suas formulaes como
22
"Histrico-social" seria mais correto. Para uma discusso mais detalhada da natureza histrica dos fatos sociais e sociolgica dos fatos histricos, remetemos aos trabalhos de Lucien Goldmann, elencados nas Referncias Bibliogrficas, especialmente no ensaio "O Pensamento Histrico e seu Objeto" (1972a, 1726).
21
puros juzos de fato, como essencialmente denotativas, como assepticamente tericas ou cientficas, na realidade est escondendo o juzo de valor de sua postura epistemologicamente censora, no permitindo a discusso das opes ideolgicas feitas. claro que o trabalho do cientista uma eterna luta pela denotao da conotao. Porm, a arma deste combate no a camuflagem da prpria ideologia, mas o esforo permanente de sua auto-explicitao, para diminuir neutralizar impossvel os efeitos ideolgicos no interlocutor.
22
CAPTULO II EDUCAO E IDEOLOGIA
Muitos sustentam a tese de que a qualidade da escola fundamental caiu em funo de sua massificao nos ltimos anos. Os dados realmente comprovam uma enorme expanso das matrculas, ao ponto de, praticamente, o Brasil ter universalizado o acesso a esse grau. Ao mesmo tempo, a maioria dos pesquisadores, administradores e educadores afirma que a produtividade do sistema apresentou, concomitante e progressivamente, os mais baixos ndices de concluso com sucesso. Mais grave ainda, acrescentam, a constatao de que, nas recentes avaliaes externas comparadas, os concluintes no esto preparados para os mais elementares desempenhos desejveis de um jovem formado nesse grau23. preciso relativizar este raciocnio que estabelece uma razo inversa obrigatria entre a expanso do acesso e a queda da qualidade. A qualidade cantada em verso e prosa da escola do passado refere-se ao s metas e objetivos de um projeto de sociedade que exclua a maioria dos benefcios sociais. A escola que temos hoje, mais acessvel s camadas populares uma outra escola, cuja qualidade deve referenciar-se nos objetivos do projeto de nao da maioria da populao, como diz Celso Beisiegel24. Se uma srie de iniciativas so necessrias para a superao desse quadro, a da formao de professores uma das mais importantes. Alis, nos ltimos anos, ela tem sido reconhecida, se levarmos em conta o nmero de congressos, seminrios, encontros, cursos de atualizao e aperfeioamento que tm sido realizados, bem como se observarmos o nmero de publicaes sobre o tema. De uma hora para outra, os brasileiros despertaram-se para a questo da qualidade do ensino, atrelando-a necessidade de capacitao e atualizao do professorado: hoje, praticamente, no h discusso ou publicao da rea que no toque na questo da m formao, desatualizao e falta de aperfeioamento dessa categoria profissional, estabelecendo-se uma relao automtica e diretamente proporcional entre o nvel de formao dos docentes e a qualidade do ensino ministrado. H um grande risco neste raciocnio, porque ele abstrai-se do tipo de qualidade a que se est referindo. Embora omnipresente, qualidade do ensino gera uma srie de polmicas, na medida em que as referncias das pessoas variam de acordo com suas escalas
Cabe destacar que h a uma contradio, aparentemente insolvel: temos uma escola fundamental que se destaca dentre as que mais reprovam no mundo o que d a entender que temos um sistema muito exigente ao mesmo tempo que os estudantes que passaram por esse crivo rigoroso no adquiriram os instrumentos epistemolgicos, as habilidades e as posturas bsicas esperadas por quem teve tal desempenho na escola. Mais adiante, retornaremos a esta questo, tentando verificar as razes e as sadas para essa contradio. 24 O Professor Celso tem destacado, com propriedade a necessidade desse outro tipo de reflexo sobre a nova escola brasileira, como uma decorrncia de seu questionamento anterior das concepes de educao popular autoproclamadas como detentoras do carter popular adstrito. Na banca examinadora de nossa tese de doutorado (18 de novembro de 1997), na Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo, ele voltou ao tema, chamando a ateno, mais uma vez, para a necessidade da construo de um novo projeto pedaggico, voltado agora para as escolas pblicas cheias de alunos oriundos das camadas populares.
23
23
de valores, seus interesses, projees e ideais; diversificam-se, enfim, em funo de suas vises de mundo e de seus projetos de sociedade. Isso nos remete para a constatao de que o contedo de um projeto educacional no dado pela prpria educao, mas pelo que exterior instituio escolar. Ou seja, o projeto de sociedade desejado que pode referenciar, para as pessoas, os graus de qualidade de um projeto educacional. muito comum nas discusses sobre o tema surgir a questo: Mas, de que qualidade voc est falando?. Projetos diferentes de sociedade determinam diferentes concepes de ensino desejveis, que prevem conhecimentos, habilidades e posturas que os alunos, como atores ativos ou passivos, devem incorporar, para a consecuo do projeto social especfico. Portanto, numa sociedade de classes, antes de se falar da qualidade de ensino pretendida, h de construir consensos mnimos quanto ao projeto de nao a que aspiram todos ou, pelo menos, a maioria ou no ser possvel nem a inteligibilidade do dilogo entre pessoas que discutem a qualidade. H necessidade de se chegar, antecipadamente, a um acordo quanto ao projeto de nao pretendida, para que as pessoas possam estar falando da mesma qualidade desejada no ensino. No caso brasileiro, um acordo mnimo quanto ao projeto de nao, referencial para a qualidade da educao bsica desejada, foi firmado na Conferncia Brasileira de Educao para Todos (MEC, 1994) e se constitui de trs elementos fundamentais que se relacionam dentro de uma determinada ordem: (i) desenvolvimento, (ii) competitividade no concerto internacional e (iii) equidade interna e tudo isso deve se combinar dentro da ordem democrtica. Significa dizer que a escola bsica de qualidade dever oferecer a todos os brasileiros os conhecimentos, as habilidades e as posturas que os capacitem para: a) integrar-se, com eficcia e eficincia, no sistema produtivo; b) reivindicar, lutar e concretizar a socializao do produto social, o que significa tambm, sensibilidade para apreciar os bens e servios que a sociedade contempornea capaz de gerar; c) participar nos processos decisrios e na implementao das polticas resultantes das decises. Se pudssemos transformar essa conformao num diagrama, teramos:
DEMO
Equidade Interna
CRA
Desenvolvimento
Competitividade CIA
claro que houve concesses mtuas para se chegar a este consenso. No entanto, substituiramos competitividade por solidariedade e, ao invs da
24
preocupao com a insero, com eficcia e eficincia, no sistema produtivo, consideraramos como mais adequada a leitura crtica da realidade, no sentido de verificar se o sistema produtivo em vigor o mais adequado para a construo de uma sociedade mais livre, mais democrtica e mais justa. Por outro lado, entendemos que a expresso equidade interna to em moda no jargo sociolgico latino-americano e brasileiro deveria ser substituda pela j conhecida justia social. Certamente, esta ltima tem sido evitada no universo semntico neoliberal, porque injustia social aponta para a existncia de atores sociais responsveis por ela, enquanto equidade interna remete para o limbo das indeterminaes sociais. Assim, teramos de recompor a figura com os seguintes elementos: a) desenvolvimento auto-sustentado; b) solidariedade; c) justia social; d) capacidade de leitura crtica e de interveno da/na realidade. ORDEM DESENVOL- JUSTIA VIMENTO SOCIAL SOLIDARIE DADE DEMOCRTICA Ao tratarmos, especificamente, da avaliao da aprendizagem escolar, temos de ter em mente as relaes pedaggicas estabelecidas em funo do projeto educacional adotado, que, por sua vez, a expresso escolar do projeto de sociedade imposto pelas elites ou por elas acordado com as demais classes sociais. bvio que tal imposio no se realiza fora de uma conjuntura, que a relativiza, tanto por causa das concesses a ser feitas s estratgias de dominao, quanto pelas conquistas efetivas das classes subalternas. Significa dizer que a avaliao da aprendizagem escolar deve estar atenta, no s aos indicadores colocados pelo projeto pedaggico, mas tambm ao projeto social hegemnico mais amplo e ao contexto no qual as relaes sociais se do. Por vrios anos, em nosso pas, foi tentada a despolitizao do ato pedaggico, caracterizando-o como ato assepticamente neutro em termos ideolgicos. Porm, escancaravam-se as finalidades poltico-ideolgicas de tal tentativa oficial, pois, contraditoriamente, estabelecia-se a obrigatoriedade da incluso da disciplina Educao Moral e Cvica, disfarada de Estudos de Problemas Brasileiros na grade curricular do ensino superior, ao mesmo tempo que se baniam das ctedras os professores crticos ao regime ento implantado. que a educao no se d no ar, desencarnada, acima do bem e do mal. Ela se realiza numa formao social historicamente determinada; e se ela
25
constitui uma regio particular da ideologia, como se expressou determinada autora (SOBRIO, 1986: 36 e seguintes), a avaliao da aprendizagem constitui seu nicho predileto. Guiomar Namo de Mello (1982) demonstrou o quanto a escola, na sua funo instrumentadora da alienao, no s reproduz os mecanismos discriminatrios da sociedade, como desenvolve seus prprios instrumentos de seletividade e dominao. Muitos autores j explicitaram tambm que a escola constitui um dos aparelhos ideolgicos, por excelncia, do Estado. Mas, por que a instituio escolar exerce, muitas vezes, esse papel reprodutor? Louis Althusser, que cunhou a expresso, afirma:
Falando numa linguagem marxista: se verdade que a representao das condies reais de existncia dos indivduos ocupam os postos agentes de produo, explorao, represso, ideologizao e prtica cientfica tem razes, em ltima instncia, nas relaes de produo e nas relaes decorrentes das relaes de produo, podemos dizer o seguinte: toda ideologia representa, em sua deformao necessariamente imaginria, no as relaes de produo existentes (e as outras relaes que delas decorrem), mas, acima de tudo, a relao (imaginria) dos indivduos com as relaes de produo e com as relaes que delas decorrem. O que representado na ideologia, portanto, no o sistema das relaes reais que regem a existncia dos indivduos, mas a relao imaginrias desses indivduos com as relaes reais em que vivem. (ALTHUSSER, 1996: 127128).
Ora, a escola trabalha o tempo todo com o imaginrio, porque os componentes curriculares nada mais so do que representaes classistas das relaes reais que se estabelecem entre as diversas classes na sua interao com os diversos entes naturais e sociais. Dizendo de uma outra maneira, nas suas relaes de articulao ou dominao com/da natureza e com/dos outros homens, os grupos humanos desenvolvem sistemas culturais de prticas concretas (sistemas produtivo e associativo), ao mesmo tempo que elaboram representaes desses entes e dessas relaes (sistema simblico). Estes sistemas de representaes, ao longo do tempo e de acordo com as formaes sociais, que constituem e formatam a massa de informaes e procedimentos curriculares, nas tentativas de manuteno ou transformao do status quo, conforme se tenha uma instituio educativa conservadora ou progressista.
26
CAPTULO III AVALIAO E IDEOLOGIA
Tudo leva a crer que, alm das dificuldades resultantes da m formao, os problemas da avaliao da aprendizagem resultam tambm do trfico ideolgico das elites, que tm conseguido certos consensos mitolgicos, favorveis, evidentemente, manuteno do status quo individualista, meritocrtico, discriminatrio e injusto. Dentre esses mitos alguns j devidamente denunciados (v. ROMO, 1994: 219-236) destacamos os que se seguem. 1.) Escola boa aquela que exige muito e puxa pela disciplina. claro que o estudo exige concentrao e disciplina. Lembro-me de alunos cuja famlias permitiam uma certa licenciosidade quanto organizao da vida de estudos e que, quando precisaram, como adultos, da concentrao por tempo mais dilatados, no podiam suport-la. No entanto, preciso relativizar o enunciado deste princpio: Ao longo da minha vida de estudante e profissional, conheci escolas de regimentos internos mais ou menos rgidos e, indiferentemente, de todas elas, saram estudantes formados com mais ou menos capacidade metdica de organizao e profundidade de reflexo. Mais importante do que ser muito exigente ou rigorosa quanto disciplina cobrada dos alunos, a capacidade de ser provocadora da leitura crtica das determinaes naturais e sociais, de ser estimuladora da criatividade e da independncia reflexiva. Boa escola no a que ensina coisas, mas a que permite a superao da curiosidade ingnua pela curiosidade epistemolgica, como dizia Paulo Freire (1997: 32), permitindo ao educando criticizar suas perguntas e questes anteriormente construdas apenas do saber feito (senso comum) sobre o mundo e suas relaes, enfim uma escola que permite ao aluno aprender a aprender. 2.) O bom professor aquele que reprova muito. Est comprovado que a tendncia de um aluno reprovado uma vez ser reprovado mais vezes; o que nega, in limine, a eficcia da reprovao como instrumento de recuperao da aprendizagem. Alis, esta expresso bastante ambgua. Recuperar algo significa resgatar o que se perdeu. O que perdeu o aluno? Nada perdeu, se ainda no ganhou o conhecimento que se pretendia que ele alcanasse. A insistncia, na recuperao dos mesmos contedos e objetivos, com o aluno que no conseguiu aprender no tempo normal da turma, atribui a ele a perda de algo que ainda no possua. Em nosso sistema escolar, usa-se tambm corriqueiramente a expresso recuperao do aluno. A expresso est carregada de uma conotao pedagogicamente negativa, pois evoca que o perdido o aluno e ele necessita ser recuperado. Ora, as pessoas aprendem, quaisquer que sejam as razes, em ritmos
27
diferenciados. No fundo, a recuperao nada mais seria do que o processo de aprendizagem de alunos cujo ritmo no importando quais fatores intervieram nas dificuldades iniciais circunstancial ou estruturalmente mais lento. Alm disso, a recuperao tradicionalmente programada para o final dos semestres ou perodos letivos. Ora, se o aluno no aprendeu determinado contedo ou no atingiu determinado objetivo de uma unidade didtica especfica e se esse contedo ou esse objetivo pr-requisito para se iniciar a unidade subseqente, que sentido faz colocar sua recuperao depois de esgotado todo o programa? Na realidade, a recuperao praticada atualmente nas escolas de ensino fundamental tornou-se apenas um ritual burocrtico, ou seja, prevista e desenvolvida apenas para atender a uma exigncia formal. A recuperao e a reprovao batem fundo na auto-estima do aluno e alimentam o processo de internalizao da cultura do fracasso. Meu filho no tem jeito para o estudo uma expresso que se ouve com freqncia nas escolas pblicas. Ela enunciada por pais que, depois de insistirem por vrios anos na escolarizao, sem sucesso, dos filhos, dela desistem, por absoluta incapacidade de continuarem sacrificando, no altar da continuidade de seus estudos, uma melhoria da renda familiar, pelo engajamento precoce do filho na fora de trabalho. Embora acreditem que os estudos sejam um meio de subir na vida, um caminho para a libertao da situao de pobreza em que se encontram um canal de ascenso social conformam-se, aps tanto insucesso, com um pequeno ganho imediato. Ao contrrio do que pensam muitos educadores, as famlias de baixa renda valorizam a escola e vem no estudo dos filhos a nica herana que podem lhes deixar, para que no se reproduzam, em seus projetos de vida, os sacrifcios de uma existncia iletrada no seio de uma sociedade grafocntrica. Ecla Bosi d um testemunho importante dessa valorizao da instruo:
As operrias que tivemos oportunidade de ouvir sentem um fortssimo desejo de instruo, quando no para si, para os filhos: livros comprados em pesadas prestaes mensais, jornadas inteiras de trabalho para a aquisio de um s livro e a contnua frustrao de se sentirem enganadas pelos promotores da cultura. No meio operrio so as revistas que anunciam cursos e colees, os livreiros-volantes que rondam com suas peruas Kombi as fbricas na hora da sada dos trabalhadores. o momento de impingir os refugos das editoras, encadernados e com ttulos dourados para corresponder expectativa do pobre que v nos livros algo de sagrado. Esses refugos iro para o lugar de honra da sala e as colees muitas vezes so guardadas zelosamente para os filhos. (BOSI, 1982: 28-9).
3.) A maior parte das deficincias dos alunos so decorrentes das carncias que eles trazem de casa. Geralmente este mito resulta de uma verificao apressada das dificuldades iniciais dos alunos, a partir de padres arbitrria e unilateralmente estabelecidos.
28
Mais uma vez, debita-se na conta do prprio aluno e de sua famlia a razo de seus insucessos. Com este mito, a escola exime-se de toda responsabilidade decorrente de sua natureza institucional. Esconde-se como casa de produo do saber, como espao de organizao da reflexo, que deve levar em considerao e adaptar-se, com seu aparato didtico-pedaggico, s caractersticas especficas da cultura primeira da clientela que recebe, para mostrar sua cara seletiva, discriminatria e de mera verificadora das dificuldades que pessoas oriundas de outro universo tm de se adaptar ao sistema simblico produzido pelas classes dominantes. 4.) A democracia exige o respeito aos cdigos scio-culturais e s diferenas individuais. Lida como est formulada, a afirmao aparenta correo, se no for examinada sob outros ngulos. De fato, h que se respeitar, como ponto de partida, o patamar de conhecimentos e as identidades culturais que o aluno traz de seu meio, de sua cultura primeira, como a denominou Snyders. Porm, em nome da democracia, no querer elev-lo alm desse patamar, conden-lo situao de dominao, especialmente se se tratar da clientela da escola pblica. Dialeticamente, h que se combinar o respeito s condies e ao ritmo prprio decorrente do itinerrio educativo pessoal com o esforo de se buscar metas e objetivos previamente estabelecidos ou visualizados como desejveis e cujo alcance permitir a insero do aluno no espao universalizado da cidadania moderna. A avaliao cidad tem por base essa relao dialtica. Em outros termos, h que se trabalhar tanto com a auto-avaliao quanto com a hetero-avaliao; no s com a avaliao interna, como tambm com a externa, quer com a avaliao quantitativa, quer com a qualitativa, com a diagnstica e com a comparativa. O estudante credenciado pela escola no ir viver numa ilha de fantasia construda por ela, de acordo apenas com seus padres internos ou de acordo com os padres negociados com a comunidade da qual ele egresso. Ele ir desenvolver seu projeto de vida em qualquer lugar deste mundo. O respeito aos valores e cdigos da comunidade ou do estrato social de origem dever ser desenvolvido ou inibido, dependendo do grau de conscientizao ou de alienao que esses valores e cdigos provoquem. Se os alunos so egressos de uma classe social cuja conscincia possvel25 e atuao se dirigem para a alienao, a dominao e a opresso de seus semelhantes, o trabalho educativo objetivar sua traio classe de origem e a assuno de princpios promotores da conscientizao e da libertao de toda a humanidade. 5.) Avaliar muito fcil e qualquer um pode faz-lo.
25 As diferenas entre conscincia real e conscincia possvel e sua importncia no s epistemolgica, como tambm para a militncia poltica, constituem concepes significativas do pensamento estruturalista gentico de Lucien Goldmann (v. bibliografia referenciada ao final deste trabalho).
29
Essa um das crenas mais perigosas dentre as disseminadas entre os educadores brasileiros. Infelizmente, parece ser at mesmo um consenso, dado o descaso dos cursos de formao para com o tema e a indiferena com que os escabrosos resultados do sistema educacional brasileiro so encarados, tanto pelos atores escolares quanto pelas autoridades. Avaliar no simples e exige o domnio de conhecimentos e tcnicas, alm de experincias em processos concretos de avaliao. Imagino mesmo que professores recm-formados e engajados na atividade profissional deveriam ser, obrigatoriamente, assistidos por colegas mais experientes, pelo menos nos momentos das avaliaes mais sistemticas e peridicas. Ou o que seria a soluo mais correta seriam constitudos conselhos de classe em todas as escolas, com atribuies avaliadoras, que ajustariam instrumentos de avaliao, formas de sua aplicao e correo e at mesmo resultados. Sabemos da forte reao de certos professores atribuio dessas competncias a esse tipo de colegiado. Ela se baseia, na realidade, neste mito e, o que pior, na arrogncia da prpria competncia. Em vrios cursos que temos desenvolvido pelo pas, temos realizado a simulao de uma situao de avaliao em sala de aula e solicitado aos participantes a atribuio de notas a questes resolvidas por supostos alunos. Fatalmente, nas mesmas respostas, nunca se chega a um acordo e as notas atribudas variam, num espectro to grande, que os diversos avaliadores percorrem quase toda a escala adotada. Derruba-se, facilmente, com a simulao, a crena na segurana quanto aos critrios de avaliao adotados. E, lamentavelmente, se no fosse verdade, para ser cmico, testemunhamos o caso de um professor que, alguns dias depois de aplicar uma prova, ao corrigir, distraidamente, o seu prprio gabarito, deu-se uma nota bem inferior mxima e ainda tripudiou sobre a turma, ironizando a distrao do aluno que no assinara a prova. 6.) Avaliar to complicado, que se torna, praticamente, impossvel faz-lo corretamente. Este mito se desdobra em dois nveis. No primeiro, a impossibilidade da avaliao correta atribuda complexidade da atividade humana que deve ser avaliada, principalmente por se tratar de uma atividade intelectual, com envolvimentos de ordem cultural, social, poltica, psicolgica, econmica e afetiva. No segundo, e este diz respeito avaliao do trabalho do professor, busca-se justificativa no argumento de que ningum pode avaliar, seno ele prprio, o trabalho de um profissional especializado em determinado campo do conhecimento e com tantos anos de experincia. Embora esta seja uma manifestao mais tpica de professores universitrios, ela ocorre tambm entre os que atuam nos demais nveis de ensino, constituindo-se no argumento predileto contra as competncias avaliadoras dos conselhos de classe ou de colegiados congneres, contra as avaliaes de desempenho para efeitos promocionais na carreira e contra as avaliaes externas. Trata-se de evidente
30
mecanismo de defesa de todos que, na realidade, motivados pelos mais diversos fatores, temem a avaliao de seu prprio desempenho. 7.) preciso eliminar os aspectos quantitativos da avaliao. Com a Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971, explicitava-se, pela primeira vez, do ponto de vista institucional, a preocupao com os aspectos qualitativos. Por isso mesmo, abria-se a possibilidade de uma srie de procedimentos compatveis com uma concepo de avaliao qualitativa ou diagnstica, ainda que se tratasse de uma legislao do regime de exceo e que tivesse finalidades outras. No artigo 14 previam-se, dentre outras, as seguintes normas: a) relativa autonomia dos estabelecimentos quanto forma regimental da verificao do rendimento escolar (caput); b) preponderncia dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos na verificao da aprendizagem ( 1); c) obrigatoriedade do oferecimento, pelo estabelecimento, de estudos de recuperao para alunos de aproveitamento insuficiente ( 2); possibilidade de "adoo de critrios que permitam avanos progressivos dos alunos". Como a norma permitia a expresso dos resultados da avaliao em notas ou menes, muitas escolas, e at mesmo sistemas, entenderam que os "aspectos qualitativos" seriam preservados pela simples adoo das ltimas ou de notaes congneres (conceitos, descries etc.). Porm, como o sistema continuou promocional (classificatrio), gerou-se uma srie de confuses, especialmente nas transferncias de alunos para outros estabelecimentos. Criaram-se verdadeiras tabelas de converso de notas em conceitos ou menes, e vice-versa, sobrecarregando ainda mais a burocracia da escola. No demais reiterar que a garantia da natureza qualitativa da avaliao independe da expresso final dos resultados, pois ela se constri durante o processo. Por outro lado, os aspectos quantitativos nunca sero totalmente descartados, uma vez que a oposio absoluta entre quantidade e qualidade constitui um falso dilema, no s no interior da escola, como na vida em geral. J que no pode existir quantidade sem qualidade e qualidade sem quantidade (economia sem cultura, atividade prtica sem inteligncia e vice-versa), qualquer contraposio dos dois termos , racionalmente, um contra-senso (GRAMSCI, 1978: 54). 8) Nas escolas avalia-se apenas o conhecimento adquirido pelo aluno, desprezando-se os aspectos de seu amadurecimento fsico e emocional. Essa situao deve ser invertida. verdade que, na maioria das escolas e na esmagadora maioria dos professores, a avaliao versa apenas sobre os conhecimentos adquiridos pelos alunos. Ou mais precisamente, sobre as informaes que lhes so repassadas. Ela se limita, portanto, a verificar o alcance de objetivos da rea cognitiva. Alis, quase todo o processo de ensino-aprendizagem volta-se para o "sujeito
31
gnoseolgico" (que conhece), em detrimento do "sujeito ontolgico" (que atua) ou do sujeito praxiolgico (que conhece-atua e re-conhece). Dadas as precrias condies de trabalho oferecidas aos professores e o desrespeito com que a categoria vem sendo tratada na sociedade brasileira, a luta pelo profissionalismo, s vezes, descarta o compromisso com a formao do aluno, por sua referncia ao aspecto vocacional do desempenho docente. Andr Haguette tem razo ao afirmar que a assuno do carter vocacional pelo professor constitui uma espcie de revanche autoprotetora e autovalorativa, porm conformista, do explorado, diante do descrdito e do abandono infligido ao trabalho [docente] pelas autoridades (HAGUETTE, 1990: 45). claro que a defesa do profissionalismo fundamental. Entretanto, ela no pode deixar de levar em considerao que um de seus elementos constitutivos essenciais a conscincia-competncia, a ser colocada a servio da preparao do aluno, para que ele intervenha, cada vez mais, com qualidade poltica e tcnica, nas determinaes sociais. Essas intervenes demandam a sntese, num "sujeito praxiolgico", de um ator que, iluminado por um saber cientfico e objetivo ("sujeito gnoseolgico"), tenha uma praxis social tico-poltica libertadora, que supere a mera atuao egostico-passional do "sujeito ontolgico-psicolgico". Em concluso, no h sentido em se privilegiar um ou outro domnio, mas integr-los no desenvolvimento harmnico desse ator qualificado, que ser o aluno. Em razo dos limites deste trabalho, da predominncia da preocupao cognitiva da escola e das dificuldades a apresentadas pelos professores, nele trataremos mais dos aspectos relativos avaliao do sujeito gnoseolgico. Os professores, na sala de aula, trabalham o tempo todo no plano do conhecimento; isto , deslocam-se no que poderamos denominar "o campo minado da alta pertinncia", uma vez que, alm de lidarem com contedos, habilidades e posturas, tm de desenvolver a instrumentalizao dos alunos para que apreendam esses contedos, habilidades e posturas. Em outras palavras, tm de trabalhar muito mais com a metodologia da aprendizagem. J se disse, quase exausto, que mais importante do que a informao, a escola deve propiciar ao aluno a aprendizagem do aprender, isto , o domnio dos conhecimentos, habilidades e posturas que o capacitem para a autoreciclagem. Evidentemente, tal expectativa contrape-se frontalmente didtica exclusiva do ensino-aprendizagem, considerada inadequada, porque tende a reduzir os alunos a meros objetos, e exalta o professor como autoridade acabada. Sem desfazer os momentos em que cabe o aprender, no sentido de internalizar conhecimentos via absoro repassada, o contexto deve sempre ser o do "aprender a aprender", base da autonomia emancipatria (DEMO, 1993: 98). Entretanto, certamente no ser possvel substituir uma posio usual por outra mais necessria aos sistemas educacionais do mundo moderno, se os processos de avaliao n grdio das relaes entre o aluno e o professor no forem repensados no bojo das novas concepes pedaggicas. Nem
32
possvel se ter uma Escola Cidad26, com um Aluno Cidado, se no se substiturem os julgamentos das capacidades, exclusivamente pela via da quantidade de informaes absorvidas, pela aquisio de habilidades adestradas, pela adequao a padres socialmente sancionados, pela unilateralidade das hetero-aferies e pela despolitizao das relaes, por uma avaliao que leve em considerao as competncias atualizadas e potenciais, a partir de padres democraticamente construdos, que valorize a auto-avaliao e que no tenha receio da politizao do ato pedaggico. A dialtica interao entre o respeito s identidades pessoais e sociais e a necessidade de universalizao do patrimnio cientfico, tecnolgico, cultural e artstico, para que no apenas uma minoria da humanidade tenha acesso aos benefcios do processo civilizatrio, est a exigir muita competncia, muita criatividade e muita democracia. Gadotti (1992a), com a clarividncia que lhe tem sido peculiar, discutiu o problema, relacionando a questo da identidade cultural, do itinerrio educativo, da diversidade cultural e da multiculturalidade, com a educao para todos e a com a eqidade. Destacando-se dentre os "aparelhos privados da hegemonia"27, a escola tem na avaliao da aprendizagem, voltada para um sistema de aprovao/ reprovao, um de seus mais poderosos instrumentos, no s porque cria e fortalece consensos discriminatrios, na medida em que introjeta nos reprovados a culpa de sua prpria reprovao, como tambm porque processa um verdadeiro trfico ideolgico, pela "universalizao" da viso de mundo e dos valores dominantes que inocula nos retidos no sistema. Porm, como uma das bases materiais da sociedade civil relativamente autnoma da sociedade poltica o sistema escolar pode possibilitar, especialmente nos contextos de crise (como o nosso), a inverso, em favor dos dominados, das relaes de hegemonia, tornando-os "dirigentes", ainda que no "dominantes". A "longa marcha", no interior do espao de disputa da hegemonia, para a conquista da direo poltica, pelos dominados, exige pacincia histrica, mormente no setor educacional, onde a lentido dos resultados pode obnubilar a viso das possibilidades de transformao social.
Expresso criada por Genuno Bordignon (1989) e definitivamente consagrada por Moacir Gadotti (1992b). Este trabalho se inscreve na mesma linha, sem a pretenso de se iniciar a construo de uma escola de pensamento pedaggico, mas pela necessidade urgente de busca de alternativas na universalizao da cidadania no pas e no mundo. No mesmo sentido tem se desenvolvido todo o esforo do Instituto Paulo Freire. 27 Nos termos da conceituao de Gramsci, que ampliou e enriqueceu a concepo marxista do Estado, entendendo-o, no apenas como sociedade poltica Estado em sentido estrito mas tambm como sociedade civil. Enquanto a primeira, atravs de seus aparelhos burocrtico-militares, permite s classes dominantes a coero, a segunda, por meio de diversos tipos de organizao sistema escolar, igreja, sindicatos, partidos polticos, meios de comunicao de massa etc. lhes propicia a hegemonia, alicerada na construo de consensos. Ainda que includo na segunda categoria, o sistema escolar ou qualquer outro aparelho da sociedade civil pode ser violento e coercitivo; bem como os aparelhos de coero da sociedade poltica operarem, s vezes, no espao dos consensos ideologicamente construdos.
26
33
PARTE II AVALIAO DA APRENDIZAGEM
34
CAPTULO I O QUE AVALIAO
1 . Consideraes Preliminares Em quase todos os encontros com professores, bem como nos relatos de outros especialistas e pesquisadores da avaliao28, constata-se a contradio entre as intenes proclamadas e o processo efetivamente aplicado. Certamente, tal contradio nasce da autocensura gerada pelo descompasso entre uma imagem idealizada da avaliao auferida em tinturas de teorias mais atuais e progressistas e a realidade cotidiana das escolas, condicionadas, estruturalmente, pelo sistema de promoo e seriao e, conjunturalmente, pelas pssimas condies concretas de trabalho e pelas determinaes dos superiores de planto. Talvez, por isso mesmo, surjam tantas concepes de avaliao, sempre vagamente implicadas nas formulaes verbais de professores, alunos e pais, que a identificam com tudo que ocorre nas prticas correntes: prova, nota, conceito, boletim, aprovao, reprovao, recuperao etc. J entre os estudiosos do tema, trava-se uma interminvel batalha pelo monoplio da verdade e da preciso do conceito, surgindo tambm uma variao conceitual na razo direta da diversificao das concepes pedaggicas assumidas. Se tentarmos levantar os diversos conceitos de avaliao da aprendizagem, certamente encontraremos tantos quantos so seus formuladores. claro que em cada conceito de avaliao subjaz uma determinada concepo de educao. Ento, haveria tantas concepes de educao quantos so seus formuladores? Pensamos que no. Percebemos que, embora apresentando pequenas variaes formais, na sua substncia elas podem ser agrupadas em um nmero menor de conjuntos. Como o tema de que nos ocupamos neste momento a avaliao e como suas concepes derivam das de educao em geral, vejamos algumas definies de avaliao encontradas nos autores mais consagrados e nas publicaes mais recentes:
Avaliao o processo de atribuio de smbolos a fenmenos com o objetivo de caracterizar o valor do fenmeno, geralmente com referncia a algum padro de natureza social, cultural ou cientfica. (BRADFIELD e MOREDOCK, 1963, 1 : 16).
Esta definio reflete, claramente, a postura classificatria dos autores, pois consideram a avaliao como um julgamento de valor, com base em padres consagrados e tomados previamente como referncia. A distino que estabelecem entre padres sociais, culturais ou cientficos denota uma postura positivista, na medida em que no incorporam a idia de que os padres cientficos so tambm socialmente elaborados. No entanto, sua obra preciosa
28
Como o caso de Hoffmann (1992, 12), Ldke e Mediano ( ob. cit., 25) e Sousa (ob. cit., 1993, 96).
35
no sentido do tratamento tcnico que emprestam aos instrumentos de medida e avaliao.
Avaliar julgar ou fazer a apreciao de algum ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores [ou] interpretar dados quantitativos e qualitativos para obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base padres ou critrios. (HAYDT, 1988: 10).
Tributria dos primeiros autores citados, Haydt praticamente repete o conceito de Bradfield e Moredock, enquadrando-se tambm na quase sempre considerada posio tradicional. Seu livro se inspira nas correntes cientificistas dos primrdios da avaliao aplicada educao e tambm se volta, basicamente, para a avaliao classificatria e, portanto, para as tcnicas de construo de provas e testes.
O conceito de avaliao da aprendizagem que tradicionalmente tem como alvo o julgamento e a classificao do aluno necessita ser redirecionado (...) (...) desponta como finalidade principal da avaliao o fornecer sobre o processo pedaggico informaes que permitam aos agentes escolares decidir sobre intervenes e redirecionamentos que se fizerem necessrios em face do projeto educativo definido coletivamente e comprometido com a garantia da aprendizagem do aluno. (SOUSA, 1993: 46).
No texto de Sandra Zkia Lian Sousa j percebemos a preocupao em no se deixar enquadrar na teoria conservadora, propondo um redirecionamento do julgamento e da classificao quase sempre presentes nas concepes anteriores. Volta-se para uma viso diagnstica, na qual a avaliao passa a ser um processo de verificao e pesquisa das mudanas de estratgias e instrumentos que interferem na conduo do processo educativo. Destaca ainda a formulao coletiva deste processo, que deve garantir a aprendizagem do aluno, mas no avana sobre a discusso do grau de socializao desse coletivo, nem qualifica o projeto alvo de aprendizagem do aluno. Ou seja, embora avance em relao s concepes meramente classificatrias, no explora todas as potencialidades polticas e politizadoras do que denomina coletivo, nem dos componentes do projeto pedaggico cuja aprendizagem pelo aluno ser garantida. De acordo com a autora, para que a avaliao no se enquadre no universo das tradicionais basta que ela seja apenas instrumento do processo de tomada de deciso dos agentes escolares, que trabalham um projeto pedaggico coletivamente formulado e que se comprometa com a aprendizagem dos alunos.
A avaliao consistir em estabelecer uma comparao do que foi alcanado com o que se pretende atingir. Estaremos avaliando quando estivermos examinando o que queremos, o que estamos construindo e o que conseguimos, analisando sua validade e eficincia ( = mxima produo com um mnimo de esforo). (SANTANNA, 1995, 23-4).
36
A teoria de Ilza Maria SantAnna hesita entre a avaliao diagnstica e a classificatria, pois ainda se preocupa com a validade e a eficincia, embora possamos subtender que a formulao dos padres de referncia dos desempenhos registrados pelos alunos sejam adstritos s decises dos prprios agentes envolvidos no processo de avaliao.
[A avaliao ] um juzo de qualidade sobre dados relevantes para um tomada de deciso. (LUCKESI, 1995: nota 6, p. 9).
Os trabalhos do Professor Cipriano C. Luckesi j vinham sendo considerados como verdadeiros clssicos da avaliao brasileira, pois, como ele prprio confessa na coletnea que reuniu a maioria deles, seu pensamento, neste particular, evoluiu das posies mais tradicionalistas e conservadoras at as mais avanadas (preocupadas com o carter apenas diagnstico da avaliao). Muito embora sua contribuio seja inestimvel, especialmente no que diz respeito ao que poderamos denominar uma verdadeira teoria do erro, pensamos que o Professor Luckesi peca como os pedagogos e pensadores mais recentes e preocupados com a superao da teoria tradicional pelo excesso de desconsiderao dos aspectos positivos das teorias classificatrias. Muitas outras definies ou conceitos poderiam ser relacionados, mas, para os objetivos deste trabalho, os destacados j so suficientes. Com relativo risco reducionista ou de simplificao exorbitante, de uma maneira geral, podemos reduzir as concepes de avaliao a dois grandes grupos evidentemente referenciados em duas concepes antagnicas de educao. Estas, por sua vez, referenciam-se nas vises de mundo positivistas ou dialticas, isto , buscam seus parmetros em cosmovises que entendem o universo e as relaes que nele se travam como estruturas ou como processos. Dizendo-o de modo mais simples: se encaramos a vida como algo dado, tendemos para uma epistemologia positivista e, conseqentemente, para um sistema educacional perseguidor de verdades absolutas e padronizadas. Se, pelo contrrio, encaramos a vida como processo, tendemos para uma teoria dialtica do conhecimento e, por isso mesmo, engendradora de uma concepo educacional preocupada com a criao e a transformao. No caso da primeira, forosamente construiremos uma teoria da avaliao baseada no julgamento de erros e acertos que conduzem a prmios e castigos; no caso da segunda, potencializamos uma concepo avaliadora de desempenhos de agentes ou instituies, em situaes especficas e cujos sucessos ou insucessos so importantes para a escolha das alternativas subseqentes. Entre os educadores brasileiros temos encontrado essas duas concepes de avaliao com mais freqncia, derivadas, evidentemente, de concepes antagnicas de educao que, ao penetrarem nos umbrais escolares, acabam por provocar uma completa dissonncia entre as convices proclamadas e as prticas efetivamente levadas a efeito no cotidiano das relaes pedaggicas. As profundas diferenas que as caracterizam no constituem um mal em si. Contudo, a mtua excluso que se instalou radicalmente entre elas, cada uma rechaando a outra e autovalorizando-se
37
como nica alternativa cientfica e vlida, acabou por implantar um verdadeiro maniquesmo tpico das concepes que dividem qualquer universo em apenas dois semi-universos incompatveis cegando-as para uma possibilidade de aproximao e complementaridade. Desconfiamos que tal dicotomia pese mais negativamente no lan de muitos professores do que as prprias condies salariais e de trabalho adversas. E por qu, se eles se colocam de um lado ou de outro? Por qu, se a maioria dos professores considera a primeira concepo como tradicional e a segunda como progressista ou construtivista29. No o que acontece na realidade. A maioria dos docentes incorpora a primeira como teoria vlida, rechaando a segunda, mas, de fato, se sentem obrigados a aplicar a segunda. Ora, ningum consegue equilibrar-se, pessoal e socialmente, se se sente obrigado a defender determinados princpios e idias e, ao mesmo tempo, vivenciar o contrrio do que pensa. Todos estamos procura de equilbrios, de coerncia, pelo menos para com nossa prpria conscincia. Ningum consegue olhar para um espelho e dizer enganei-te hoje. Sempre procuramos explicaes e justificativas razoveis para nossos gestos e aes. Neste sentido, so bastante reveladores os dados da pesquisa elaborada por um grupo de estudiosos da sndrome de burnout (ALVAREZ e outros, 1993). O termo, cujo significado literal estar queimado, explicam os pesquisadores citados, foi registrado por Freudenberg, pela primeira vez, em 1974. Referia-se ele ao conjunto sintomatolgico manifesto nos trabalhadores dos servios sociais ou adstritos s reas assistenciais. Pesquisas posteriores de Maslach (1977), Perlman e Hartman (1982), Maslach e Jackson (1981)30 deram-lhe estatuto emprico-cientfico, alm de conferirem-lhe notoriedade e consolidao terica. A sndrome no se confunde com stress ou ansiedade e se caracteriza pelo cansao emocional, pela despersonalizao em relao aos clientes ou usurios, pelo sentimento de inadequao pessoal este ltimo muitas vezes compensado ou
encoberto por uma sensao paradoxal de omnipotncia. Ante a ameaa de sentir-se incompetente, o profissional redobra seus esforos para enfrentar as situaes, dando a impresso aos que o observam de que seu interesse e dedicao so inesgotveis. ... uma espcie de stress crnico experimentado no contexto laboral, evidentemente no mbito das profisses cuja caracterstica essencial o contacto interpessoal (id., ib.: 50-51).
Esta reao compensadora manifesta na simulao de uma dedicao exclusiva e incondicional escola, com sacrifcios enormes nos outros
29 A pesquisa realizada por Menga Ldke e Llia Mediano (ob. cit. 107) comprovou que esta dicotomia ocorre no interior de um mesmo professor, que verbaliza sua adeso terica avaliao progressista, mas pratica, simultaneamente, uma avaliao tradicional. 30 Examinadas pelos mesmos pesquisadores citados.
38
segmentos da vida social e afetiva dos docentes mais explcita nos de ensino fundamental pode ser uma manifestao dessa sndrome. Os pesquisadores j citados levantaram uma srie de fatores, classificando-os em contextuais (institucionais) e textuais (interativos). Dentre os primeiros, destaca-se a progressiva responsabilidade do professor em ambientes multiculturais, levando-o a assumir discursos e papis contraditrios e ambguos. No estaria entre eles a assuno de um discurso pedaggico institucionalmente progressista e uma prtica interativa conservadora? Somente uma pesquisa mais profunda e abrangente, com o levantamento, cruzamento e anlise de variveis sociais, polticas, econmicas, culturais e pedaggicas, seria possvel chegar a concluses mais definitivas. Neste particular, chama-nos a ateno o trabalho realizado por Maria Eliana Novaes, Professora primria: mestra ou tia (1984: 105), no qual a pesquisadora, dentre vrias outras concluses, destaca que muitas docentes das primeiras letras a maioria constituda de mulheres no se casam e no tm filhos e que algumas delas, possivelmente, encontram no Magistrio uma alternativa de sublimao para a maternidade frustrada (como se pode inferir das constantes referncias do amor maternal que a professora deve dedicar ao aluno). A escola no o universo no qual esgota a trajetria do itinerrio individual e do processo civilizatrio, nem o trabalho docente pode resumir a razo da existncia de quem quer que seja, porque nem a primeira nem o segundo so fins em si mesmos, mas apenas e respectivamente, um dos espaos e um dos instrumentos de relacionamento do ser humano, cuja realizao s alcana sua plenitude numa variada gama de espaos e de relaes interpessoais. Dizer que o trabalho na escola a razo de ser de sua prpria existncia e, como resultado de tal presuno, monopolizar todas as atividades pessoais no que-fazer-pedaggico afundar-se na sndrome de burnout. E, certamente, a escola, enquanto instituio alienada, torna-se instituinte da alienao de seus atores, no atendendo nem mesmo s finalidades de seus criadores liberais, gerando disfuncionalidades e ameaando a to proclamada produtividade quase sempre traduzida nos reclamos de eficcia e eficincia. Simultaneamente, a burnout docente alimentada pelo desencontro entre as convices pedaggicas assumidas e as prticas educativas desenvolvidas, em funo das limitaes estruturais e circunstanciais que caracterizam o ambiente de trabalho. E o educador, na nsia de mostrar servio, compensar e camuflar seu prprio sentimento de impotncia, trabalha exaustivamente e tenta responder, desesperadamente, aos desafios de uma sociedade cada vez mais complexa e mais exigente.
39
2. A Escola e as Concepes de Avaliao No caso especfico da avaliao da aprendizagem, a escola brasileira encontra-se prensada entre as duas j mencionadas correntes resultantes de duas concepes pedaggicas radicalmente antagnicas. De um lado, as teorias educacionais que se auto-intitulam progressistas ganham maior expresso nas intenes proclamadas dos profissionais do setor; de outro, as idealizaes competitivas, classificatrias e meritocrticas, embora tambm rechaando as anteriores, apresentam maior freqncia nas prticas efetivas destes mesmos profissionais, no dia-a-dia da escola. A figura apresentada a seguir expressa melhor o que estamos querendo dizer.
Concepo I (Avaliao) auto interna qualitativa diagnstica permanente cdigos locais e sociais ritmos pessoais
ESCOLA
Concepo II (Avaliao) htero externa quantitativa classificatria peridica padres de qualidade e desempenhos universais aceitos
Procuramos no qualificar nenhuma das duas concepes, denominandoas, simplesmente, I e II, porque cada uma delas, em sua fobia dicotmica, ir adjetivar a si mesma como avanada, atualizada e progressista e ir considerar a outra como atrasada, desatualizada e retrgrada. Analisemos os procedimentos que cada uma delas prope. Os defensores mais radicais do primeiro tipo de avaliao consideram que apenas a auto-avaliao ou a avaliao interna so legtimas, considerando espria toda e qualquer verificao que faz apelo a avaliadores externos ao universo alvo do processo avaliativo. Assim, na verificao da aprendizagem, apenas os alunos seriam os legtimos avaliadores; na avaliao do desempenho da escola, somente os protagonistas envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, e assim por diante. De uma maneira vaga, referem-se exclusividade ou predominncia dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, rejeitando qualquer passo mensurador de dimenses e realidades quantificveis.
40
J destacamos anteriormente que, no Brasil, logo aps a consagrao deste princpio na legislao do ensino (Lei n. 5.692/71), muitos sistemas entenderam a predominncia dos aspectos qualitativos como a mera traduo dos resultados em expresses diferentes de notas. Nesta concepo, a avaliao da aprendizagem deve ter sempre uma finalidade exclusivamente diagnstica, ou seja, ela se volta para o levantamento das dificuldades dos discentes, com vistas correo de rumos, reformulao de procedimentos didtico-pedaggicos, ou at mesmo, de objetivos e metas. Quando se permite fazer comparaes, ela o faz em relao a dois momentos diferentes do desempenho do mesmo aluno: verificao do que ele avanou relativamente ao momento anterior de um processo de ensino-aprendizagem. De forma alguma ela pode ser usada para comparar desempenhos de alunos ou de turmas diferentes ou para classific-los em scores ou quadros que revelem hierarquias de desempenhos. Esta concepo tambm v a avaliao como um processo contnuo e paralelo ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso, ela permanente, permitindo-se a periodicidade apenas no registro das dificuldades e avanos do educando relativamente s suas prprias situaes pregressas. Finalmente, a concepo I considera como parmetros vlidos e legtimos para servirem de referncia apenas os ritmos, as caractersticas e aspiraes do prprio alvo da avaliao (pessoas ou instituies), os padres derivados dos cdigos locais e sociais de sua origem, isto , os traos de sua cultura primeira. Esta concepo resume o conjunto dos que denominaramos construtivistas, para os quais h um excesso de preocupao com o processo, ao mesmo tempo que desconhecem ou desqualificam os resultados (produtos). A segunda posio (concepo II) derivada obviamente de uma teoria pedaggica diametralmente oposta que referenciou a anterior considera que a auto-avaliao acaba por enganar os educandos e as instituies, na medida em que respeita quaisquer resultados de sua atividade, valorizando-os, mesmo no caso de desempenhos medocres. Se todo desempenho legtimo em relao s caractersticas dos prprios agentes, no h como distinguir um desempenho genial do de um dbil mental. Neste sentido e para evitar a estupidez arrogante e os corporativismos provincianos e mopes, prega a validade apenas da htero-avaliao e das verificaes de avaliadores externos. Em segundo lugar, destaca a importncia das medidas de dimenses ou aspectos quantificveis, rechaando, na maioria das vezes, as descries qualitativas, por sua subjetividade viciadora da autenticidade da expresso dos desempenhos. Considera ainda a importncia da periodicidade do processo de avaliao e do registro de seus resultados, especialmente nos momentos de terminalidade no caso da avaliao da aprendizagem, ao final de uma aula, de uma unidade ou conjunto de unidades, de uma srie ou de um curso. Finalmente, por ter uma funo classificatria, a avaliao deve sempre se referenciar em padres (cientficos ou culturais) socialmente aceitveis e desejveis, portanto, consagrados universalmente.
41
Esta concepo de avaliao enquadra-se no grupo das que denominamos positivistas, onde o que importa o produto, o resultado de determinado desempenho do aluno em relao a conhecimentos, habilidades e posturas reconhecidos por sua desiderabilidade. Talvez, por isso, o destaquem tanto as mensuraes de aspectos quantitativos, onde a comparao de desempenhos de atores diferentes fica facilitada. Os defensores desta concepo, por outro lado, acabam por se preocupar demasiadamente com o tratamento tcnico e estatstico dos resultados. Parece-nos que uma posio verdadeiramente dialtica no se colocaria em qualquer um dos plos da dicotomia mencionada, nem cairia no ecletismo mediador das duas teorias divergentes que, por isto mesmo, acabaria por apenas justapor, a partir de critrios meramente formais, traos anlogos ou aparentemente complementares de concepes antagnicas. Ao contrrio, uma concepo dialtica de educao e, conseqentemente, de avaliao, parte da realidade concreta para organizar a reflexo sobre ela e, em seguida, intervir nessa mesma realidade, de modo mais consistente, no sentido da mudana do sentido dos processos em benefcio da maioria dos envolvidos. Para melhor ilustrar o que estamos dizendo, imaginemos uma situao concreta, na qual somos convidados a desenvolver um curso sobre determinado tema, para um grupo de pessoas cujo grau de escolaridade e perfil profissional desconhecemos. Sabendo que a apreenso dos contedos a serem desenvolvidos e o alcance dos objetivos a serem atingidos dependem do domnio de alguns conhecimentos e habilidades prvias, interessamo-nos, primeiramente, em verificar esses pr-requisitos. Neste caso, a avaliao tem uma funo prognstica. Imaginemos ainda que, na situao descrita, constatamos, por exemplo, que parte dos cursistas no dominam todos os conhecimentos e habilidades necessrias ao desenvolvimento pleno do curso. Neste caso, ou introduzimos contedos e objetivos niveladores para este grupo, ou sugerimos sua separao dos demais, porque, caso continuem juntos na mesma turma, ou teremos um grupo que no acompanha, ou outro que se desinteressa pela temtica. Qualquer que seja a soluo, no decorrer do curso, buscamos verificar se todos esto acompanhando-o, com mais ou menos dificuldades, para aplicar os remdios saneadores (estratgias e procedimentos) que permitam um melhor acompanhamento do curso por todos. Neste caso, a avaliao tem uma funo diagnstica. Imaginemos, finalmente, que, ao final do curso, queiramos verificar quem absorveu todos os conhecimentos e incorporou as habilidades previstas nos objetivos inicialmente estabelecidos, com vistas ou no expedio de um documento comprobatrio do nvel alcanado. Neste caso, a avaliao apresenta-se com uma funo classificatria. Em um concurso, como o caso do vestibular ou de uma concorrncia por um emprego, esta ltima funo predominante, porque os candidatos esto disputando vagas em nmero menor que os pretendentes. No difcil perceber que, na escola bsica, as trs funes so pertinentes, dependendo das finalidades e do momento em que estamos desenvolvendo o processo de ensino-aprendizagem.
42
Quando recebemos uma turma de alunos, necessrio prognosticar os pr-requisitos exigidos para o desenvolvimento das atividades e procedimentos especficos do grau ou do nvel a ser iniciado. Mesmo que se trate de alunos que esto ingressando no ensino fundamental, necessrio verificar o domnio de certas habilidades e conhecimentos prvios, adquiridos no ambiente familiar ou numa unidade de educao infantil. Ao longo do trabalho com a turma, a funo prognstica se torna reincidente, a cada momento que iniciamos uma unidade ou um tema novo, a no ser que o plano de curso esteja organizado numa rigorosa ordem pr-requisital cumulativa e que a verificao da unidade anterior tenha includo todos os pr-requisitos necessrios ao desenvolvimento da subseqente. J ao longo do processo de aprendizagem, predominar a funo diagnstica, isto , a verificao das dificuldades dos alunos, a fim de que sejam disponibilizados os instrumentos e as estratgias de sua superao. Por isso, mais do que verificar acertos, a avaliao da aprendizagem volta-se, substancialmente, para a constatao dos equvocos. Alm dessa funo diagnstica, o erro tambm indicativo fundamental para que o professor atento perceba os esquemas e mecanismos que foram acionados pelo aluno na soluo das situaes-problema que lhe foram apresentadas na avaliao.
... o trabalho pedaggico possvel no se relaciona com o binmio erro-acerto, mas visa proporcionar um conjunto global de experincias que propiciem o desenvolvimento e a aquisio da estrutura cognitiva situada no tempo (cronologia) na seqncia (construtivismo) e no espao (condies histricas presentes). (LIMA, 1994: 85).31
A funo classificatria tambm tem seu lugar na avaliao escolar. Com o sistema seriado ou no, ao final de uma srie, ciclo, etapa ou grau, necessrio verificar se um aluno conseguiu incorporar os conhecimentos, as habilidades e as posturas que se tinha como objetivos finais. evidente que estamos nos abstraindo, neste momento, da discusso sobre o fato de estes objetivos terem sido formulados de um modo democrtico ou autoritrio, de terem sido fixados por pactos sociais voltados para a socializao do produto social ou se foram impostos pelos grupos hegemnicos de modo a atenderem, prioritariamente a seus objetivos particulares. Conforme demonstraremos mais adiante, o processo de avaliao que defendemos referencia-se num sistema educacional que discute a sociedade na qual est inserido e colabora para sua transformao. Neste ponto, queremos apenas destacar o carter complementar das duas concepes que apareceram na figura da escola prensada. Ou seja, a avaliao da concepo I faz muito sentido no incio e no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Cabe destacar, porm, que mesmo neste aspecto, quando compara-se o desempenho de um aluno em relao a seus desempenhos prvios ao processo de ensino-aprendizagem, para verificar se ele progrediu ou no, este progresso acaba por considerar padres
31
Mais adiante, discutiremos a funo do erro no processo de aprendizagem.
43
desejveis. Caso contrrio, no h como verificar se ele avanou: quem progride, f-lo em direo a algum horizonte pr-fixado ou pr-determinado. No h como verificar se o aluno progrediu sem se determinar previamente o sentido deste progresso. No caso da concepo II, a verificao do nvel alcanado se justifica nas avaliaes de terminalidades, isto , no credenciamento do aluno para o enfrentamento da etapa de estudos seguintes ou, no limite, para o enfrentamento da vida em sociedade, j que ele no vai viver eternamente na escola. Este credenciamento nada tem a ver com sua integrao social ou com o acolhimento que a sociedade lhe propiciar. Tem a ver com a conscincia do prprio educando sobre as possibilidades e limitaes que enfrentar ao se deparar com as determinaes sociais. No se pode, no processo de avaliao dessas terminalidades, dizer ao aluno que ele est preparado quando no est para a sua insero crtica na vida da sociedade especfica. Concluindo, pode-se dizer que a avaliao auto, interna, diagnstica, qualitativa, referenciada em cdigos locais e sociais e respeitosa em relao aos ritmos e condies pessoais fundamental nos pontos de partida e nos da trajetria do itinerrio pedaggico de cada aluno. Porm, a avaliao htero, externa, quantitativa e referenciada em padres socialmente pactuados aceitos essencial nos pontos de chegada. Alm disso, os aspectos quantitativos acabam por perpassar todo e qualquer tipo de avaliao, mesmo porque, fundamentalmente, no h como separ-los dos qualitativos.
equvoco pretender confronto dicotmico entre qualidade e quantidade, pela simples razo de que ambas as dimenses fazem parte da realidade da vida. No so coisas estanques, mas facetas do mesmo todo. Por mais que possamos admitir qualidade como algo mais e mesmo melhor que quantidade, no fundo uma jamais substitui a outra, embora seja sempre possvel preferir uma outra. (DEMO, 1994: 9)
Este mesmo autor esclarece que enquanto a quantidade caracteriza-se pela extenso, a qualidade constri-se na intensidade. A primeira corpo, tamanho, nmero, extenso e base e condio para a segunda, porque indica que toda pretenso qualitativa passa igualmente pela quantidade, nem que seja como simples meio, instrumento, insumo. (Id., ib.: 10). No captulo seguinte, tentaremos comprovar a importncia da medida na avaliao da aprendizagem e, ao mesmo tempo, discutir mais minuciosa e profundamente as relaes quantidade/qualidade e objetividade/subjetividade.
44
CAPTULO II MEDIDA E AVALIAO
Iniciemos este tpico pela discusso da relao entre objetividade e subjetividade, embora ela j esteja relativamente delineada na primeira parte deste trabalho, quando tratamos da relao entre ideologia e avaliao. Nenhuma afirmao humana, manifesta em qualquer forma de expresso discurso escrito, falado, iconogrfico etc. pode ser absolutamente objetivo, nem absolutamente subjetivo. A pretenso da representao absolutamente objetiva da realidade pertence ao campo epistemolgico e discursivo do positivismo, conforme vimos anteriormente. Por outro lado, nenhuma representao da realidade absolutamente subjetiva, isto , adstrita somente ao pensamento de seu formulador, porque este estar, no mnimo, condicionado pelos cdigos sociais do segmento de classe a que pertence. Assim, no caso da avaliao, ainda que se trate de questes objetivas, elas estaro carregadas da subjetividade de quem as formula, a partir mesmo da escolha dos temas ou aspectos a serem destacados nas respostas. A no ser nos casos de combinao prvia do que se quer como resposta e de memorizao estrita do que foi combinado, no h possibilidade de se estabelecer uma relao biunvoca rgida entre o que se pergunta e o que se responde. Toda situao-problema ou toda questo abre um leque de possibilidades a quem tenta resolv-la ou respond-la, porque contextos e momentos diversos podem induzir at mesmo uma nica pessoa a responder de modo diferente mesma questo. Por outro lado, no h questes ou situaes-problema absolutamente subjetivas, porque a simples inteligibilidade de sua formulao exigir cdigos comuns de interlocuo. Algum que quisesse formular um discurso indagativo inteiramente indito, inclusive nos termos e suas relaes sintagmticas, no seria compreendido a no ser por si mesmo. Objetividade e subjetividade interpenetram-se no caso de qualquer relao humana e, portanto, estaro sempre presentes e imbricadas nas relaes pedaggicas e avaliativas. Geralmente so denominadas questes objetivas as que possibilitam ao aluno apenas uma resposta, no havendo possibilidade de interpretao, nem do lado docente, nem do discente, pois as respostas so remetidas a um gabarito previamente elaborado e guardado debaixo de sete chaves. Contudo, convm lembrar que a questo e o gabarito foram elaborados pelo professor, a partir de seus conhecimentos sobre o tema; foram formulados sob um vocabulrio e uma sintaxe especficos de seu sistema simblico; referenciaram-se em parmetros construdos a partir de suas aspiraes, projees e ideais e foram traduzidos em intencionalidades relativas s respostas a serem dadas pelos alunos. E a subjetividade aumenta se nos lembrarmos que, do outro lado da relao de comunicao que se quer estabelecer, est um outro sujeito o aluno dotado tambm de um sistema simblico prprio, portador de um vocabulrio e uma sintaxe especficos, voltado para aspiraes, projees e ideais singulares. Na avaliao da aprendizagem
45
confrontam-se vises de mundo de seres que, mesmo que pertenam mesma classe social, esto em fases diferentes de acumulao de conhecimentos, experincias e maturidade. Tivemos a oportunidade de vivenciar e de assistir casos de mudanas de gabaritos para as mesmas questes, pelo mesmo professor, ao longo de nosso itinerrio de estudante e de docente. So chamadas questes subjetivas as que remetem a respostas dissertativas ou de ensaio, isto , as que exigem do aluno discorrer sobre determinado tema. claro que, neste caso, a possibilidade de intervenincia da subjetividade, de ambos os lados, maior. No porque so mais sujeitas a interpretaes diversas, mas porque h uma manifestao mais extensa das subjetividades em confronto. De qualquer forma, elas so objetivas, na medida em que h uma comunicao possvel, pois ambos os interlocutores (professor e aluno) se remetem a um cdigo comum que permite a compreenso mtua de concordncias e discordncias quanto s respostas. O que queremos destacar, em ambos os tipos de questo, a possibilidade de uma reflexo sistemtica, em torno de erros e acertos, em torno de mecanismos de raciocnio que foram desencadeados na formulao das questes e nas respostas a elas dadas pelos alunos, constituindo-se numa das etapas mais ricas da relao pedaggica. nos comentrios e discusses das provas e trabalhos corrigidos que se tem momentos privilegiados de aprendizagem, para ambos os lados! E sabemos como essas oportunidades so raras nas nossas escolas, porque o que assistimos , na maioria das vezes, praxe da matria vencida ao final da correo e simples entrega dos resultados das provas. Retornemos, contudo, ao que nos propusemos neste tpico: diferenciar medida de avaliao. 1. Medida A Lngua Portuguesa pobre no que diz respeito verificao da aprendizagem, pois confere palavra avaliao dois significados diferentes: 1.) Em sentido amplo, ela abrange todo o processo de verificao de determinada aprendizagem. Ou seja, termo tomado em seu sentido amplo, diz respeito ao processo de verificao da aprendizagem como um todo. 2.) Em sentido restrito, ela se refere apenas a uma etapa desse mesmo processo, isto , refere-se ao segundo momento especfico deste processo. Quando falamos em avaliao da aprendizagem, geralmente estamos nos referindo a todo o conjunto de procedimentos, que vo da formulao das questes qualquer que seja o mtodo adotado e os instrumentos escolhidos anlise dos resultados alcanados pelos avaliados. Contudo, usamos a mesma expresso, de forma mais tcnica, para nos referirmos fase do processo de verificao que diz respeito comparao entre os desempenhos constatados e a escala de desempenhos desejados. De fato, medida e avaliao so dois momentos de um mesmo processo mais global, que tambm denominamos avaliao.
46
E o que vem a ser a medida? Ela necessria no processo de avaliao da aprendizagem, mesmo sob a inspirao de uma concepo no-positivista? o que tentaremos responder nos prximos pargrafos. A medida, enquanto tentativa de constatao exata das dimenses do desempenho do aluno, predominou nas primeiras tentativas e em vrias dcadas da trajetria da avaliao nos sistemas educacionais32. Derivada da Psicologia, que esteve inicial e intimamente associada psicometria, a avaliao educacional estruturou-se de modo objetivista. Tentando desgarrar-se da filosofia e construir um campo de conhecimentos com estatuto cientfico prprio, os primeiros psiclogos voltaram-se para critrios cientificidade das cincias naturais, internando-se nos laboratrios da psicologia experimental e, conseqentemente, superestimando os aspectos quantitativos. Essa transposio mecnica dos mtodos e tcnicas aplicveis s cincias da natureza para o tratamento dos fenmenos sociais estendeu-se ao campo educacional, inserindo-o no universo da matriz positivista33. As mudanas comportamentais, cientificamente observveis, a partir de testes padronizados, passaram a ser a preocupao fundamental dos procedimentos avaliativos, desvalorizando-se as verificaes mais voltadas para os sujeitos e para os processos de aprendizagem. Posteriormente, na medida em que os sistemas de ensino voltaram-se para as cargas de contedo ao ponto de os planos de curso se reduzirem a meros elencos de unidades de programa o exagero da medida foi aplicado no sentido da verificao das quantidades de informaes absorvidas pelos alunos, permanecendo, lamentavelmente, at os dias de hoje, como centralidade das avaliaes que ocorrem na escola brasileira. A reao onda objetivista armou-se de mil preconceitos contra a medida, caindo no outro extremo de simples verificao de ritmos e itinerrios pessoais, de intimismos e abstraes desencarnados, porque desconhecedores das objetivaes determinadas pelas necessidades histricas. A quantificao passou a ser a ovelha negra nas cincias sociais, como se sua mera utilizao fosse suficiente para contaminar de positivismo qualquer procedimento neste universo gnoseolgico.
... a matriz subjetivista mostrou-se, e mostra-se ainda hoje, insuficiente para a explicao da realidade educacional. Isso tambm fragmenta a realidade uma vez que permanece no mbito das anlises abstratase universais e perpetua as concluses centradas no indivduo e em seus vnculos intimistas... (FRANCO, 1993: 20).
Por isso, mas com o devido cuidado, a medida tem de ser retomada nas consideraes sobre avaliao da aprendizagem. Em outras palavras, para ser aplicada na educao, deve-se evitar o significado estrito que lhe atribuem os fsicos e tom-la em seu sentido amplo. Seno vejamos. Para estes cientistas, a
32 No exagerado dizer que, no caso brasileiro, ela continua predominando nos processos de verificao do rendimento escolar. 33 Caberia uma explicao da determinao histrico-sociolgica dessa matriz, mas ela escapa aos limites deste trabalho.
47
medida consiste num processo de associao numrica a determinados fenmenos. Ou seja, medir significa comparar grandezas de mesma espcie, tomando-se uma delas como unidade. Ou ainda: entende-se por medida a constatao de quantas vezes a grandeza tomada como unidade cabe dentro da grandeza de mesma espcie que se deseja medir, ou quantas vezes esta maior que aquela. Imaginemos que queiramos medir o comprimento de uma piscina: pegamos um metro grandeza linear tomada como unidade e verificamos quantas vezes ele cabe no comprimento (grandeza linear a ser medida) da piscina. Portanto, a medida considerada em seu sentido restrito implica na possibilidade de somar dimenses, isto , para que uma grandeza seja mensurvel (no sentido restrito dos fsicos) necessrio que se saiba somar duas grandezas da espcie considerada (MARTINS, 1970: 6). No exemplo citado, todas as operaes matemticas bsicas com nmeros abstratos so possveis. a medida propriamente dita. Da mesma maneira podem ser tratadas, matematicamente, as grandezas de rea, volume, velocidade, massa, densidade, carga etc. somente neste sentido que os fsicos usam e aplicam o vocbulo medida. Tomemos como exemplo o caso de uma grandeza cuja aparente identidade de natureza se enquadre na categoria de grandeza mensurvel em sentido estrito: a intensidade de uma dor qualquer. Ainda que falemos em dor maior ou dor menor, incluir intensidades diferentes de dor nesta categoria ficaria complicado, pois carece de sentido som-las. O que queremos dizer que, saindo do campo restrito da Fsica, s podemos considerar a medida em um sentido mais lato. H outras grandezas a que podemos fazer associaes numricas, mas somente em determinados aspectos especficos a elas correlacionados. Tomemos o exemplo da cronologia (cincia auxiliar da Histria que trata da durao, do tempo, das datas). No faz o menor sentido realizar qualquer das operaes fundamentais com duas datas. Entretanto, posso fazer consideraes matemticas sobre seus intervalos. Neste caso, diferentemente do primeiro, trata-se da durao, que desprovida de zero absoluto. Trata-se de uma escala de intervalos uniformes cujo zero arbitrrio. O mesmo pode ser dito em relao s medidas de temperatura: desprovido de sentido somar, multiplicar ou dividir temperaturas por um nmero abstrato, mas cabe realizar a operao subtrao com seus intervalos uniformes. Em terceiro lugar, surgem as escalas de ordenaes, s quais tambm possvel fazer associaes numricas especficas (maior/menor, mais/menos etc.). Martins menciona dois exemplos bastante ilustrativos deste tipo de escala, ao qual no podem ser aplicadas quaisquer operaes matemticas.
teoricamente possvel, na hiptese de juzes competentes e imparciais, classificar as candidatas a um concurso de beleza feminina e dizer que Helosa mais bela que Joana, e Joana mais bela que Carlota (salvo protestos veementes das famlias das colocadas em posio inferior). Outro exemplo desse sistema de associao numrica, menos sujeito a controvrsias, o representado pela escala de dureza de Mohs empregado h mais de um sculo em minerao. Diz-se que um mineral mais duro que
48
outro quando o primeiro pode riscar o segundo sem ser riscado por este...(MARTINS, ob. cit.: 11).
Na ordenao, s possvel estabelecer as relaes > (maior que), = (igual) e < (menor que). Finalmente, existem associaes numricas inteiramente arbitrrias, como o caso da numerao das residncias, dos telefones, das placas de veculos, cujo objetivo apenas de facilitar a memorizao. Neste ltimo caso, no faz qualquer sentido operar matematicamente qualquer dos nmeros convencionados. Que tipo de medida pode ser aplicada na verificao do rendimento escolar?34 Em que sistema numrico se enquadram as notas dadas pelos professores a seus alunos? O sistema que delas parece mais se aproximar o das ordenaes: so desprovidas de zero absoluto ainda que, lamentavelmente, vrios zeros sejam aplicados em muitos alunos e de intervalos uniformes. Portanto, nem matematicamente faz sentido realizar as operaes bsicas com as notas. Elas se constituem em simples ordenaes e ainda assim de legitimidade duvidosa. Os intervalos entre as diversas notas no sero uniformes, porque no possvel estabelecer uma rgida regularidade entre os graus crescentes de dificuldade das situaes-problema ou questes formuladas, nem estabelecer rgidos limites entre a qualidade das respostas. Sabemos que esta regularidade estar condicionada pela viso de mundo de cada professor e de cada aluno, com todas as suas implicaes: origem social, histria de vida, grau de erudio, disposies do momento etc. A ideologia, com suas marcas de objetividade e de subjetividade, historicamente determinadas, estar perpassando todo o processo, desde a formulao do que deve ser avaliado, at a anlise dos resultados. Porm, vejamos um outro exemplo, para entendermos a necessidade da medida na avaliao de situaes que se enquadram na escala das ordenaes. Imaginemos que estamos diante de uma farmcia uma daquelas que sempre dispem de uma balana entrada e, indiscretamente, ficamos observando as pessoas que entram e se pesam. Uma senhora de meia idade sobe na balana e, indiscretamente repetimos, constatamos com ela que o aparelho acusou 82 kg. Duvidando do prprio peso, ela desce e sobe de novo na balana, deixando de lado sua bolsa. Implacavelmente o instrumento registra 81,50 kg. Ela duvida do aparelho e pergunta ao farmacutico: Esta balana no est estragada? Ao que ele responde com certa ironia: No! Desconsolada, a senhora deixa a drogaria balanando a cabea em desaprovao. Pouco tempo depois, um senhor sobe na mesma balana e, para nosso indiscreto espanto, registra 82 kg. Confirma o prprio peso de 81,50 kg, deixando um embrulho que tinha mo sobre o balco, indaga tambm ao farmacutico sobre a fidedignidade do aparelho, mas, ao contrrio da senhora, abre o rosto num sorriso de satisfao e
34 Lembramos que a totalidade de nossos sistemas educacionais, salvo rarssimas excees, adotam escalas de notas para exprimir o rendimento dos alunos. Como j destacamos anteriormente, mesmo naqueles em que as notas foram substitudas por letras, conceitos ou menes descritivas, h sempre uma tabela de converso desses outros smbolos em notas.
49
deixa o estabelecimento. Ns, do lado, indiscretamente registrando as medidas constatadas pelos dois gordinhos, no entendemos, inicialmente, as razes da tristeza de uma e da alegria do outro, se ambos apresentaram o mesmo peso! Raciocinando com mais calma, podemos imaginar o que aconteceu. Os trs observadores a senhora, o senhor e eu medimos a massa de ambos. S que eu apenas medi; os dois, alm de medirem, avaliaram. Certamente, ambos foram ao mdico que, de acordo com as respectivas idades, estaturas, estados de sade etc., prescreveu-lhes uma meta de perda de 5 kg de peso em um ms, a partir do cumprimento de uma srie condies: exerccios fsicos, dieta e remdios. A senhora, certamente, no conseguiu atingir a meta e o senhor ultrapassou-a, j que seus pesos anteriores prescrio mdica eram diferentes Ou seja, no processo de avaliao, ambos registraram o prprio peso na balana da farmcia e constataram, face escala de dimenses desejveis, que alcanaram ou no o objetivo prescrito pelo mdico. Como eu no dispunha da mesma escala, elaborada previamente, apenas medi, sem entender as razes da tristeza de uma e da alegria do outro. Ora, pelo esclarecido anteriormente, a medida de massa que uma medida fsica perfeitamente susceptvel de aceitar associaes numricas. Contudo, no exemplo dado, no tem sentido fazer operaes de soma, subtrao, multiplicao e diviso entre os pesos constatados em duas medies. Porm, das massas constatadas nos registros numricos da balana, foi possvel fazer associaes qualitativas, julgamentos de valor relativos sade do senhor e da senhora que se pesaram. Tambm o processo de verificao do rendimento escolar implica em dois momentos: medir e avaliar. No primeiro, tentamos, com mais ou menos objetividade, atravs de um instrumento adequado, medir o desempenho do educando, isto , simplesmente coletar e registrar seu desempenho; em seguida, avaliamos em sentido estrito o que trataremos no tpico seguinte. Na maioria das vezes, no sistema educacional, os docentes avaliam os discentes sem processar, primeiramente, com os instrumentos adequados, as medidas oportunas. o caso daqueles professores que j vo logo emitindo um juzo de valor sobre o aluno, sem antes, metodicamente, tentar esgotar os registros dos desempenhos que, integrada e organicamente, justificariam tal juzo. Este aluno no tem jeito para estudar. Aquele outro aluno um indisciplinado incurvel. Ah, este no participa de nada. Noutras vezes, usam o termmetro para medir velocidade... isto , pensam estar medindo uma coisa, quando, na verdade, esto medindo outra. Vejamos o problema seguinte, muito comum nos livros didticos de matemtica:
Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tu tiveres a idade que eu tenho, nossas idades somaro 45. Quais so elas?
Lembro-me de ter sido submetido, numa prova, a este problema, num momento em que toda a turma era capaz de resolver, com relativa facilidade, sistemas de equaes do primeiro e do segundo graus com qualquer nmero de incgnitas. Contudo, o problema proposto, embora desembocasse num desses sistemas, apresentava uma grande complexidade no que diz respeito traduo
50
de sua literalidade para a linguagem matemtica. Trata-se, como nele fica evidente, de um problema de conjugao do verbo ter, porque, depois de montado o sistema de trs equaes com trs incgnitas, ele se reduz a mero clculo! Para no deixar o problema no ar, vamos sua resoluo: a) Identificao das incgnitas: x = minha idade y = tua idade z = diferena entre as duas idades b) Montagem do sistema de equaes: x-y=z x = 2 (y - z) x + y + z + z = 45 c) Resoluo Na primeira equao: x = y + z Comparando a primeira com a segunda, temos: y + z = 2 (y - z). Isolando a incgnita y , teremos: y = 3z Substituindo na ltima equao, teremos: 3z + z + 3z + z + z = 45, donde 9z = 45, que permite deduzir que: z = 5 Substituindo nas demais equaes, teremos: I - Se y = 3z, logo y = 15; II - Se x = y + z, logo, x = 15 + 5 = 20. Em suma, montado o sistema de equaes, qualquer que seja a tcnica adotada na lgebra para a soluo de sistemas de equaes, o problema se transforma numa mera srie de operaes e substituies, levando qualquer estudante de lgebra resposta de que as idades so 20 e 15 anos. Medir significa registrar e atribuir smbolos s dimenses de um fenmeno, a fim de caracterizar-lhe a posio ou status. No exemplo citado anteriormente, o senhor, a senhora e eu registramos o mesmo peso na balana da farmcia, traduzido no smbolo 81,50 kg e, inicialmente, nada havia a dizer sobre as razes da insatisfao de um e a felicidade do outro. Quando buscamos exemplos de medida, geralmente recorremos ao campo da Fsica. Vejamos um outro exemplo fora dele e mais prximo do campo do desempenho humano. Num curso de digitao, Carlos conseguiu 50 toques por minuto e cometeu 5 erros. Nada se pode ser dito em termos de sua qualificao como digitador, uma vez que apenas medimos e registramos as dimenses rapidez e preciso do desempenho de Carlos como digitador. Constatamos apenas as duas dimenses traduzidas em termos numricos de uma realizao. E para medir as duas destrezas de Carlos, tivemos de recorrer a instrumentos adequados: um cronmetro para medir o tempo em que ele registrou 50 dgitos e a contagem do nmero de erros de digitao. Por isso, a medida deve se revestir de algumas caractersticas:
51
a) Objetividade Trata-se de constatar e registrar, apenas e objetivamente, o que se pretendia medir. Neste sentido, os instrumentos de medida devem ser permanentemente questionados quanto sua objetividade, pois os fenmenos educacionais no se enquadram em mensuraes rgidas. A correo de uma questo, por mais fidedigna que seja, estar condicionada subjetividade de quem vai corrigi-la. Por outro lado, uma prova, por mais objetiva que seja, sempre aplicada em determinadas circunstncias que condicionam os alunos, individual e diferentemente, dependendo de seus itinerrios pedaggicos especficos, de sua origem scio-cultural, de seus ritmos, enfim de sua viso de mundo e do modo especfico de insero social do grupo a que pertencem. Uma questo, uma prova ou qualquer outro instrumento de medida no permite seno uma amostra do desempenho do avaliado o que levanta o problema da adequao da amostragem para se obter fidedignidade do instrumento (ROMO, 1984: 10). b) Fidedignidade e Validade Aqui preciso cuidado para no confundir os conceitos. Um instrumento de medida fidedigno quando mede, com relativo rigor, aquilo que pretendia medir. um conceito estatstico que no se confunde com validade. Ela define a extenso do xito de um instrumento, que pode ser fidedigno, sem que seja vlido. Enquanto o conceito de fidedignidade est vinculado ao de preciso, o de validade referencia-se no de finalidade. Se tomarmos o exemplo dado anteriormente o problema matemtico das idades percebemos que era bastante preciso. Contudo, nas circunstncias em que fora aplicado, era mais vlido para medir os conhecimentos dos alunos em Portugus (conjugao do verbo ter) do que para verificar a competncia dos alunos em resolver equaes. E at mesmo uma questo fidedigna e vlida, pode no se inserir no universo da utilidade. c) Utilidade Dizemos que algo til, quando atende a uma finalidade humana, isto , quando capaz de satisfazer uma das necessidades da espcie, seja no sistema produtivo, seja no associativo, seja no simblico. Geralmente denominamos bem o ente ou servio capaz de satisfazer as necessidades humanas. No tendo fim em si mesma, a educao e menos ainda, a avaliao e o instrumento de medida para ser til, deve resolver os problemas criados pelas necessidades inseridas nos projetos pessoais e coletivos. Portanto, para ser til, um instrumento de medida tem de satisfazer a necessidade para a qual foi criado, com economia de tempo, recursos materiais e esforo humano. Como o ensino regular se distanciou muito dos projetos de vida de suas clientelas, h
52
uma tendncia na avaliao da aprendizagem em exacerbar a disfuncionalidade do saber escolar. Em termos mais simples: por mais que se denuncie a intencionalidade alienante imposta ao currculo pela ideologia hegemnica, constatamos uma reiterada proclamao do fracasso escolar, at mesmo pelos denunciados. Cabe aqui relembrar a relativa autonomia da superestrutura, extensiva aos aparelhos ideolgicos. A escola, como destacou Guiomar Namo de Mello (1982), ainda que reproduza a dominao e as determinaes sociais, acaba por produzir os seus prprios mecanismos de seletividade e discriminao. Da mesma forma, as disciplinas, e a avaliao em cada uma delas, acabam por adquirir finalidades em si mesmas, distanciando-se, cada vez mais, dos alvos para os quais foram criadas. O desinteresse da maioria dos alunos, especialmente no sentido de se safarem das provas da melhor maneira possvel, esquecendo-se, no dia seguinte, o desempenho nelas revelado, tem razes na percepo deles de que tm de aprender a resolver provas de determinado professor, e no [...] incorporar os conhecimentos, habilidades e posturas exigidas pelo seu projeto de vida. Some-se a isso a fico, j mencionada, que perpassa a maioria das situaes-problema simuladas nos processos de avaliao. d) Pertinncia e Oportunidade Essas duas ltimas caractersticas aplicam-se tambm ao processo de avaliao como um todo. Por pertinncia queremos entender a adequao de uma medida, pois tm sido muito comuns, nos processos de avaliao da aprendizagem escolar certamente por causa da generalizada proclamao idealista da educao integral concluir-se algo mais geral sobre o aluno, quando, na verdade, se mediu apenas uma destreza especfica. Imaginemos, no exemplo dado sobre avaliao da rapidez e preciso de um digitador, o desastre que seria se o professor de computao conclusse algo sobre a personalidade do aluno apenas a partir da medida dessas destrezas especficas! Alis, num curso de datilografia ou de digitao, caberia a verificao de outros conhecimentos ou habilidades? A pertinncia de um instrumento de medida diretamente proporcional clareza da definio dos objetivos no planejamento educacional e precisa delimitao do grau de sua incorporao pelos alunos, que se pretende verificar na situao de avaliao especfica. Um instrumento de medida pode ser pertinente, mas no ser oportuno. Enquanto a pertinncia tem a ver com a adequao dos procedimentos e instrumentos verificadores pretenso de verificao, a oportunidade tem a ver com os objetivos e as circunstncias especficas de aplicao dos instrumentos de medida. Dependendo do que aconteceu na sala de aula em determinado dia, mesmo que estivesse acordado entre professor e alunos uma situao especfica de medida, pode ser conveniente marc-la para outro dia, at porque so muito comuns as ponderaes protelatrias dos alunos.
53
2. Avaliao Em seu sentido restrito, a avaliao da aprendizagem o procedimento docente que atribui smbolos a fenmenos cujas dimenses foram medidas, a fim de lhes caracterizar o valor, por comparao com padres pr-fixados. Ainda que relativizando a diferena entre eles, conforme destacamos na anlise das relaes entre cincia e ideologia, enquanto a medida constri-se mais em cima de juzos de fato (denotaes consensuais pactuadas) a avaliao se edifica sobre juzos de valor (conotaes construdas a partir das vises de mundo). Retomando os exemplos j citados, enquanto o senhor e a senhora reagiram, sentimentalmente, constatao do prprio peso, porque compararam-no a um peso ideal para si mesmos indicado pelo mdico , como observador indiscreto, inicialmente, no tive condies de compreender as razes das reaes antagnicas diante de uma mesma medida. No caso da digitao, a concluso sobre Carlos ser um excelente, bom, regular ou mau digitador s pode ser exarada a partir da comparao de seu desempenho (rapidez e preciso medidas e registradas) com uma escala de tempo desejvel combinada com um elenco de erros tolervel, sendo que essa desiderabilidade e essa tolerncia so fixadas previamente. Cabe indagar, nesta altura, se a avaliao s aplicvel a fenmenos precisamente mensurveis. A resposta no! Se observamos que um aluno jamais se atrasa para as aulas, podemos concluir que ele pontual; se outro se nega, reiteradamente, a prestar auxlio aos colegas, conclumos que ele apresenta uma sria carncia no esprito de cooperao e solidariedade. Porm, em ambos os casos, ainda que sem a medida precisa, observaes sistemticas se constituem em verdadeiras medidas. E a traduo dos resultados de uma avaliao no se reduzem a meros smbolos marcados (notas, conceitos ou menes), mas podem tambm ser expressos em descries qualitativas. Pelo exposto, percebe-se que a medida e a avaliao so, de fato, dois passos de um mesmo processo, sendo difcil distingui-los em determinadas situaes de verificao da aprendizagem. De um certo modo, a avaliao em sentido restrito, um tipo especial de medida comparada. A dificuldade aumenta quando a transformao de smbolos de medida em smbolos de avaliao , praticamente automtica, como, por exemplo, nos casos extremos: se um aluno consegue o mximo ou o mnimo de acertos numa prova, somos levados a transformar, automaticamente, tal medida em avaliao. A avaliao implica em desiderabilidade, sendo, portanto, subjetiva, porque referenciada em valores de determinada poca, sociedade ou classe social. Os padres desejveis so construdos a partir de interesses, aspiraes, projees e ideais de grupos socialmente definidos. Ou seja, os padres reproduzem o carter ideolgico dos objetivos educacionais de determinado sistema. Por isso, nesta discusso, o essencial a forma de construo das escalas de valores com as quais sero comparadas os desempenhos dos alunos. Ainda no nasceu a cincia hierarquizadora de valores, pois a
54
axiologia, enquanto pretenso de anlise terico-crtica dos valores, no resiste relativizao propiciada pela anlise histrico-sociolgica dos interesses. Alm da avaliao diagnstica permanente, para alertar o aluno sobre mudanas de rumo e de estratgias, no decorrer do prprio processo de aprendizagem, conveniente, sempre ao final de uma determinada unidade qualquer que seja a concepo que tenha presidido a organizao curricular a verificao do nvel alcanado pelos alunos na mesma. De fato, no tem sentido passar-se a uma nova unidade, mormente se o programa de atividades foi organizado sob o princpio da pr-requisitao, sem uma avaliao do caminho j percorrido na unidade anterior. A avaliao ao final de uma unidade-didtica constitui-se numa espcie de terminalidade35 parcial. O conceito de oportunidade fundamental, porque, no caso brasileiro, os momentos de verificao e registro dessas terminalidades parciais so, rgida e burocraticamente, estabelecidos pelo sistema, na periodicidade mensal (anteriormente) e bimestral (nos dias de hoje). Em outras palavras, a rigidez dos momentos dos registros escolares se imps aos momentos de verificao da aprendizagem, desconhecendo-se totalmente as convenincias didticopedaggicas. Como o professor tem de entregar, na secretaria da escola, as notas dos alunos ao final de cada bimestre, no importa que ele esteja no meio de uma unidade. Se o que j desenvolveu com os alunos ainda depende de mais alguns passos para complementar um pr-requisito, ele no pode adiar a avaliao, porque pressionado pelos prazos burocrticos. E tudo isso feito em nome da discutidssima mdia final, calculada com base nos dados dos registros peridicos realizados em intervalos cuja uniformidade responde aos interesses da burocracia, mas desconhece os ritmos do processo de ensinoaprendizagem. Se no houvesse essa imposio formal do sistema, as avaliaes de terminalidades parciais ocorreriam a intervalos determinados pela concluso de unidades-didticas, uma vez que os objetivos educacionais se sobreporiam a uma necessidade burocrtica. J por mais de uma vez usamos a expresso unidade-didtica. Embora sua discusso mais aprofundada escape aos limites deste trabalho, consideramos til, pelo menos, sumariar o que entendemos por ela. Na maioria das escolas brasileiras, a unidade considerada como uma subdiviso do contedo programtico, caracterizada como uma totalidade relativa. Em outras palavras, considera-se, quase sempre, apenas a unidadeprograma. Esta concepo derivada dos Estados Unidos, onde Henry Morrison desenvolveu o conceito de unidade como base da organizao da matria curricular:
Definimos como uma unidade de aprendizagem til como um aspecto compreensivo e significativo do ambiente, de uma cincia organizada, de uma arte, ou de uma conduta, que, aprendido, resulta numa adaptao da personalidade. (Cit. por CUNNINGHAM, 1960: 370).
35
Relembrando sempre sobre o carter relativo de qualquer terminalidade em educao.
55
A partir dos anos 60, comearam a surgir tmidas tentativas de articulao orgnica entre determinada frao do programa e o conjunto dos procedimentos didtico-pedaggicos previstos para serem aplicados no tratamento dessa frao. Alm da falta de entrosamento horizontal (na mesma srie) e vertical (entre as sries de um mesmo grau), principalmente nas sries cuja grade curricular se organizava em disciplinas, comeou-se a reclamar um ajuste entre os contedos programticos e os mecanismos, instrumentos, estratgias e recursos mais adequados a seu desenvolvimento. A partir da comeou a surgir a noo de unidade-didtica, ou seja, um conjunto articulado de objetivos, contedos, estratgias e tcnicas, relativamente autnomo e constitudo de dependncias internas. Na realidade, o esforo empreendido pelos educadores desde ento buscava a superao do planejamento educacional identificado com a programao e que redundava na mera justaposio de um elenco de contedos. Ao mesmo tempo, iniciava-se a discusso sobre a legitimidade dos componentes curriculares que desconheciam as contribuies dos segmentos de classe cujos processos de elaborao e produtos culturais no eram incorporados pela escola brasileira. Mas, retornemos discusso do conceito de avaliao. Retomamo-lo do ponto em que deixamos: a elaborao das escalas de padres s quais se comparam as dimenses medidas do desempenho dos alunos. Para sabermos, no exemplo anteriormente dado, se Carlos um bom digitador, necessitamos de uma escala desejvel de desempenhos relativos rapidez e preciso, do tipo um excelente digitador d 60 toques por minuto e comete apenas 10 erros de digitao ou um bom digitador d tantos toque por minuto e comete apenas tantos erros e assim por diante. Ou seja, para avaliarmos Carlos em digitao, temos de constatar a medida das dimenses de sua rapidez e preciso para, em seguida, compararmos tais registros singulares com a escala desejvel, previamente elaborada, das mesmas dimenses. Quando mais nos internamos no universo das realidades educacionais, mais nos deparamos com a dificuldade de elaborar escalas de padres, pois a que surgem mais explicitamente os conflitos de interesses. Alm disso, a falta de tradio na elaborao e delimitao de objetivos dificulta mais ainda a tarefa, sem falar nos exageros sociologistas e etnografistas de determinada tendncia do pensamento pedaggico brasileiro, que desqualificou os processos de ensino-aprendizagem e de avaliao por objetivos. Esta mesma corrente jogou na lata do lixo da Histria a taxionomia dos objetivos educacionais de Bloom. Se Benjamin Bloom trabalhou vrios anos em pesquisas de campo, apoiado por uma slida equipe multidisciplinar, catalogando e classificando objetivos educacionais, no h porque subestimar sua contribuio para o processo de elaborao do planejamento da educao bsica36. Alis, sua taxionomia dos objetivos educacionais na rea cognitiva muito ajudaria diminuio das arbitrariedades praticadas na avaliao da aprendizagem na
36 Para o Portugus foram traduzidos apenas os dois primeiros volumes, referentes, respectivamente ao domnio cognitivo e ao domnio afetivo. O programa completo da pesquisa incluiria ainda o domnio psicomotor que, segundo nos consta, nem foi concludo (v. BLOOM, 1972 e 1974).
56
escola bsica brasileira, no sentido de explicitar mais o que na realidade se mede atravs das provas aplicadas. Ainda mais se considerarmos que, na nossa escola bsica, predomina o ensino e a avaliao de contedos, atravs do soberano instrumento das provas!
57
PARTE III AVALIAO DIALGICA
58
CAPTULO I CONCEPO DA AVALIAO DIALGICA
Se temos uma concepo autoritria e bancria de educao, como dizia Paulo Freire, foramos o aluno a se transformar num depositrio do tesouro do saber, que j descobrimos no perodo de nossa formao profissional e nos momentos em que preparamos as aulas. Por isso mesmo, no h necessidade de ele refazer nem o itinerrio de descoberta das verdades que vamos lhes transmitir, tendo mo o mapa da mina plano de curso, geralmente elaborado sem qualquer participao do aluno e a ele apresentado como um caminho obrigatrio, sem alternativas.
Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depsitos que os educandos, meras incidncias, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis a a concepo bancria da educao, em que a nica margem de ao que se oferece aos educandos a de receberem depsitos, guard-los e arquiv-los. (...) [Os alunos tm de se dotar de] uma conscincia continente a receber permanentemente os depsitos que o mundo lhe faz, e que se vo transformando em seus contedos. (FREIRE, 1981: 66 e 71).
Essa concepo de educao desemboca, fatalmente, numa concepo de avaliao que vai se preocupar apenas com a verificao dos conhecimentos depositados pelo professor no aluno, desconhecendo os procedimentos, instrumentos e estratgias utilizados pelo educando para absoro ou rejeio desses conhecimentos cotejo desses conhecimentos com os construdos por ele prprio no desvendamento do mundo. Alis, para a concepo autoritria da educao este cotejo impossvel, porque seria inimaginvel permitir ao discente o questionamento dos contedos e suas respectivas formas com que lhe so transmitidos pelo professor. Com uma concepo educacional bancria desenvolvemos uma avaliao bancria da aprendizagem, numa espcie de capitalismo s avessas, pois fazemos um depsito de conhecimentos e os exigimos de volta, sem juros e sem correo monetria, uma vez que o aluno no pode a ele acrescentar nada de sua prpria elaborao gnoseolgica, apenas repetindo o que lhe foi transmitido. Desenvolvemos a pedagogia especular, na qual os alunos devem se limitar a expelir plidos reflexos do que o professor enquanto sujeito epistemolgico. Em suma, na educao e na avaliao bancrias os alunos se transformam em meros arquivos especulares das verdades descobertas previamente pelos professores na sua formao e na preparao de suas aulas. E entes especulares no praticam o ato cognoscente, j que sua tarefa se resume ao registro e ao reflexo (repetio) do depsito que lhe foi confiado. A, a avaliao se torna um mero ato de cobrana, e no, uma atividade cognoscitiva, na qual educador e educando discutem e refazem o conhecimento.
59
Ao contrrio, a escola cidad, na qual se desenvolve uma educao libertadora, o conhecimento no uma estrutura gnoseolgica esttica, mas um processo de descoberta coletiva, mediatizada pelo dilogo entre educador e educando.
No sujeito cognoscente em um, e sujeito narrador do contedo conhecido em outro. sempre um sujeito cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogicamente com os educandos. O objeto cognoscvel, de que o educador bancrio se apropria, deixa de ser, para ele, uma propriedade sua, para ser a incidncia da reflexo sua e dos educandos. Deste modo, o educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente na cognoscibilidade dos educandos. (Id., ib. 79-80).
Na educao libertadora, a avaliao deixa de ser um processo de cobrana para se transformar em mais um momento de aprendizagem, tanto para o aluno quanto para o professor mormente para este, se estiver atento aos processos e mecanismos de conhecimento ativados pelo aluno, mesmo no caso de erros, no sentido de rever e refazer seus procedimentos de educador. A educao e a avaliao positivistas enfatizam a permanncia, a estrutura, o esttico, o existente e o produto; as construtivistas reforam a mudana, a mutao, a dinmica, o desejado e o processo. A educao e a avaliao cidads devem levar em considerao os dois plos, pois no h mudana sem a conscincia da permanncia; no h processo de estruturaodesestruturao-reestruturao sem domnio terico das estruturas a reflexo exige fixidades provisrias para se desenvolver; no h percepo da dinmica sem conscincia crtica da esttica; o desejado, o sonho e a utopia s comeam a ser construdos a partir da apreenso crtica e domnio do existente e o processo no pode desconhecer o produto para no condenar seus protagonistas ao ativismo sem fim e sem rumo.
O ponto de partida deste movimento est nos homens mesmos. Mas, como no h homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relaes homens-mundo. Da que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora que constituem a situao em que se encontram ora imersos, ora emersos, ora insertados. Somente a partir desta situao, que lhes determina a prpria percepo que dela esto tendo, que podem mover-se. E, para faz-lo, autenticamente, necessrio, inclusive, que a situao em que esto no lhe aparea como algo fatal e intransponvel, mas como uma situao desafiadora, que apenas os limita. (id., ib. 84-85).
Fica claro neste texto de Paulo Freire o carter dialtico da superao da realidade existente e que a avaliao, com vistas promoo, pode ser um srio obstculo ao avano transformador. De fato, no sistema promocional, o aluno se
60
submete s avaliaes para passar ou ser reprovado. A reprovao tende a ser interpretada muito mais como uma derrota que impossibilita os avanos do que como um desafio que provoca as tentativas de superao. Como ser incompleto que , destaca ainda Paulo Freire, o homem s inicia o processo de plenificao da sua humanidade no momento em que toma conscincia de sua incompletude. O processo de desalienao inicia-se com a conscincia dos prprios limites ou com a apreenso crtica da prpria realidade alienada. Somente no pensamento conservador se dicotomiza a liberdade e a necessidade histrica, o contingente e o necessrio, o sujeito e o objeto, o presente e o futuro, a realidade e a utopia. Para os que se inserem no universo dialtico, a liberdade comea, isto , o homem se torna sujeito de sua prpria histria no momento em que l o mundo e reconhece a correlao de foras polticas. Assim, a liberdade no nega a necessidade histrica, mas constri-se a partir de seu reconhecimento. O contingente no a negao do necessrio, mas com ele se imbrica na percepo crtica do mundo; o futuro no a anulao do presente, mas a arquitetura que o toma como base; a realidade no obstculo da utopia, porm seu suporte inicial. Conforme destacamos antes, cabe, nesta altura deste trabalho, algumas consideraes sobre o erro nas verificaes da aprendizagem predominantes no sistema educacional brasileiro.
61
CAPTULO II AS VIRTUDES DO ERRO
Luckesi analisou, com propriedade, a questo do erro na prtica escolar. Por isso, esta parte do trabalho estar, toda ela, referenciada em um artigo que ele publicou37, ainda que possamos acrescentar outros ngulos de anlise e outras possibilidades de sua explorao pedaggica. Curiosamente, embora a prtica escolar se identifique, discursivamente, com a preservao e criao do saber, ela d um sentido completamente diferente ao atribudo pelos pesquisadores aos resultados no esperados de um processo de conhecimento. Seno vejamos: quando um pesquisador chega a um resultado diferente das hipteses que levantou previamente realizao da pesquisa, no se sente frustrado e abandona o projeto em questo. Pelo contrrio, registra o resultado como um novo conhecimento no vislumbrado nas hipteses e continua sua busca do produto (de conhecimento) inicialmente projetado. Ou seja, ao invs de considerar como um erro o processo de investigao e seu resultado, indaga sobre o que ocorreu durante a pesquisa, seja para verificar o equvoco da hiptese inicial, seja para constatar mudanas provocadas pela intervenincia de fatores no previstos e no controlados. Para tornar mais claro o que pretendemos dizer, vejamos o exemplo do que ocorreu numa pesquisa concreta, ao final da qual os seus responsveis tiveram a tentao de considerar que tudo dera errado. Na dcada de 70, alarmados com a evaso dos alunos do segundo segmento do 1. grau na escola noturna em que trabalhvamos, um grupo de professores resolvemos pesquisar as causas do fenmeno. Na preparao do projeto de pesquisa, levantamos as mais sofisticadas hipteses. Ao aplicarmos os questionrios nos evadidos, percebemos que a maioria das razes que os moviam ao abandono da escola poderiam ser classificadas como fteis se comparadas com as hipteses levantadas quase todas enquadradas no universo do sociologismo e do psicologismo social ento em voga: No estou mais a fim...; A escola muito chata.; Fui chamado a ateno por um professor. A decepo na tabulao e anlise dos dados levantados acabou sendo substituda, com muito entusiasmo, por uma descoberta importante: quanto mais fteis fossem as razes do abandono dos bancos escolares pelos alunos dos cursos noturnos, mais clara ficava a desimportncia da escola na leitura desses alunos. De fato, se trocavam os estudos por qualquer outra atividade, se os abandonavam por qualquer razo, havia em sua atitude uma clara condenao da escola, na medida em que o que ela lhes oferecia pouco tinha a ver com seu projeto de vida e, facilmente, o trocavam por qualquer coisa, inclusive, pelo ficar toa noite. A pesquisa acabou por se transformar num
Prtica Escolar: do erro como fonte de castigo ao erro como fonte de virtude, inserido no livro j citado (1995: 48-59), no qual esgotou a possibilidade de consideraes sobre o tema. No entanto, retomamo-lo aqui, tanto pela importncia de sua reiterao enftica, quanto pela possibilidade de explorar aspectos que, embora estejam contidos potencialmente nas consideraes de Luckesi, pensamos devam ser mais explicitadas.
37
62
importante indicador das mudanas que deveriam ser introduzidas nos cursos noturnos de 5. 8. srie daquele estabelecimento de ensino, a fim de que os alunos voltassem a perceber a importncia dos estudos fundamentais para a realizao de seus projetos pessoais e coletivos38. Ora, se na pesquisa cientfica um equvoco de previso pode ser revelador de aspectos e nuances no previstos ou no percebidos inicialmente, mais ainda no processo educacional, as respostas comportamentais e a performance dos alunos so reveladoras das formas discentes de processamento do conhecimento, ou, no mnimo, esclarecem sobre as razes da resistncia ou indiferena dos alunos quilo que a escola lhes oferece. Em ambos os casos, so fundamentais para a elaborao conjunta de novos procedimentos didtico-pedaggicos. Sem exageros, pode-se dizer que os erros dos alunos constituem a matria-prima do replanejamento das atividades curriculares, pois a funo precpua da escola nada mais do que a transformao da cultura primeira, a partir dela mesma, a passagem da conscincia ingnua para a conscincia crtica. A percepo da conscincia ingnua s se dar atravs de sua avaliao, que dever indicar os rumos de sua transubstanciao em conscincia crtica. Se a viso culposa do erro, na prtica escolar (LUCKESI, 1995: 48) continuar sendo predominante, no haver como encar-lo como fonte de conhecimento pedaggico e a avaliao prosseguir na sua trajetria de instrumento de seleo, discriminao, meritocracia e excluso. Nesta perspectiva, a verificao da aprendizagem deixa de ser verificao da aprendizagem, para se transformar em exposio de quem no sabe. Na maioria das vezes, as provas aplicadas no Ensino Fundamental no visam verificar o que os alunos sabem, mas o que eles no sabem e, o que pior, atravs de um vis moralista que considera a resposta diferente da esperada no gabarito como um erro que deve ser castigado. Luckesi, no artigo citado, faz a reconstituio dos castigos escolares, que evoluram de formas mais rudes explicitamente fsicos at as mais sofisticadas formas de violncia simblica, hoje predominantes, que foram a introjeo do fracasso pelo/no prprio aluno.
A partir do erro, na prtica escolar, desenvolve-se e refora-se no educando uma compreenso culposa da vida, pois, alm de ser castigado por outros, muitas vezes ele sofre ainda a autopunio. Ao ser reiteradamente lembrado da culpa, o educando no apenas sofre os castigos impostos de fora, mas tambm aprende mecanismos de autopunio, por supostos erros que atribui a si mesmo. (LUCKESI, op. cit.: 51).
Com essa prtica docente, cria-se na escola, uma atmosfera de crime e castigo, onde o medo impede que ela se transforme numa casa da alegria, como queria Georges Snyders39.
Ainda que muito interessantes, especialmente pelos resultados alcanados, a descrio de tais modificaes no cabem nos limites deste trabalho. 39 Em A Alegria na escola (1988) e Alunos felizes (1996).
38
63
A concepo moralista do erro trai uma viso de mundo autoritria, porque ela tem como pressuposto bsico a apropriao e imposio de padres considerados como verdades absolutas, pr-construdos ou incorporados pelo avaliador, aos quais sero comparados os desempenhos dos alunos. A mnima discrepncia entre esses desempenhos e aqueles padres gera um verdadeiro arsenal de punies, cujo efeito mais malfico o desgaste da vontade de aprender, da motivao e, no limite, o assassinato da auto-estima do avaliado. Nessa concepo, os instrumentos de avaliao se tornam instrumentos inquisitrios, que consideram as respostas e os desempenhos como uma espcie de pagamento e as notas como recibos que, por sua vez, na maioria das verificaes, no correspondem ao pagamento efetuado40. A concepo culposa da vida tem razes mais profundas, como destacou Luckesi, no processo de evoluo da chamada Civilizao Ocidental Crist, na qual o pecado a centralidade referencial dos comportamentos, que acaba por torn-los sadomasoquistas, uma vez que nos punimos e castigamos os outros a partir da projeo de nossos sentimentos de culpa (LUCKESI, op. cit.: 53). Porm, mais do que a ideologia do pecado, desenvolveu-se e tornou-se dominante nas formaes sociais do Ocidente nas quais se insere a formao social brasileira a ideologia burguesa, consubstanciada e instrumentalizada no/pelo Estado Burgus. Analisemos um pouco mais esta questo, j que a escola um dos aparelhos ideolgicos mais eficientes do Estado. pobre a historiografia e a literatura sociolgica e politolgica brasileira sobre a questo do Estado no pas. Conforme destacou Dcio Saes, num estudo primoroso sobre a formao do Estado Burgus no Brasil (1985), os primeiros analistas que se debruaram mais seriamente sobre a questo, trataram o Estado de modo puramente negativo, ou seja, como o contrrio do poder privado (SAES, 1985: 17)41. Raymundo Faoro, com seu j tambm clssico, Os donos do poder (1975), ainda que com uma interpretao weberiana, d uma salto qualitativo na abordagem da questo, desenvolvendo os conceitos de Estado Patrimonial, Estado Estamental Puro e Estado Moderno. Faoro influenciou e continua influenciando boa parte da intelectualidade brasileira com suas percucientes anlises, embora destile um enorme pessimismo, que chega s raias da amargura, nos seus artigos em um peridico semanal de grande circulao no Brasil42. Ser preciso esperar os trabalhos de Octavio Ianni, Estado e Capitalismo e Estado e planejamento econmico no Brasil (1930-1970), para termos uma anlise mais consistente do Estado Brasileiro, porque elabora numa viso dialtica da trajetria histrica nacional. Ianni, como outros pensadores marxistas, retarda a instalao do Estado Burgus no Brasil para o ps-1930, subestimando a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre no pas, que
40 Conforme j destacamos anteriormente, a subjetividade de quem corrige nem sempre leva em considerao outras formas corretas de respostas ao que foi indagado. 41 Como o caso de Nestor Duarte, com seus ensaio A ordem privada e a organizao poltica nacional (1966) e, na sua esteira, Victor Nunes Leal, com sua j clssica obra, Coronelismo, enxada e voto (1975), e Maria Isaura Pereira de Queiroz, com O mandonismo local na vida poltica brasileira (1976). 42 No momento em que escrevemos esta parte do trabalho, Faoro mantm uma coluna na revista Isto .
64
ocorrera cerca de mais de trs dcadas antes, com a conseqente reconverso do Estado Escravista Moderno, no perodo que vai do processo abolicionista at a consolidao da Repblica. Mas, em que consiste o Estado Burgus? Qual sua natureza, que transformaes ele sofreu at os nossos dias, que significado sua verso mais contempornea pode ter nas relaes pedaggicas e, mais especificamente, nas que dizem respeito aos processos avaliativos? Responder a todas estas questes exigiria reflexes to expandidas que ultrapassariam os limites deste trabalho. No entanto, para entendermos com mais profundidade a viso culposa da avaliao diramos antes, classificatrio-discriminatrio-seletivo-excludente no podemos escapar, nem que seja sumariamente, da formulao de algumas consideraes sobre o Estado Burgus brasileiro e suas imposies nas relaes sociais de um modo geral e, particularmente, nas pedaggicas.
(...) o Estado, em todas as sociedades divididas em classes (escravista feudal ou capitalista) a prpria organizao da dominao de classe; ou, dito de outra forma, o conjunto das instituies (mais ou menos diferenciadas, e mais ou menos especializadas) que conservam a dominao de uma classe por outra. (SAES, ob. cit.: 23).
E, ao cumprir sua misso organizadora da dominao e da reproduo da dominao, o Estado no opera sempre do mesmo modo, mas o faz de acordo com a dominao real estabelecida nas relaes de produo (escravistas, feudais ou capitalistas). Assim, a cada modo de produo dominante em uma formao social corresponde um tipo de Estado. Transformadas as relaes escravistas em capitalistas no Brasil, no final do sculo passado e incio do sculo atual, ocorreu, simultaneamente, a reconverso do Estado Escravista Moderno em Estado Burgus. Mas, em que consiste o Estado Burgus? Quais as diferenas significativas de sua estrutura e funcionamento, em relao aos Estados prburgueses? Temos de relembrar que o Estado, enquanto categoria poltica caracteriza-se por um direito (conjunto de normas institucionalizadas de comportamento individual e social e instrumentos, mecanismos e formas de sua aplicao) e uma organizao institucional (aparelhos coletores e repressores). O direito burgus diferencia-se essencialmente do direito pr-burgus ao igualar os desiguais, isto , considerar como iguais, perante a lei, todas as pessoas, independentemente de suas diferenas tnicas, sociais, econmicas, polticas e culturais. Enquanto o direito das sociedades pr-burguesas considerava os desiguais como juridicamente desiguais, o direito burgus, reproduzindo homologamente a estruturao social das relaes individualizadas e ilusoriamente equalizadas (iluso mercantil) no contrato de trabalho, igualiza todos os agentes de produo, convertendo-os em sujeitos individuais; isto , em indivduos capazes de praticar atos de vontade. (SAES, ob. cit.: 38). Dentre os traos caractersticos da burocracia, podemos destacar: a) separao entre o pblico e o privado; b) acesso universal aos aparelhos de Estado;
65
c) hierarquizao rgida das funes estatais. Cada um desses traos merece um ligeiro comentrio. A separao entre o pblico e o privado fundamental para que no ocorra a apropriao, pelos segmentos de classe no dominante, dos bens estatais, j que o acesso aos aparelhos de Estado universal. Portanto, a separao das duas esferas, alm de reproduzir, homologamente, a iniciativa burguesa de distanciamento do produtor direto em relao aos meios de produo, evita a socializao de todo o poder com os dominados que ocupam cargos e empregos nos aparelhos estatais. De fato, o acesso a esses aparelhos no se baseia em outros critrios que o da competncia individual, medida atravs dos processos seletivos (concurso pblico etc.). Porm, a rgida hierarquizao das funes corrige a socializao universal do poder, permitindo apenas aos escales superiores o acesso a todas as informaes e a todos os processos decisrios. Por isso, os escales superiores no constituem vagas a serem preenchidas por concurso, mas cargos comissionados a serem preenchidos por nomeao de confiana, sendo seus detentores demissveis ad nutum, isto , exonerados quando no mais gozam da confiana do governante, que um membro da classe dominante ou seu preposto. As relaes rigidamente hierarquizadas entre o chefe e seus subalternos se d por uma individualizao extremada no que diz respeito ao processo de tomada de decises e sua implementao. De fato, o subalterno nunca pode dar a palavra final sem o aval do chefe maior, que mantm relaes individualizadas com todos os subalternos imediatos e, atravs destes, com cada agente estatal de carreira. Estes ltimos se limitam s decises tcnicas, uma vez que as decises finais so sempre polticas e dependem dos escales superiores do Governo. Como d para perceber, assim como as relaes capitalistas de produo (contratuais) individualizam as partes contratantes, para melhor facilitar a dominao, tambm as relaes no interior dos aparelhos de Estado so individualizadas. Contudo, a complexidade crescente, tanto do sistema produtivo como do sistema poltico, exige, cada vez mais, processos coletivos de trabalho, o que podem (e tm) gerado solidariedade de classes dominadas. Neste caso, o Estado Burgus opera uma desqualificao e uma descaracterizao desta solidariedade, substituindo-a por outras: nacionalismo e bem pblico. O nacionalismo igualiza todos os membros de todas as classes de uma mesma formao social, ao inseri-los num coletivo que, embora artificial, apresenta grande appeal poltico43. O bem pblico na realidade, bem privado
Freud, em O futuro de uma iluso (1948-1968: ), analisou os mecanismos psicolgicos que presidem a elaborao simblica individual e coletiva das classes dominadas, no sentido de se sentirem partcipes de todos os benefcios de uma formao social caracterizada pela dominao de uma classe sobre as outras: A satisfao narcisista, extrada do ideal cultural, um dos poderes que com maior xito atuam contra a hostilidade adversa civilizao, dentro de cada setor civilizado. No s as classes favorecidas que gozam dos benefcios da civilizao correspondente, mas tambm as oprimidas, participam de tal satisfao, enquanto direito de desprezar os que no pertencem sua civilizao, compensando-os das imitaes que a mesma lhes impe. Caio um msero plebeu explorado pelos tributos e pelas prestaes de servios pessoais, mas tambm um romano e participa como tal da magna empresa de dominar outras naes e impor-lhes leis. Esta identificao dos oprimidos com a classe que os oprime e os explora, no , contudo, mais que um fragmento de uma totalidade mais ampla, pois, alm disso, os oprimidos podem sentir-se
43
66
das classes dominantes opera um trfico ideolgico semelhante, na medida em que todos os agentes governamentais, ainda que no pertenam ao universo dos que efetivamente decidem e gozam das benesses estatais, sentem-se responsveis por um patrimnio de todos. Ora, tais concepes s resistem se nos apegarmos ainda viso ingnua que concebe o Estado Burgus como mediao nos conflitos de classe e como instrumento equalizador das diferenas sociais44. Em que o Estado Burgus, com suas caractersticas estruturais e funcionamento especficos tem a ver com a avaliao levada a efeito nas escolas burguesas? Ora, conforme j destacamos antes, a escola burguesa constitui um dos aparelhos privilegiados desse tipo de Estado, porque opera uma espcie de naturalizao dos processos histricos. Pelo vis cientificista, ela tenta convencer os alunos que as coisas so do jeito que so, porque assim deveriam ser, j que o positivismo que as perpassa trata o currculo elaborado pelos segmentos dominantes como verdade absoluta. Alm disso, nos seus mecanismos internos, particularmente na avaliao da aprendizagem, ela reproduz, homologamente, os processos de estruturao da dominao que se do nas relaes de produo e nas relaes sociais mais gerais. Seno vejamos: 1.) Os procedimentos escolares transformam as relaes professor/aluno em verdadeiras relaes contratuais. Os desempenhos dos discentes so transformados, individualmente em valores de troca. No sintomtico que as expresses dos resultados da avaliao tenham a mesma denominao que os smbolos do valor de troca nas relaes de produo nota? 2.) O sistema simblico, o conjunto das verdades e valores ao qual dever ser comparado o desempenho dos alunos, apresentado como naturalmente vlido e, portanto, indiscutvel, constituindo um coletivo simblico artificial que desqualifica e descaracteriza todo e qualquer coletivo simblico diferente, alternativo ou antagnico. Contudo, relativamente ao processo educacional, o maior estrago dessa concepo a imolao, no altar do controle e do conservadorismo, da iniciativa, da criatividade, da ousadia, da criticidade, enfim, da possibilidade de avano da cincia, do conhecimento, da educao e da liberdade. Nessa concepo, a cidadania no se inscreve no horizonte das possibilidades e banida do universo utpico. De um modo geral, na pesquisa, as respostas e os desempenhos no so encarados como erros, mas como acontecimentos, dos quais se podem tirar
efetivamente ligados aos opressores, e, apesar de sua hostilidade, ver em seus amos, seu ideal. (FREUD, 1948, I: 1259). 44 Nesta altura da argumentao, muitos poderiam cair no niilismo crtico, concluindo que, ento, no h salvao e que a nica sada estaria no desmantelamento do Estado Burgus, atuando, revolucionariamente, fora dele. Neste caso, nem teria sentido trabalhar numa escola estatal, pois, se temos compromisso com a democratizao efetiva, deveramos nos colocar na resistncia, fora de qualquer aparelho estatal. Penso que esta discusso tambm escapa aos limites deste trabalho, mas no custa lembrar que a realidade dialtica e que, portanto, nem sempre as coisas funcionam a partir da intencionalidade dos agentes dominadores. Alm disso, o desmantelamento do Estado Burgus pode ser feito de dentro para fora, uma vez que, conforme atestam os processos histricos, uma classe ascendente pode se tornar governante antes de ser dominante.
67
lies. Se visualizados como erros, teriam como pressuposto a existncia de um preconcebido padro correto, que impediria o avano cientfico, pois todo o conhecimento j estaria previamente estabelecido em padres congneres.
Sem padro, no h erro. O que pode existir (e existe) uma ao insatisfatria, no sentido de que ela no atinge um determinado objetivo que se est buscando. Ao investirmos esforos na busca de um objetivo qualquer, podemos ser bem ou malsucedidos. A no h erro, mas sucesso ou insucesso nos resultados de nossa ao. (LUCKESI, op. cit.: 54).
Um alerta, como Luckesi, devemos registrar: no se pode fazer apologia do erro e do insucesso como fontes necessrias do crescimento (id., ib.: 58). O que se pretende, numa avaliao cidad o registro e a anlise dos insucessos como fonte de apreenso dos mecanismos de raciocnio que a eles presidiu, com vistas reprogramao curricular aqui entendido em seu sentido amplo. Se o equvoco e o insucesso deixam de ser fonte de julgamento e punio porque a viso de mundo de quem os aborda considera-os como contingncias necessrias no processo de construo do saber. No se trata de buscar o erro para que se possa construir o conhecimento, mas encar-lo como fonte de outros saberes no caso da avaliao didtico-pedaggicos. Alm disso, nem todo insucesso na verdade insucesso, porque o , na maioria das vezes, se nos colocamos na perspectiva do conhecimento que se pretende hegemnico. O pensamento conservador l o mundo no vis do certo/errado evidentemente considerando-se como monopolizador da primeira parte da dicotomia porque tal maniqueistizao lhe permite desideologizar seus prprios interesses. E esta sectarizao do conhecimento no pode ter como contrapartida a valorizao absoluta do outro plo da dicotomia.
A sectarizao, porque mtica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que, assim, no pode ser mudada. Parta de quem parta, a sectarizao um obstculo emancipao dos homens. (FREIRE, 1981: 22).
J destacamos anteriormente a tendncia que apresentam certas correntes de pensamento de dividir o mundo, a realidade e qualquer reflexo sobre eles em dois semi-universos antagnicos e inconciliveis, de modo que um negue o outro e seja a expresso da verdade, do bem e do belo, enquanto o outro o reflexo da mentira, do mal e do horrvel. De um modo geral, essas correntes se inscrevem no universo do positivismo tomado no sentido que lhe emprestamos neste trabalho. Ora, toda tendncia gnoseolgica positivista apresenta, nem que seja implicitamente, uma aspirao hegemnica, uma vez que a preocupao e a busca de verdades absolutas visam a negao de afirmaes alternativas, diferentes ou antagnicas. J afirmamos tambm que, infelizmente, a orientao predominante nas escolas de ensino fundamental brasileiras positivista, na medida em que os professores colocam-se diante dos alunos como detentores de verdades indiscutveis, que tem de ser por eles absorvidas e devolvidas nas avaliaes, sem variaes que insinuem sequer
68
uma flexibilizao do depsito reflexivo docente. O ensino brasileiro marcado, profundamente, por esse vis maniquesta, no qual a realidade objeto do saber apresentada sob a forma de certo/errado, bem/mal, belo/feio e, por via de conseqncia, a avaliao se transforma num julgamento moralista, porque se baseia numa viso ideolgica desideologizada da Histria. Dada a ligao ntima entre o maniquesmo, a Weltanschauung culposa, o positivismo e a pretenso hegemnica desideologizada, no d para estabelecer a ordem de determinao de um sobre o outro. Evidentemente, se quisermos buscar a determinao em ltima instncia, iremos encontr-la nas relaes de produo de cada sociedade e em cada momento ou contexto histrico especfico dessa mesma sociedade, na qual os engenhos da superestrutura se constroem, por homologia45, em cima dos mecanismos de dominao econmico-social
45 Temos usado, reiteradamente o conceito de homologia, por oposio ao de analogia. Os processos anlogos se do por reflexo das estruturaes referenciadas em relao aos referenciais, enquanto os homlogos se constroem por reproduo congnere e imbricada nos referenciais.
69
CAPTULO III ETAPAS DA AVALIAO DIALGICA
Simplesmente, no posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros, j escrevia Paulo Freire (1981: 119). Da mesma forma, no podemos avaliar pelos alunos, nem para os alunos, nem sem os alunos. Aplicase tambm avaliao da aprendizagem no Ensino Fundamental o que Paulo refletia mais genericamente sobre a relao entre o pesquisador popular e o povo:
(...) se o seu pensar mgico ou ingnuo, ser pensando [avaliando] o seu pensar, na ao, que ele mesmo se superar. E a superao no se faz no ato de consumir idias, mas no de produzi-las e de transform-las na ao e na comunicao. (Id., ib.).
A avaliao da aprendizagem um tipo de investigao e , tambm, um processo de conscientizao sobre a cultura primeira do educando, com suas potencialidades, seus limites, seus traos e seus ritmos especficos. Ao mesmo tempo, ela propicia ao educador a reviso de seus procedimentos e at mesmo o questionamento de sua prpria maneira de analisar a cincia e encarar o mundo. Ocorre, neste caso, um processo de mtua educao. Paulo Freire, tratando do levantamento e da pesquisa da temtica geradora nos processos de alfabetizao libertadora, assim se exprimiu:
Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. Educao e investigao temtica, na concepo problematizadora da educao, se tornam momentos de um mesmo processo.
(...)
A tarefa do educador dialgico , trabalhando em equipe interdisciplinar este universo temtico, recolhido na investigao, devolv-lo, como problema, no como dissertao, aos homens de quem recebeu. (FREIRE, id., ib.: 120).
Ou seja, realizada a avaliao da aprendizagem, com o aluno, os resultados no devem constituir uma monografia ou uma dissertao do professor sobre os avanos e recuos do aluno, nem muito menos uma preleo corretiva dos erros cometidos, mas uma reflexo problematizadora coletiva, a ser devolvida ao aluno para que ele, com o professor, retome o processo de aprendizagem. Neste sentido, a sala de aula se transforma num verdadeiro circulo de investigao do conhecimento e dos processos de abordagem do conhecimento. Na perspectiva dessa concepo, podemos vislumbrar os seguintes passos necessrios da avaliao: I - identificao do que vai ser avaliado;
70
II - negociao e estabelecimento dos padres; III - construo dos instrumentos de medida e avaliao; IV - procedimento da medida e da avaliao; V - anlise dos resultados e tomada de deciso quanto aos passos seguintes no processo de aprendizagem. Cada um desses passos merece um comentrio. 1. Identificao do que vai ser Avaliado Aqui j se inicia um grande problema. Na maioria das escolas brasileiras, os objetivos dos planos de curso so estabelecidos antes do incio do ano letivo, contam apenas com a participao dos professores e especialistas e visam atender antes s exigncias burocrticas do que ao trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. Salvo as honrosas excees que confirmam a regra geral, os planos de curso estabelecem, artificial e discricionariamente, os objetivos a serem alcanados pelos alunos, os procedimentos a serem adotados e as formas, a periodicidade e os instrumentos de avaliao. Alis, a periodicidade do registro dos resultados dos desempenhos dos discentes determinada pelo sistema (bimestral), desconhecendo a natureza e as dimenses das unidades em que so divididos os campos do conhecimento organizados em disciplinas. Como o plano ser esquecido numa gaveta da burocracia, os professores os elaboram, nas j famosas semanas de planejamento, no se preocupando muito com seu contedo, mas com sua forma geralmente enquadrada num formulrio fornecido pelos rgos centrais. Como tambm o professor raramente voltar a usar plano depois de entreg-lo ao sistema, no se preocupa muito com um definio clara dos objetivos a serem alcanados. Na maioria dos casos, tais objetivos so formulados de modo genrico, difuso, sem uma clara delimitao de fronteiras, j que no so referenciadas nem nas fases de competncia cognoscitiva do aluno. E quando se leva em considerao as fases da psicologia evolutiva, o aluno considerado em abstrato, descontextualizado. Da a dificuldade, nos momentos das avaliaes peridicas, de se estabelecer o mais exatamente possvel o que se quer avaliar, tanto em termos das competncias discentes quanto em relao aos depsitos de contedo. Na avaliao cidad, a primeira preocupao com o verdadeiro planejamento que, na escola bsica brasileira tem de superar, dentre outros, dois problemas: a) a discriminao dos pais e alunos na sua formulao, em nome de uma incompetncia profissional e b) a des-historizao positivista dos componentes curriculares por considerar o aluno em geral e no, os sujeitos discentes concretos e especficos de cada contexto histrico-social. No possvel estabelecer com relativa preciso o que se pretende avaliar, se no se determina, com a mesma preciso, o que se pretende atingir com o planejamento. claro que esta preciso relativa, pois o plano no uma camisa-de-fora, mas um roteiro de metas, objetivos e procedimentos, com
71
um mnimo de flexibilidade, de modo a permitir ajustes ao longo da aprendizagem, em funo das alteraes contextuais exigidas em todo e qualquer processo de relacionamento humano. O plano de curso um instrumento importante, que dever estar na mo dos professores e dos alunos, como uma espcie de mapa da mina do tesouro do saber, atravs do qual se vo rastreando as pistas e os caminhos que permitem a descoberta do conhecimento. Por isso, sua elaborao no pode preceder o incio das atividades letivas, mas delas deve fazer parte, na interao de especialistas, corpo de servidores administrativos da escola, pais e alunos. No primeiro ms letivo, a escola deva viver um intenso processo de planejamento, no qual todos os membros da comunidade escolar se engajem numa fervilhante atividade de previso das metas, objetivos, estratgias, tticas, instrumentos e procedimentos didtico-pedaggicos, recursos humanos, materiais e financeiros existentes ou que devam ser buscados nas fontes prprias, alm da definio dos papis especficos. Simultaneamente, nas aulas, pode-se aproveitar o tempo para a verificao da identidade scio-cultural dos alunos, isto , fazer a sondagem de sua cultura primeira, de suas potencialidades e dificuldades, de suas aspiraes, projees e ideais, de sua expectativa ou resistncia em relao escola, e at mesmo dos pr-requisitos em termos de contedo, habilidades e posturas necessrios ao enfrentamento do grau objeto do planejamento do ano. Certamente a investigao da cultura primeira da comunidade e dos alunos implicar em mais tempo e demandar outros instrumentos, bem como procedimentos mais sistemticos de pesquisa. Por isso, essa interaoinvestigativa com/da cultura da comunidade dever preceder o perodo escolar. Paulo Freire refere-se a uma unidade epocal ao universo temtico de uma poca, que deve ser identificado, pois dele que devero ser destacados os temas geradores do planejamento e das atividades curriculares (FREIRE, 1981: 91 e segs.)46. Entretanto, este universo temtico histrico percebido de modo diferente pelas diversas classes sociais e segmentos de classe, de acordo com sua posio especfica nas relaes de produo. Em outras palavras, cada grupo social, conforme sua conscincia real e/ou sua conscincia possvel, captar os diversos temas significativos de sua poca. sua viso de mundo ingnua ou alienada, consciente ou libertadora que determinar a significao maior ou menor dos diversos temas. Certamente, nos dias que correm, os fenmenos da reconverso tecnolgica do sistema produtivo e a globalizao so temas significativos para todos os homens. Contudo, se para a conscincia burguesa a terceirizao e o globalismo so temas relevantes, para os produtores diretos, o tema do emprego se torna fundamental. O levantamento dos temas geradores facilita a recuperao da totalidade da cincia, na medida em que enseja a interdisciplinaridade e a
Ainda que limitando tais reflexes ao processo de alfabetizao de adultos, Paulo deixa pistas preciosas para a formulao do planejamento e processualizao da educao em geral.
46
72
transdisciplinaridade, ao mesmo tempo que revela as situaes-limite, os trficos ideolgicos e os inditos viveis47. No caso do Ensino Fundamental, a pesquisa dos temas geradores se justifica tanto quanto na educao de adultos, com desdobramentos lingsticos, semnticos e ideolgicos. Para ajudar a ordenao seqencial de sua complexidade no se pode esquecer, na educao de crianas, das fases da psicologia evolutiva no devemos desprezar a classificao que Benjamim Bloom e equipe propuseram para os mecanismos do raciocnio humano, em qualquer campo do saber (disciplinas). A taxionomia de Bloom, mesmo que abstraindo as especificidades scio-histricas de cada aluno em particular, ajuda-nos a perceber com mais clareza as ordenaes seqenciais dos objetivos do domnio cognitivo e afetivo e, conseqentemente, implicaes prrequisitais de qualquer exigncia em termos de contedo. A ttulo de colaborao, elaboramos um quadro sinptico do que este autor desenvolveu ao longo do primeiro volume de sua obra, versando sobre o domnio cognitivo (1972), que apresentamos a seguir48. Os exemplos dados a respeito de cada objetivo visam apenas construir referncias para que o professor, com sua experincia do dia-a-dia, construa os seus prprios, ou coteje com os que esto em seu plano de curso, de modo a estabelecer uma seqncia de complexidade crescente mais adequada e de acordo com o nvel em que se encontram seus alunos.
Situao-limite e indito vivel so dois conceitos fundamentais desenvolvidos por Paulo Freire na Pedagogia do oprimido (p. 110 e segs.). O primeiro diz respeito alienao imposta aos dominados, que passam a no perceber a possibilidade de ultrapassagem de determinadas situaes de dominao. J o segundo se refere percepo da possibilidade de alternativas s quais se dirige a ao libertadora dos prprios dominados. Conforme d para perceber, o primeiro conceito est relacionado aos conceitos de alienao, conscincia real atribuda e dominao, enquanto o segundo insere-se no universo da conscientizao, conscincia mxima possvel e libertao. Inclusive, a releitura da Pedagogia do oprimido para o desenvolvimento deste trabalho acabou nos remetendo para o desenvolvimento de uma outra reflexo sobre as convergncias entre o pensamento freireano e o de Lucien Goldmann certamente um dos maiores socilogos deste sculo e que bebeu nas mesmas fontes piagetianas de Paulo Freire. Esta reflexo, porm, escapa aos limites deste trabalho, mas no est fora de nossas cogitaes em prxima publicao. 48 Deixamos de apresentar um quadro congnere para o domnio afetivo, primeiramente porque nesta parte da obra (volume 2), no nos convenceu a possibilidade de uma taxionomia to rgida. Em segundo lugar, limitamo-nos rea cognitiva por ela ser a predominante nas avaliaes da aprendizagem de nossas escolas. Parece que Bloom e sua equipe no concluram o plano da obra, que era o de escrever um terceiro volume sobre o domnio psicomotor. No conseguimos localizar, nem traduzido, nem no original, o terceiro volume. Cabe destacar que no entendemos o desprezo que alguns educadores brasileiros devotam a esta obra que, durante muitos anos, esteve em moda nas discusses sobre avaliao no pas. Parece-nos, mais uma vez, o problema dos modismos, to em voga entre nossos pedagogos: as ondas vm e passam com a mesma celeridade de um meteoro, prejudicando o aproveitamento das boas teorias que, ou so banalizadas pela aplicao precipitada ou so desprezadas em funo de outra moda pedaggica do momento.
47
73
Taxionomia dos Objetivos Educacionais (Domnio Cognitivo)
CATEGORIA CLASSE PROCESSO SUBCLASSE Conhecimento de especficos OBJETIVOS/EXEMPLOS Terminologia Fatos Especficos (nomes, datas, dimenses) Convenes Tendncias e Seqncias Classificaes e Categorias Critrios Metodologia Princpios Generalizaes Teorias Estruturas Enunciaes no literais (metfora, simbolismo, ironia, exagero) Mudana de linguagem Captao de idias, sentidos Interpretao de dados Inferncia imediata Predio de continuidade de tendncias Termos e conceitos em outros problemas Predio de efeitos por modificaes introduzidas Suposies no enunciadas Distino de fatos e hipteses
MEMRIA
Conhecimento de meios e maneiras EVOCAO de tratar com (memorizao ou especficos recognio) CONHECIMENTO Relao Conhecimento de universais e abstraes em certo campo Translao Entendimento de Nvel mais baixo
COMPREENSO
Interpretao
Extrapolao Uso de abstraes em situaes singulares e concretas
APLICAO
Uso de termos e conceitos Anlise de elementos
CAPACIDADES HABILIDADES ANLISE
Coerncia de hipteses Desdobramento Anlise de relaes Interrelao de idias do todo em partes Anlise de Reconhecimento de formas e padres princpios tpicos organizacionais Produo de comunicao singular Produo de plano ou conjunto de operaesem Julgamento termos de evidncia interna Julgamento em termos de evidncia externa Organizao de idias Relato de experincia pessoal Maneiras de testar hipteses Elaborar plano para execuo
SNTESE
Combinao das partes no todo
Preciso lgica do discurso Avaliar com base em critrios evocados
AVALIAO
Julgamento
74
Porm, para os educadores transformadores, mais importante do que estabelecer objetivos, previamente, estabelecer um processo de reflexo e formulao coletivas com os demais membros da comunidade escolar, especialmente com os alunos, sobre o plano de curso a ser desenvolvido e os objetivos especficos a serem alcanados. O que Bloom aponta so competncias cognitivas numa seqncia de complexidade crescente, numa ordenao pr-requisital, de modo que cada classe subseqente implica no domnio das competncias previstas na anterior. Se fssemos representar, diagramaticamente, tal proposio, teramos: Conhecimento Conhecimento Compreenso Conhecimento Compreenso Aplicao Conhecimento Compreenso Aplicao Anlise Conhecimento Compreenso Aplicao Anlise Sntese Conhecimento Compreenso Aplicao Anlise Sntese Avaliao Ou seja, compreenso implica em conhecimento; aplicao implica em compreenso e conhecimento, e assim por diante. No processo de aprendizagem, no se pode avanar o sinal e desenvolver a compreenso, sem antes desenvolver o conhecimento (memorizao), do que memorizvel na unidade especfica. O respeito a esta seqncia pr-requisital ou a outras que venham a ser construdas sobre outras bases que no o desenvolvimento cognitivo tem implicaes profundas nos processos de avaliao. Na maioria das vezes, nas provas, os professores propem questes cujo grau de complexidade no foi atingido nos objetivos previstos ( s vezes, nem estavam previstos na programao). 2. Construo, Negociao e Estabelecimento de Padres Como vimos anteriormente, em qualquer processo de avaliao da aprendizagem ocorrer, fatalmente, a comparao de determinado desempenho com determinado(s) padro(es). Mesmo na chamada avaliao construtivista os avanos dos alunos em relao a seus desempenhos ou posies anteriores implicar numa comparao qualitativa, uma vez que, para determinar tais avanos, necessrio determinar seu sentido. O deslocamento do aluno em relao competncia revelada anteriormente pode ser em vrios sentidos, inclusive, no da negao da posio alcanada anteriormente. Para designar um avano, tenho de saber em direo a qu, o que me obriga a determinar um horizonte, um padro desejvel. O estabelecimento de padres desejveis no um mal em si mesmo. O mal est na sua imposio por apenas um segmento social. Se eles so referenciados ou construdos a partir das metas, dos objetivos, das estratgias, dos procedimentos, dos ritmos negociados no planejamento, no h porque tem-los. Quando falamos do sonho e da utopia, estamos sempre nos referindo
75
a horizontes desejveis para a sociedade, estamos, portanto, falando de padres de estruturao e funcionamento sociais. Tambm na programao de uma determinada avaliao, preciso, pois, retornar ao plano de curso e, coletivamente, construir os padres especficos a serem medidos e avaliados na oportunidade em questo. J chamamos a ateno para o fato de nossas escolas trabalharem quase que exclusivamente no desenvolvimento da rea cognitiva dos alunos e da hegemonia absoluta das provas como instrumentos de avaliao. Como estamos convencidos de que a no se trata de condenar o domnio cognitivo e nem as provas, de que a transformao das praxes avaliadoras no ocorrer de uma hora para outra e, finalmente, de que so os prprios professores que devero tomar conscincia, escolhemos um exemplo que se enquadra nessas prticas correntes, mas j tentando dar-lhes uma configurao qualitativa ou cidad. Imaginemos que foi desenvolvida na disciplina Histria a unidade relativa Transformao do Estado Escravista Moderno em Estado Burgus no Brasil (final do sculo XIX) e que, no plano da unidade foram estabelecidos os seguintes objetivos: I - conhecimento da terminologia bsica e dos fatos que aparecem na unidade, tais como: modo de produo, formao social, Estado, direito, burocracia, aparelhos estatais, abolio da escravatura, proclamao da repblica, constituinte e constituio de 1891; II - compreenso da correspondncia entre modos de produo e formas de Estado, das diferenas entre o direito e a burocracia pr-burgueses e burgueses; III - aplicao de conceitos e conhecimento histrico sobre as revolues burguesas ocorridas no mundo formao do Estado Burgus no Brasil. Imaginemos ainda que estes objetivos foram estabelecidos de comum acordo na fase de planejamento, que a unidade foi desenvolvida dentro da concepo da educao dialgica e que os procedimentos didtico-pedaggicos foram adequados ao nvel dos alunos de 6. srie do Ensino Fundamental. Imaginemos ainda que iremos construir e aplicar uma prova escrita, para o registro dos desempenhos equivalentes ao primeiro bimestre da srie mencionada. Chegamos ao momento de estabelecer os padres e trata-se de uma escola inserida numa estrutura educacional que adota o sistema de promoo, com escala de notas de zero a dez. Teramos, ento, nesta avaliao especfica, os seguintes padres: I - nota de um a quatro, para quem resolvesse todas as questes de memorizao; II - nota de quatro a oito, para quem resolver todas as questes de compreenso; III - notas de oito a nove, para quem resolver a questo de aplicao; IV - dez, para quem resolver tudo. Como se pode depreender da construo dos padres especficos para a situao descrita, combinamos aspectos quantitativos e qualitativos, com ntida predominncia dos ltimos. O aluno no ser avaliado pela quantidade de
76
respostas adequadas aos padres estabelecidos, mas de acordo com o grau de exigncia (mais ou menos complexa) das questes que nos remetem aos padres construdos e negociados, a partir do que foi previsto no planejamento, desenvolvido em sala de aula e, tambm, de acordo com os procedimentos didtico-pedaggicos adotados (mais ou menos dialgicos). A participao do aluno na preparao da avaliao tambm fundamental, porque, mesmo que ele tenha participado da formulao do planejamento, esta participao no garante que o desenvolvimento da unidade tenha se dado de acordo com o planejado. Os padres fixados unilateralmente pelo professor, mesmo que correspondam ao que foi originalmente previsto quanto s metas e objetivos do plano de curso, estes podem ter sido distorcidos durante o processo de ensino-aprendizagem, seja por fatores derivados dos procedimentos escolares inadequados, seja por condicionamentos limitantes gerados nos contextos dos alunos. No negociar com os alunos a elaborao da avaliao significa impor, arrogantemente, a prpria interpretao do que aconteceu no processo de aprendizagem como verdade indiscutvel. Ao mesmo tempo que se considera que os instrumentos de avaliao elaborados so perfeitos e infalveis. Com esta postura, o professor descaracteriza a natureza de investigao do momento da avaliao, perdendo uma oportunidade nica de reviso e replanejamento de suas atividades subseqentes. 3. Construo dos Instrumentos de Medida e de Avaliao Embora sejam dois passos necessrios e subseqentes do processo de avaliao (entendida em seu sentido amplo), no h como estabelecer uma fronteira nitidamente delineada entre medida e avaliao (em seu sentido restrito). Quando se fala de instrumento de medida, est se falando de instrumento de avaliao. Ningum mede algo por medir, mas para estabelecer comparaes, de modo a tomar decises a seguir. No caso da avaliao da aprendizagem, esta delimitao fica mais difcil ainda. Quando tentamos estabelecer a diferena entre medida e avaliao, demos o exemplo das pessoas que se pesavam numa farmcia. No faria sentido qualquer terem os dois personagens subido na balana sem uma intencionalidade referenciada no desejo de constatar algo prximo de um padro previamente estabelecido. Mesmo uma criana que se pesasse do mesmo modo, mas apenas por recreao, haveria a intencionalidade curiosa de verificar o que aconteceria com o aparelho. Assim, quando o professor constri, por exemplo, uma prova, est, ao mesmo tempo, construindo um instrumento de medida e um instrumento de avaliao. Evidentemente, a avaliao implicar na existncia prvia de uma escala de padres desejveis, tomada como referncia para a comparao com os desempenhos constatados. Retomemos o exemplo dado na Construo, Negociao e Estabelecimento de Padres e lembremos que:
77
a) iremos avaliar a unidade Transformao do Estado Escravista Moderno em Estado Burgus no Brasil, na 6. srie do Ensino Fundamental; b) construiremos uma prova escrita, com questes de resposta dirigida (objetivas) e questes de ensaio (dissertativas); c) chegaremos, com os alunos, no domnio cognitivo, apenas at a aplicao, nos termos da taxionomia de Bloom; d) usando a escala de notas de zero a 10, estabeleceremos patamares de notas de acordo com a natureza, mais ou menos complexa, dos objetivos a serem verificados (conhecimento, compreenso e aplicao), combinando os aspectos qualitativos a expressos com os quantitativos (grau mximo para quem resolver tudo). Como a maioria de nossos professores do Ensino Fundamental ainda no conquistaram determinados direitos quanto s condies de trabalho e, por isso, so ainda obrigados a ministrar nmero excessivo de aulas semanais para um nmero tambm excessivo de alunos, necessrio que se tenha um mnimo de cuidado na elaborao das questes, para que a prova permita, alm de medir adequadamente o que se pretende, uma correo mais precisa e mais rpida. Ora, se o objetivo conhecimento vale de 1 a 4, construiremos quatro questes de conhecimento, valendo um ponto cada uma. Cabe aqui uma srie de constataes. Primeiramente, as questes de conhecimento devem abranger todo o contedo da unidade desenvolvida, naquilo que for pertinente a evocao ou o uso da memria (datas, fatos, nomenclatura, conceitos). bom lembrar que, se para determinado grupo de alunos determinada operao mental exigir apenas a evocao, para outros, em outros nveis de aprendizagem, a resoluo do mesmo problema exigir outros mecanismos de raciocnio. Por isso, nunca se pode considerar os mesmos critrios e aplicar os mesmos instrumentos de avaliao para todos os alunos no mesmo momento. Algo que hoje me exige grande esforo cognitivo, amanh, j tendo resolvido a questo, a mesma situao-problema exigir apenas evocao da melhor forma de resolv-la. A no ser que os alunos de determinado grupo estejam, rigorosamente, no mesmo nvel e nas mesmas condies de escolaridade que ser justo aplicar-lhes o mesmo instrumento de medida e avaliao. Em segundo lugar, iremos construir quatro questes, porque facilita a distribuio da pontuao por elas de mesmo nvel de complexidade: so relativas s subclasses da classe conhecimento. Como se pode perceber, de novo introduzimos o aspecto quantitativo, pois estamos no interior de uma mesma classe cognitiva, no havendo a variaes qualitativas (graus diferentes de complexidade). Em terceiro lugar, as questes relativas classe subseqente (compreenso), no podem valer, isoladamente, menos do que 4, porque compreenso implica em conhecimento. Da mesma forma, as questes de aplicao no podem ter pontuao inferior a 8. Continuando ainda com o raciocnio de cobrir todo o universo de verificao dos objetivos pretendidos e facilitar o trabalho docente, elaboraramos duas questes de compreenso, valendo 4 pontos cada. E, finalmente, proporamos apenas uma questo de aplicao. No fcil, de incio, formular provas com este cuidado, porque estamos acostumados a outra
78
maneira de faz-lo: preocupao exclusiva com a quantidade de matria lecionada, isto , com a abrangncia das questes em relao ao contedo desenvolvido at o momento da avaliao. 4. Procedimento da Medida e da Avaliao Procedimento aqui significa medir e avaliar no exemplo dado, significa aplicar a prova e corrigi-la, registrando os resultados. Nos vrios cursos que temos desenvolvido pelo pas, aps a discusso desses passos da avaliao, temos simulado situaes e solicitado a colaborao dos professores cursistas, no sentido de atriburem notas aos alunos cujos desempenhos49 teriam sido os seguintes: a) acertaram todas as questes; b) no acertaram nenhuma questo; c) acertaram somente as questes de conhecimento; d) acertaram somente as questes de compreenso; e) acertaram somente a questo de aplicao. Outras situaes de desempenho poderiam ser levantadas, como o acerto parcial (apenas algumas do conjunto das questes) de um mesmo nvel ou classe. At hoje, em todas as simulaes realizadas, obtm-se um certo consenso quanto s notas a serem atribudas aos casos extremos: acerto de tudo ou de nada. Nos demais casos, a variao de notas atribudas pelos cursistas percorre toda a escala considerada (de zero50 a dez), o que tm nos demonstrado a dificuldade que sentem os professores em se desvencilhar de uma tradio avaliadora que incorporaram no s nos cursos que fizeram, como tambm na forma com que foram avaliados, desde sua escolarizao inicial. Para exemplificar com um caso extremo, eles no se conformam que, com base nos padres estabelecidos, o aluno que apenas acertou a questo de aplicao deveria receber a nota 9. Alis, alertamos para o fato de que, quando isso acontece, uma sinalizao forte para o questionamento da formulao das demais questes. De fato, se o aluno foi capaz de resolver a mais complexa e que, inclusive, implica em conhecimento e compreenso, ou ele no quis responder s outras, ou seu contedo no foi por ele memorizado, ou elas estavam mal formuladas. De qualquer modo, sua capacidade de resolver a questo de aplicao com o pressuposto de que esta estava bem elaborada demonstra, cabalmente, sua competncia para resolver as demais. O vcio quantitativo est to arraigado no corpo docente brasileiro que, quando pintamos este cenrio, so comuns as reaes do tipo: Mas, ele resolveu apenas uma questo e no pode receber nota mais alta do que aquele aluno que resolveu mais questes. Ou: Quando o aluno perceber que bastava-lhe resolver uma questo para obter nota 9, ele no se dedicaria s demais. A esta ltima observao sempre respondemos com: A inteligncia desse aluno e sua percepo do prprio processo de avaliao justifica sua nota 9.
De acordo com os padres construdos coletivamente, negociados e estabelecidos. Muitos do zero, por mais que insistamos que este grau deveria ser banido das escalas, porque ningum nulo em qualquer campo do conhecimento.
50 49
79
5. Anlise dos Resultados Na praxe das avaliaes correntes, o processo se conclui na correo, registro e publicao dos resultados. No nosso modo de entender, a parte mais importante da avaliao , exatamente, a anlise dos resultados pelo professor e pelos alunos, no sentido de nortear as decises a respeito dos passos curriculares ou didtico-pedaggicos subseqentes. H uma razovel literatura sobre avaliao de resultados, usando, inclusive, tratamento estatstico, na qual destacaramos a j citada obra de Bradfield e Moredock (1963). Porm, mais importante do que o exame dos resultados atravs das descries tabulares e grficas, de histogramas, de polgonos de freqncia, de moda, mediana, mdias ou desvio-padro, analisar com os alunos os desempenhos de cada um, comentando os desempenhos alcanados. No se trata aqui da exposio humilhante dos erros cometidos, mas a discusso, num verdadeiro circulo de avaliao das diversas respostas dadas e o porqu de terem sido dadas dessa forma e no de outra. Em outras palavras, a anlise dos resultados de qualquer avaliao se transforma num momento importante de reviso de todo o planejamento do trabalho previsto e executado at o momento. Se a maioria dos alunos de uma determinada turma no est conseguindo acompanhar a matria, de acordo com o que ficou demonstrado na avaliao levada a efeito, de nada adianta o professor avanar com o programa. Alis, essa histria de o professor ter de cumprir o programa explicita a prioridade da burocracia. No o aluno que deve cumprir a programao? No para os discentes que o planejamento feito, qualquer que seja sua concepo? De que adianta o docente avanar no planejamento, dando aulas para as paredes, se os alunos no avanam com ele? E ele tem de submeter o relatrio sobre o esgotamento do que foi planejado a seus superiores, ou, antes, tem de prestar contas sociedade sobre a aprendizagem das crianas e adolescentes que lhe foram confiados? Retomando a definio sobre avaliao de Luckesi, mais importante do que constatar resultados, tomar decises a respeito do que dever ser feito a seguir. comum em nossas escolas bsicas o desprezo pelos resultados, aps seu registro em boletim ou ficha individual. claro que a sobrecarga de trabalho dos professores e as exigncias do sistema burocrtico acabam desviando sua ateno do essencial neste particular. Os poucos especialistas que sobreviveram no sistema educacional brasileiro51 poderiam dar aqui uma grande contribuio. Sabemos da resistncia dos professores a esses profissionais principalmente dos que atuam a partir do segundo segmento do Ensino Fundamental. E ela tem suas razes. Primeiramente, orientadores, supervisores e inspetores entraram no sistema educacional pela porta dos fundos, durante os governos de exceo, colaborando para a verdadeira rede de espionagem instalada no pas e para o trfico ideolgico que se fazia atravs dos componentes curriculares obrigatrios, quer sob a forma de componentes da
51
E sua funo tem sido muito questionada em alguns sistemas estaduais, como o caso de Pernambuco.
80
grade curricular ( Educao Moral e Cvica, Organizao Social e Poltica do Brasil etc.), que sob a induo, hierarquicamente dirigida, sobre a maneira de tratar os demais contedos. Em segundo lugar, desceram de pra-quedas nas escolas, como especialistas em generalidades, opinando em disciplinas para os quais no tinham o menor preparo, dada a fragilidade dos cursos de Pedagogia. Ainda que tenham conseguido algum respeito junto aos professores do primeiro segmento do Ensino Fundamental, por causa da superioridade de sua titulao a maioria dos docentes desse nvel tinha apenas o segundo grau encontraram sria resistncia dos docentes tambm formados em nvel superior (licenciatura). Recuperar o papel desses profissionais a maioria foi mais vtima do que algoz uma tarefa do sistema escolar brasileiro de hoje, dentro de uma nova configurao de seu perfil profissional e com uma redefinio de suas funes. Ainda que escape aos limites deste trabalho, ousamos algumas sugestes, por entendermos que alm dos professores, a escola brasileira contempornea necessita de outros profissionais do ensino, dadas as tarefas cada vez mais complexas a ela cometidas. Desses profissionais, a figura do supervisor pedaggico parece-nos a mais importante. Evidentemente que sua denominao deveria ser substituda por outra, menos militarista, at mesmo para eliminar a conotao poltica e politolgica negativa que lhe foi atribuda at agora. Quem sabe... coordenador pedaggico ou animador pedaggico. Porm, mais importante que sua denominao profissional sua formao e a definio de suas funes no sistema. Entendemos que esse profissional deve ser habilitado em nvel superior licenciado em um dos campos do conhecimento exercer o magistrio por, no mnimo 8 (oito) anos, para que possa percorrer todos os nveis desse grau de escolarizao e, em seguida, no nvel de ps-graduao (lato sensu ou em Mestrado), sistematizar a reflexo sobre sua formao inicial e sua experincia profissional. S ento, se tornaria um animador pedaggico por rea de conhecimento especfico. Mas, retornemos avaliao. O profissional descrito logo acima, teria uma contribuio valiosa para dar aos professores no campo especfico de sua formao especializada. Caberia a ele oferecer diretrizes para o planejamento, com base em pesquisas de temas geradores ou estruturas significativas da cultura primeira da comunidade em que a escola atua; subsidiar a formulao do plano de curso com instrumentos, mecanismos e procedimentos que tenha estudado ou aplicado ao longo de sua experincia como professor; realizar pesquisas sobre procedimentos didtico-pedaggicos praticados na escola; analisar, tecnicamente, os instrumentos de avaliao e seus resultados, devolvendo sugestes que orientem o replanejamento etc. Sabemos que a transio para esse novo papel do supervisor pedaggico leva tempo, alm das reformulaes curriculares nos cursos superiores, as agncia formadoras de recursos humanos para a educao tm de se transformar profundamente. Nesse nterim, as escolas bsicas poderiam criar um esquema em que os professores mais experientes tivessem em seu regime de trabalho um tempo para orientar os professores nefitos. Penso que uma
81
soluo mais adequada nessa transio seriam os conselhos de classe, sobre os quais, abriremos um item especial.
82
CAPTULO IV CONSELHOS DE CLASSE E AVALIAO (Uma Experincia)
H uma razovel literatura sobre gesto democrtica das escolas52, com destaques enfticos no papel dos conselhos escolares. Queremos chamar a ateno, porm, para a importncia dos conselhos escolares, compulsando a escassa bibliografia relativa ao tema e reexaminando o material que acumulamos, por mais de vinte anos, os resultados de uma experincia, que comeou em duas escolas da periferia de Juiz de Fora (MG), vinculadas rede da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC)53, e ampliou-se na rede municipal de escolas da mesma cidade, ao lado de aplicaes espordicas em outras partes do territrio nacional. Insatisfeitos com os resultados alcanados pelos alunos dos cursos noturnos do antigo Ginsio Vital Brasil e Escola Normal Feliciana de Arajo Assis, a direo, os professores e os alunos resolvemos iniciar uma experincia em que a orientao educacional seria descentralizada nos professoresorientadores e os planos de curso, no que coubesse, seriam organizados, nas diversas disciplinas, em projetos temticos integrados, a serem desenvolvidos pelos alunos, em sala de aula e organizados em equipes. A primeira iniciativa responderia carncia de pessoal especialista as escolas contavam com apenas uma orientadora educacional para atender a uma matrcula superior a seiscentos alunos. Por outro lado, percebia-se um distanciamento dos professores em relao aos problemas educacionais de seus alunos, voltados, cada vez mais, para a exclusividade do tratamento das questes relativas aos contedos especficos de suas disciplinas. O desenvolvimento de projetos temticos integrados era uma tentativa de superao do isolamento do trabalho didtico-pedaggico dos diversos professores, buscando o entrosamento horizontal e vertical das diversas disciplinas. Desenvolver o trabalho exclusivamente em sala de aula buscava responder reiterada reclamao dos alunos sobre a falta de tempo e de condies em casa para estudar e cumprir as tarefas passadas para o perodo ps-aulas, uma vez que a maioria j estava engajada no mercado de trabalho e no tinha condies em casa para fazer as lies. Iniciamos o processo, acordando com todos os professores que, em um determinado dia da semana, todos teriam de estar na escola, independentemente de terem aulas naquele dia, para as reunies do conselho de classe, orientao de alunos, reunies com os pais, sesses de estudos, de planejamento etc. Nesse dia, as aulas teriam durao menor (40 minutos) e tempo remanescente (cerca de 50 minutos) do horrio normal de funcionamento
PRAIS (1990), DALBEN (1992), GADOTTI (1993b), CISESKI e ROMO (1997), PARO (1997), VEIGA (1997) e GHANEM (1998), dentre outros. 53 Ginsio Vital Brasil e Escola Normal Feliciana de Arajo Assis.
52
83
das atividades escolares seria dedicado, semanalmente, s atividades do projeto54. Assim, aps a convivncia dos alunos de uma mesma turma entre si com seus respectivos professores, no primeiro ms letivo de cada ano, aplicvamos tcnicas de relaes humanas, para que ao final deste perodo, os alunos escolhessem seu respectivo professor-orientador e os colegas que fariam parte de sua equipe. Para a escolha do professor-orientador, tinham de votar, por ordem de preferncia em todos os seus professores (7 em mdia). Ao longo do processo, percebemos as vantagens do sistema, nem todas vislumbradas inicialmente: a) maior abertura do orientando com seu respectivo professor-orientador, sem as clssicas rejeies de alguns alunos aos tradicionais padrinhos de turma; b) possibilidade de distribuir os alunos por todos os professores, pois esclarecamos que, nem sempre, seria possvel ficar com o escolhido em primeiro lugar, mas, certamente com um dos primeiros; c) identificao de rejeies de determinadas turmas a determinados professores, com os quais teramos de fazer um trabalho especial; d) qualquer rejeio ao longo do processo de orientao poderia ser rapidamente corrigida, por exemplo, com a mudana de professororientador (ainda que no estimuladas, essas mudanas eram perfeitamente possveis, de acordo com os desejos do aluno incompatibilizado com seu professor-orientador). As escolhas eram feitas de modo a permitir uma tabulao num formulrio como o que se segue: Tabulao da Escolha de Professor-Orientador
N. 01 02 03 04 05 06 Alunos Nome Antnio Batista Carlos Durval Edson Frederico Port. 3 4 1 2 5 4 Mat. 7 5 5 4 3 3 His. 1 1 2 1 1 1 Professores Geo. Ci. 4 6 7 3 6 7 7 6 7 6 7 6 Ed. Art. 2 6 4 5 4 5 Ed. Fs. 5 2 3 3 2 2
(...) Os nmeros abaixo dos professores indicam a ordem de escolha dos alunos. No exemplo dado, percebemos que, a continuar a tendncia da turma nos alunos de nmeros subseqentes, os professores de Geografia e cincias
Nunca houve um projeto formulado sistematicamente num documento. Paulatinamente, nas reunies peridicas que fazamos, as idias foram surgindo e ganhando corpo na prtica. Esta a primeira tentativa de sistematizao da memria da experincia. bom lembrar que tnhamos a prtica de nos reunir freqentemente, uma vez que o Estatuto da CNEC determinava a organizao do setor local, do qual faziam parte os profissionais da escola, os pais e os alunos, como scios, com competncia para decidir sobre toda e qualquer matria relativa escola. A direo do setor local e da escola eram escolhidas nessas reunies.
54
84
tm srios problemas de rejeio, enquanto o de Histria e o de Educao Fsica tm muita aceitao. Ao mesmo tempo, o aluno escolhia, tambm por ordem de preferncia, cinco colegas que ele gostaria que fizessem parte de sua equipe. Aqui tambm, alm da constituio dos grupos afins (equipes) percebamos, na tabulao, as rejeies e as lideranas de turma. Vejamos o formulrio no qual tabulvamos os resultados das escolhas. Tabulao da Formao de Equipes Discentes
Alunos 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 01 X 4 3 1 3 1 3 4 5 2 1 2 2 02 4 X 5 3 4 2 5 03 04 05 06 2 3 X 2 5 1 1 4 X X 4 3 1 3 3 2 5 1 4 5 3 3 2 4 X X 2 5 X 1 2 4 X 4 07 08 1 2 2 2 5 09 10 11 3 5 4 5 1 4 2 1 5 X 5 12 13 14 5
X 1
3 1 2 3 4 5 1 4 X
(...) Imaginando que a tabela, fosse o resultado concreto das escolhas de uma turma, algumas observaes poderiam ser tiradas, dentre outras: a) Os alunos de nmero 1, 11 e 14 so verdadeiras lideranas, ou, pelo menos, gozam da preferncia da maioria de suas colegas, especialmente o primeiro, que esteve sempre nas primeiras preferncia. b) O nmero 14, tambm liderana, foi o nico que no escolheu a liderana maior (nmero 1), o que pode indicar uma disputa de espao. c) O nmero 13 foi rejeitado por todos os colegas, no figurando sequer em qualquer posio de escolha. Vrias outras concluses podem ser tiradas do exame mais detido da tabela, combinado com observaes diretas das condutas e dos relacionamentos intraclasse. Imagine-se as vrias indicaes para o trabalho da direo administrativa, orientao educacional e superviso pedaggica. Bem como os diversos ajustes que podem ser feitos, logo do incio do ano, quanto composio das turmas e distribuio dos professores. Cada professor-orientador ficava, em mdia, com 30 alunos-orientandos, espalhados pelas diversas turmas em que lecionava. O sistema apresentava uma vantagem: como cada professor tinha poucos orientandos por turma, ficava
85
mais fcil observ-los mais minuciosamente no decorrer das prprias aulas. Cada equipe era constituda de, no mnimo, 3 e, no mximo, 5 alunos. No dia da semana de horrio reduzido de aulas e que contvamos com a presena de todos os professores, realizvamos, ao final das aulas, nos 50 minutos remanescentes (eram subtrados 10 minutos de cada uma das cinco aulas do dia as atividades relacionadas a seguir), cuja ordem podia mudar em funo das necessidades diagnosticadas: 1. semana - reunio do professor-orientador com seus orientandos; 2. semana - reunio do conselho de classe, para discusso de situaes de alunos mais problemticos e deciso de seu encaminhamento a especialistas55 ; 3. semana - reunio do professor-orientador com seus orientandos, para passar as observaes colhidas no conselho de classe; 4. semana e, eventualmente, 5. semana - reunio do conselho de classe para exame da evoluo de cada aluno. Nada impedia que em reunies do conselho fossem desenvolvidos estudos, atravs de palestras, conferncias etc., para capacitao, atualizao e aperfeioamento dos professores, do corpo tcnico e dos servidores da escola. A crtica sobre terminar as aulas mais cedo e dispensar os alunos, um dia por semana, foi logo se diluindo, dados os resultados alcanados. Muitas vezes tambm, os alunos no eram dispensados, pois, ou ficavam com seu professororientador ou ficavam, em equipes, desenvolvendo o projeto de trabalho temtico integrado. Uma vez por bimestre, por poca dos registros dos resultados escolares, reunia-se o conselho de classe para uma avaliao do desempenho de aluno por aluno, turma por turma. medida que a experincia amadurecia, chegou-se concluso de que os alunos deveriam ser avaliados em quatro variveis: I - aproveitamento (A); II - freqncia (F); III - relacionamento (R); IV - participao (P). Alm dos canhotos de notas e freqncias entregue na secretaria da escola, bimestralmente, os professores entregavam tambm uma ficha de diagnstico bimestral, na qual registravam, a partir de suas observaes a avaliaes aplicadas nas turmas para as quais davam aulas, os desempenhos dos alunos nas quatro variveis. Em seguida, os dados desses formulrios eram tabulados em um outro e esses instrumentos, juntamente com os boletins dos alunos, constituam um material precioso para a reunio do conselho de classe realizado ao final de cada bimestre. No tem sentido burocratizar o conselho de classe ou torn-lo incuo, se ele no tem nenhuma competncia para mexer nas notas dos alunos.
55 Muitas vezes, os casos cuja problemtica escapavam competncia do professor-orientador eram encaminhados ao orientador da escola ou a outros especialistas de fora de seu quadro de profissionais. Porm, a maioria dos problemas de aprendizagem eram resolvidos pelo prprio professor-orientador, que acompanhava seus orientandos em toda a sua vida escolar.
86
Nos ltimos anos da experincia, construmos formulrios semelhantes para coletar as avaliaes dos alunos sobre o desenvolvimento das diversas disciplinas. Infelizmente, a resistncia dos professores impediu que levssemos adiante uma experincia que, a nosso ver, poderia ter avanado em termos da qualidade da pesquisa propiciada pelos processos de avaliao. Nestes instrumentos, os alunos registravam suas impresses de aproximao ou rejeio da disciplina, suas bases anteriores, sobre o contedo, os procedimentos didticos adotados pelos professores, sobre as provas e seu grau de dificuldade em relao s encontradas no desenrolar das aulas etc. Na realidade, o que pretendamos era fornecer aos alunos instrumentos semelhantes aos que os professores dispunham para uma participao mais conseqente nas reunies dos conselhos de classe. Cabe destacar que encontramos tambm muita resistncia do corpo docente quanto participao dos alunos nesses conselhos, chegando mesmo sua inviabilidade, em nome de uma tica canhestra: os alunos no tinham maturidade suficiente para ouvir consideraes sobre outros colegas. Na verdade tratava-se de um mecanismo de defesa, pois tambm o trabalho dos professores estaria sob julgamento. Nas pginas seguintes, apresentamos estes instrumentos, com breves comentrios sobre sua utilizao.
87
DIAGNSTICO BIMESTRAL
ESCOLA_____________________________________________________________________________ DISCIPLINA___________________________PROFESSOR___________________________________ ____SRIE - TURMA____ - ____BIMESTRE - ANO____ A P R O V E I T A M F R E Q N C I A R E L A C I O N A M P A R T I C I P A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
_______________, ____de ____________ de 19____. __________________________________ Professor(a)
88
DIAGNSTICO BIMESTRAL
ESCOLA___________________________________________________________________________ ____SRIE - TURMA____ - ____BIMESTRE - ANO____
N A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 T % Percentuais de Produtividade da Turma : Aproveitamento ____ % Relacionamento ____ % Frequncia ____ % Participao ____ % TOTAL F R P PORT. A F R P MAT. A F R P HIST. A F R P GEO. A F R P CIN. A F R P ED.ART A F R P
89
No primeiro formulrio, solicitvamos ao professor assinalar os casos de alunos-problema em cada uma das variveis. Seria problema em aproveitamento, devendo a quadrcula ser marcada com A, o aluno que obtivesse, no bimestre, nota inferior mdia mnima de aproveitamento (6,0). Deveria ser marcado com F o aluno que tivesse freqentado menos que 75% das aulas dadas na disciplina. Com R o que tivesse reiterados problemas de relacionamento com os colegas e com os demais membros da comunidade escolar. E, finalmente, com P os alunos e alunas que, na opinio do professor apresentavam uma participao precria nas aulas, na vida da escola e nas aes da comunidade. bom lembrar que os professores-orientadores passaram a fazer freqentes visitas s residncias de seus alunos, para conhecer melhor suas condies de vida, ou, at mesmo para atender a convites dos orientandos e estes tambm se tornaram freqentes, dada a teia de afinidades tecida entre eles e seus respectivos orientadores. Os dados do primeiro formulrio eram transcritos para o segundo que, uma vez preenchido, permitia, dentre outras, as seguintes anlises e concluses: a) Quando o formulrio apresentava uma linha horizontal muito preenchida, era um indicador de que o aluno, possivelmente, enfrentava grandes dificuldade, porque vrios observadores, em circunstncias e situaes diferentes, e observando-o em quatro variveis o tinham apontado como problema. b) Quando o formulrio apresentava-se congestionado na linha vertical, deduzamos que havia uma indicao de que, quem enfrentava dificuldades era o professor e que, por isso mesmo, merecia ateno e ajuda especiais. c) Ao calcular o percentual de aproveitamento da turma como um todo, em todas as disciplinas e em cada disciplina em particular, comparvamos esses percentuais e, se numa determinada disciplina o percentual mdio de aproveitamento tinha sido inferior ao percentual mdio global, sugeramos ao professor reexaminar seus objetivos, estratgias e procedimentos. Caso contrrio, o professor percebia que poderia exigir um pouco mais de sua turma. O mesmo exame era feito em relao s demais variveis. d) Ao final do ano, dispnhamos de quatro diagnsticos bimestrais de cada turma, com um nvel de detalhamento, que permitia ao conselho de classe decidir, sem maiores constrangimentos, sobre a aprovao dos alunos. Nesta reunio de final de ano, dirigida pelo professororientador, quando estariam sendo discutidos os desempenhos de seus orientandos, que se decidia o destino de cada aluno, examinado e discutido um a um! Lembramos aqui que, quando no possvel aumentar as oportunidades de avaliao para diminuir a subjetividade do avaliador, necessrio aumentar o nmero de avaliadores. Ao final de cada bimestre e ao final do ano, os professores-orientadores reuniam-se com seus alunos maiores de idade e com os pais ou responsveis
90
pelos menores para entregar os boletins e discutir caso a caso, a partir das informaes que coletara, semanalmente, seja com os prprios orientandos, seja no conselho de classe, seja com os pais, seja nas visitas que fazia na comunidade.
91
OBSERVAES FINAIS
Geralmente, ao final de um trabalho como este, o autor apresenta suas concluses. Preferimos, no por modstia, observaes finais, pelas razes que se seguem. No tivemos a pretenso de esgotar tema to inesgotvel quanto o da avaliao, aliado sua complexidade e importncia no desenvolvimento das atividades no seio das redes escolares brasileiras de Ensino Fundamental. Certamente, a razo mais importante se prende a uma questo de fundo: se no coletivo que teremos um processo de avaliao da aprendizagem mais cientfica e mais justa, devemos deixar ao leitor as concluses, a serem elaboradas em conjunto com outros educadores, a partir de reflexes sobre suas experincias concretas. Intentamos, isto sim, referenciar a avaliao no pensamento de nossos analistas maiores, como Paulo Freire e Lucien Goldmann, que conseguiram dar um contedo poltico s realidades da superestrutura. E, no campo pedaggico, embora despolitizada no discurso, a verificao da aprendizagem constitui um dos mais poderosos instrumentos polticos e ideolgicos da dominao. Tentamos tambm, sem banalizar o tema, facilitar a discusso da avaliao de uma maneira mais simples, sempre recorrendo a exemplos de experincias concretas e reportando-nos s dificuldades reiteradamente apresentadas pelos professores da escola bsica. Chamamos a ateno, no incio deste trabalho, sobre a dificuldade que os professores da escola bsica revelam encontrar na literatura sobre o assunto: ou livros muito tcnicos para no dizer tecnicistas ou obras muito filosficas, sem a indicao de procedimentos concretos. Aos que consideram a avaliao como algo muito simples e que todos podem formul-la e execut-la com preciso, procuramos demonstrar a relatividade resultante da subjetividade dos julgamentos inerentes s prticas arraigadas nas escolas de Ensino Fundamental. Penso que conseguimos desmascarar a arrogncia dos que no permitem a interferncia de outros nos seus procedimentos avaliativos, nem, muito menos, a avaliao do resultado de suas avaliaes. J lugar comum constatar que os maus resultados dos alunos constituem o espelho do desempenho de uma escola e de seus profissionais, mormente de seu corpo docente. claro que tais resultados constituem os efeitos de um somatrio de fatores adversos, tanto no que diz respeito s condies intra-escolares, quanto aos relativos ambincia familiar e comunitria. Porm, para ultrapassar essas constingncias, o primeiro passo s pode ser dado a partir de seu desvendamento, atravs de uma situao de avaliao mais abrangente. E a participao dos usurios neste processo fundamental, porque ningum supera a prpria conscincia ingnua ou mgica da realidade, como dizia Paulo Freire, seno a partir da conscientizao sobre essa ingenuidade ou essa magia. Do ponto de vista da prpria essncia do ato avaliador, tentamos demonstrar que no podemos, nem ir tanto ao mar, nem tanto terra. As
92
concepes de educao e de avaliao maniquestas, entre as quais se debatem os professores da escola bsica, podem trazer malefcios no s ao sistema educacional, como, at mesmo, sade dos docentes e demais profissionais do ensino. A sndrome de burn out merece uma pesquisa mais aprofundada no universo de nossos docentes do Ensino Fundamental. Sabemos que h razes de sobra para o temor dos docentes em relao avaliao externa, cujos objetivos nem sempre constam das honestidades explicitadas pelos dirigentes, mas, geralmente, fazem parte de uma agenda oculta de crime e castigo evidentemente no aplicvel aos que se encontram acima do bem e do mal, incrustados na burocracia central. Contudo, negar a necessidade da avaliao externa, para quem avalia, o tempo todo, externamente, todos os alunos, cair na contradio cabal: o que vale para os outros no vale para mim. A recuperao da legitimidade da avaliao s pode ser levada a efeito com a avaliao dos avaliadores. Do ponto de vista de uma pedagogia dialtica, devemos escapar das dicotomias categricas e buscar alternativas fora de seus plos. No caso da avaliao, tentamos demonstrar que a complementaridade entre a avaliao classificatria e a diagnstica pode ser um melhor caminho, sem o radicalismo dos construtivistas da moda ou dos quantitativistas tradicionais e sem o ecletismo que se constitui numa espcie de fisiologismo bajulador das teorias da moda. Finalmente, procuramos destacar, todo o tempo, de que no possvel transitar da situao em que nos encontramos para uma mais conseqente poltica, social e pedagogicamente, de uma hora para outra e, muito menos, por fora dos voluntarismo vanguardista de educadores progressistas. Esta transio, ou melhor, superao, s pode se efetuar com a participao de todos os agentes e usurios do sistema educacional, uma vez que ningum promove a superao da adversidade de algum, mas so as prprias pessoas que se ultrapassam, a partir da tomada de conscincia de sua prpria adversidade. Pedro Demo (1997: 72) chamou a ateno sobre a impossibilidade da aquisio de conhecimentos e habilidades. Conhecimentos e habilidades so construdos e reconstrudos a partir de nossas relaes com o mundo e com os outros homens e mulheres.
(...) o que fica da experincia da vida o que se reconstri com mo prpria em contexto social, no o que se acumula de maneira reprodutiva; sobretudo diante da velocidade com que o conhecimento se inova e tambm envelhece, improdutivo pretender acumul-lo, porque isso somente o faria envelhecer ainda mais rapidamente; sua energia mais forte est, por isso, no saber pensar para melhor intervir, num processo permanente de renovao. (DEMO, ob. cit.: 73).
Como escreveu Paulo Freire, a superao da situao de dominao no ser possvel apenas com o sucesso no domnio dos cdigos lingsticos, mas a partir de uma leitura crtica do mundo, constitudo de necessidades e contingncias. Para os dialticos, a necessidade histrica no ope
93
possibilidade de sermos sujeitos de nossos prprios destinos e com a conscincia sobre ela que iniciamos nossa marcha em direo libertao.
94
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVAREZ, Carmen Delgado et alii. Revisin terica del burnout o desgaste profesional en trabajadores de la docencia. Caesura. Canoas (RS), n. 2, p. 47-65, jan/jun. 1993. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideolgicos de Estado (Notas para uma investigao). In: ZIZEK, Slavoj (org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 105 -142. AMORIM, Antnio. Avaliao institucional da universidade. So Paulo: Cortez, 1992. BELO, Fernando. Notas para o conceito de ideologia; teoria e prtica. Lisboa: Regra do Jogo, 1977. BELL, Daniel. O fim da ideologia. Braslia: Ed. Universidade de Braslia, 1980. BLACKBURN, Robin (org.). Ideologia na cincia social. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1982. ___ (org.). Depois da queda ; o fracasso do Comunismo e o futuro do Socialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. BLOOM, Benjamin S. et alii. Taxionomia dos objetivos educacionais - domnio cognitivo. Porto Alegre: Globo, 1972. ___. Taxionomia dos objetivos educacionais - domnio afetivo. Porto Alegre: Globo, 1974. BORDIGNON, Genuno e OLIVEIRA, Luiz S. Macedo de. A Escola Cidad: uma utopia municipalista. Educao Municipal. So Paulo, n. 4, 5-13, mai. 1989. BOSI, Ecla. Problemas ligados cultura das classes pobres. In : VALLE, Ednio e QUEIRZ, Jos J. A cultura do povo. So Paulo: EDUC, 1982, p. 25-34. BOUDON, Raymond. A ideologia ou a origem das idias recebidas. So Paulo: tica, 1989. BRADFIELD, James M. e MOREDOCK, H. Stewart. Medidas e testes em educao. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1963 (2. v.). CAPALBO, Creusa. Ideologia e educao. So Paulo: Convvio, 1978. CECCON, Claudius, OLIVEIRA, Miguel e Rosiska Darcy de. A vida na escola e a escola da vida. 13 ed., Petrpolis: Vozes/IDAC, 1985. CISESKI, ngela Antunes e ROMO, Jos Eustquio. Conselhos de escola: coletivos instituintes da Escola Cidad. In : GADOTTI, Moacir e ROMO, Jos Eustquio (org.). Autonomia da escola : princpios e propostas. So Paulo: IPF/Cortez, 1997, p. 65-74. CHAUI, Marilena. O que ideologia. 5. ed., So Paulo: Brasiliense, 1981. COSTA, Messias. O rendimento escolar no Brasil e a experincia de outros pases. So Paulo: Loyola, 1990. COSTA, Newton. O conhecimento cientfico. So Paulo : Discurso Editorial/ FAPESP, 1997. CUNNINGHAM, William F. Introduo educao. Porto Alegre: Globo, 1960. DALBEN, ngela Imaculada Loureiro de Freitas. Trabalho escolar e conselho de classe. Campinas: Papirus, 1992.
95
DEMO, Pedro. Avaliao qualitativa. So Paulo: Cortez/Autores Associados, 1987 (Col. Polmicas do nosso tempo, 25). ___. Desafios modernos da educao. Petrpolis: Vozes, 1993. ___. Educao e qualidade. Campinas (SP): Papirus, 1994. ___. Avaliao sob olhar propedutico. Campinas: Papirus, 1996. ___. A nova LDB: ranos e avanos. Campinas: Papirus, 1997. DRUCKER, Peter. A sociedade ps-capitalista. So Paulo: Atlas, 1993. DUARTE, Nestor. A ordem privada e a organizao poltica nacional. So Paulo: Nacional, 1966 (col. Brasiliana, v. 172). DURKHEIM, mile. As regras do mtodo sociolgico. 8. ed., So Paulo : Nacional,1977. FAORO, Raymundo. Os donos do poder; formao do patronato poltico brasileiro. 2 ed. (rev. e aum.), Porto Alegre/So Paulo: Globo/EDUSP, 1975, 2 v. FRANCO, Maria Laura e ZIBAS, Dagmar (org.). Final do sculo; desafios da Educao na Amrica Latina. So Paulo: Cortez, 1990. FRANCO, Maria L. P. Barbosa. Pressupostos epistemolgicos da avaliao educacional. In: SOUSA, Clarilza Prado de (org.). Avaliao do rendimento escolar. 2. ed., Campinas (SP): Papirus, 1993, p. 13-26. FREIRE, Paulo. sombra desta mangueira. So Paulo: Olho dgua, 1995A. ___. Ao cultural para a liberdade. 8. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. ___. A educao na cidade. 2. ed., So Paulo: Cortez, 1995B. ___. A importncia do ato de ler. 26. ed., So Paulo:Cortez/Autores Associados, 1991. ___. Cartas a Cristina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. ___. Conscientizao. So Paulo: Cortez e Moraes, 1979A. ___. Educao como prtica da liberdade. 18. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. ___. Educao e Mudana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979B. ___. Educadores de rua: uma abordagem crtica. Bogot: UNICEF, 1989. ___. Extenso ou comunicao? 10. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992A. ___. Pedagogia da autonomia; Saberes necessrios prtica pedaggica. 3. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 (Col. Leitura). ___. Pedagogia da esperana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992B. ___. Pedagogia do oprimido. 10. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. ___. Poltica e educao. So Paulo: Cortez, 1993 (Col. Questes da nossa poca, 23). ___. Professora sim, tia no; cartas a quem ousa ensinar. 7. ed., So Paulo: Olho dgua, 1995C. ___ e BETTO, Frei. Essa escola chamada vida. 6. ed., So Paulo: tica, 1988. ___ et alii . Vivendo e aprendendo; experincias do IDAC em educao popular. 9. ed., So Paulo: Brasiliense,1985. ___ e FAUNDEZ, Antonio. Por uma pedagogia da pergunta. 3. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. ___, GADOTTI, Moacir e GUIMARES, Srgio. Pedagogia: dilogo e conflito. 3. ed., So Paulo: Cortez/Autores Associados, 1989.
96
___ e GUIMARES, Srgio. Aprendendo com a prpria histria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. ___ e MACEDO, Donaldo. Literacy : reading the word and the world. Mass.: Bergin Garvey, 1987. ___ e SHOR, Ira. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. 5. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. FREIRE-MAIA, Newton. A cincia por dentro. Petrpolis: Vozes, 1991. FREUD, Sigmund. Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1948-1968, 3 v. FUNDAO GETLIO VARGAS. Testes e medidas na educao. Rio de Janeiro: FGV/ISOP, 1970. GADOTTI, Moacir. Diversidade cultural e educao para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992a. ___. Escola cidad. So Paulo: Cortez/Autores Associados, 1992b. ___. Escola vivida, escola projetada. Campinas: Papirus, 1992c. ___. Histria das idias pedaggicas. So Paulo: tica, 1993a. ___. Organizao do trabalho na escola. So Paulo: tica, 1993b. ___. Pedagogia da prxis. So Paulo: Cortez, 1995. GHANEM, Elie. Democracia : uma grande escola. So Paulo: Ao Educativa/ UNICEF/Fundao Ford, 1998. GOLDMANN, Lucien. Cincias humanas e filosofia. So Paulo: DIFEL, 1972a. ___. A criao cultural na sociedade moderna. So Paulo: DIFEL, 1972b. ___. Crtica e dogmatismo na cultura moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1973. ___. Dialtica e cincias humanas. Lisboa: Presena, 1972 (v. I e II). ___. pistmologie et philosophie politique. Paris: Denol/Gonthier, 1978. ___. Recherches dialectiques. Paris: Gallimard, 1980. ___. Structures mentales et cration culturelle. Paris: Anthropos, 1970. GRAMSCI, Antonio. Obras escolhidas. So Paulo: Martins Fontes, 1978. HAGUETTE, Andr. A luta pelo ensino bsico. Fortaleza: EUFC, 1990. HAYDT, Regina Cazaux. Avaliao do processo ensino-aprendizagem. So Paulo: tica, 1988. HOFFMANN, Jussara. Avaliao: mito e desafio; uma perspectiva construtivista. 6. ed., Porto Alegre: Educao e Realidade, 1992. ___. Avaliao mediadora ; uma prtica em construo - da pr-escola universidade. 4. ed., Porto Alegre: Educao e Realidade, 1994. IANNI, Octavio. Estado e capitalismo. Rio de Janeiro : Civilizao Brasileira, 1965. ___. Estado e planejamento econmico no Brasil (1930-1970. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1971. LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 3 ed., So Paulo: Alfa-mega, 1975. LIMA, Adriana de Oliveira. Avaliao escolar - julgamento x construo. Petrpolis: Vozes, 1994. LWY, Michel. As aventuras de Karl Marx contra o Baro de Mnchhausen. So Paulo: Busca Vida, 1987. LUCKESI, Cipriano C. Avaliao da aprendizagem escolar. So Paulo: Cortez,
97
1995. LDKE, Menga e MEDIANO, Llia (coord.). Avaliao na escola de 1. grau; uma anlise sociolgica. Campinas: Papirus, 1992. MARTINS, Octavio. A medida em psicologia e em educao. In : FUNDAO GETLIO VARGAS/ISOP. Testes e medidas na educao. Rio de Janeiro: FGV/ISOP, 1970, p. 1-22). MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. 2. ed., Rio de Janeiro: Zahar, 1972. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alem. 3. ed., Lisboa/So Paulo: Presena/Martins Fontes, s/d. MEC. Acordo Nacional (Plano Decenal de Educao para Todos). Braslia: MEC, 1994. MELLO, Guiomar Namo de. Magistrio de 1. grau; da competncia tcnica ao compromisso Poltico. So Paulo: Cortez/Autores Associados, 1982. ___. Cidadania e competitividade; desafios educacionais do terceiro milnio. So Paulo: Cortez, 1993. MinC/IPHAN. O difcil espelho. Rio de Janeiro: IPHAN/DEPRON, 1996. NOVAES, Maria Eliana. Professora primria : Mestra ou tia. So Paulo/ Campinas: Cortez/Autores Associados,1984. PARO, Vitor Henrique. Gesto democrtica da escola pblica. So Paulo: tica, 1997. PPGE-UFES. Avaliao educacional; necessidades e tendncias. Vitria: PPGEUFES, 1984. PRAIS, Maria de Lourdes Melo. Administrao colegiada na escola pblica. Campinas: Papirus, 1990. PRLOT, Marcel. Histoire des ides politiques. Paris: Dalloz, 1970. QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local na vida poltica brasileira e outros ensaios. So Paulo: Alfa-mega, 1976. RIBEIRO, Darcy. Tipologia Poltica Latino-Americana. Revista Contexto. So Paulo, n. 2, p. 15-35, mar. 1977. RICOEUR, Paul. Interpretao e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. ROMO, Jos Eustquio. Alfabetizar para libertar. In : GADOTTI, Moacir e TORRES, Carlos A. (org.). Educao popular - utopia latino-americana. So Paulo: Cortez/ EDUSP, 1994. ___. Avaliao qualitativa. Juiz de Fora: Prefeitura de Juiz de Fora/SME, 1984. ___. Materialismo Dialtico e Psicanlise. In: Educao e Sociedade. So Paulo, Cortez, n. 17, abr. 1984, p. 106-113. ___. Dialtica da diferena : o Projeto da Escola Cidad frente ao projeto pedaggico neoliberal. Tese de doutoramento apresentada na Faculdade de Educao da Universidade de So Paulo em 18 de novembro de 1997. ___ e GADOTTI, Moacir (org.). Municpio e educao. Braslia/So Paulo: IDEM /IPF/Cortez, 1993. SANDER, Benno. Consenso e conflito - perspectivas analticas na pedagogia e na administrao da educao. Niteri/So Paulo: UFF/Pioneira, 1984. ___. Gesto da educao na Amrica Latina. So Paulo: Autores Associados, 1995.
98
___. Sistemas na educao brasileira. Niteri/So Paulo: UFF/Saraiva, 1985. SAES, Dcio. A formao do Estado Burgus no Brasil (1888-1891). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. SANTANNA, Ilza Martins. Por que avaliar? Como avaliar? Petrpolis: Vozes, 1995. SAUL, Ana Maria. Avaliao emancipatria ; desafio teoria e prtica de avaliao e reformulao de currculo. 2. ed., So Paulo: Cortez/Autores Associados, 1991. SCHWARZ, Roberto. Um livro audacioso. In : KURZ, Robert. O colapso da modernizao. 2 ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. SERVIER, Jean. L'idologie. Paris: P.U.F., 1982. SILVA, Cres Santos da. Medidas e avaliao em educao. Petrpolis: Vozes, 1992. SIMPSON, Ray H. La Autoevaluacin del maestro. Buenos Aires: Paids, 1967. SNYDERS, Georges. A alegria na escola. So Paulo: Manole, 1988. ___. Alunos felizes; reflexes sobre a alegria na escola a partir de textos literrios. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. SOBRIO, Encarnacin. Ideologia e educao; reflexes tericas e propostas metodolgicas. So Paulo: Cortez/Autores Associados, 1986. SOUSA, Clarilza Prado de (org.). Avaliao do rendimento escolar. 2. ed., Campinas: Papirus, 1993. SOUSA, Sandra Zkia Lian. Revisando a teoria da avaliao da aprendizagem. In: SOUSA, Clarilza Prado de (org.). Avaliao do rendimento escolar. 2. ed., Campinas: Papirus, 1993. UNIVERSIDADE DE BIRMINGHAM/Centre for Contemporary Studies (org.). Da ideologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. VALLE, Ednio e QUEIRZ, Jos J. (org.). A cultura do povo. So Paulo: EDUC, 1982. VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliao - concepo dialtica-libertadora do processo de avaliao escolar. 4. ed., So Paulo: Libertad, 1994 (Cadernos Pedaggicos do Libertad, v. 3). VEIGA, Ilma Passos A. Projeto poltico-pedaggico da escola : uma construo possvel. 3. ed., Campinas; Papirus, 1997. VERN, Eliseo (dir.). El proceso ideolgico. 2. ed., Buenos Aires : Tiempo Contemporneo, 1973. ___. Ideologia, estrutura e comunicao. So Paulo: Cultrix, 1970. VILLORO, Luis. El concepto de ideologa. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1985. VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. So Paulo: Brasiliense, 1987. WAISELFISZ, Jacobo. Sistemas de avaliao do desempenho escolar e polticas pblicas. Ensaio. Rio de Janeiro, Fundao Cesgranrio, v. 1, n. 1, out-dez 1993, p. 5-22. ZEITLIN, Irving. Ideologa y teora sociolgica. 2. ed., Buenos Aires, Amorrortu, 1973.
Você também pode gostar
- Supervisão Escolar Avanços de ConceitosDocumento47 páginasSupervisão Escolar Avanços de ConceitosJussara Dos Reis100% (3)
- Apostila - BambuDocumento20 páginasApostila - Bambuapi-3704111100% (3)
- Por Que Avaliar - Como Avaliar - Sant'AnnaDocumento11 páginasPor Que Avaliar - Como Avaliar - Sant'Annajoilson100% (4)
- Avaliação das aprendizagens, para as aprendizagens e como aprendizagem: Obra pedagógica do professorNo EverandAvaliação das aprendizagens, para as aprendizagens e como aprendizagem: Obra pedagógica do professorAinda não há avaliações
- O estágio supervisionado na formação do professor: das ciências das religiões ao ensino religiosoNo EverandO estágio supervisionado na formação do professor: das ciências das religiões ao ensino religiosoAinda não há avaliações
- Aspectos Filosóficos PDFDocumento66 páginasAspectos Filosóficos PDFAndré VilelaAinda não há avaliações
- Citações Por Que Avaliar Como AvaliarDocumento11 páginasCitações Por Que Avaliar Como AvaliarJacqueline França100% (2)
- O ato pedagógico: planejar, executar, avaliarNo EverandO ato pedagógico: planejar, executar, avaliarAinda não há avaliações
- Motivação no ensino médio: orientação dos alunos pelas metas de realizaçãoNo EverandMotivação no ensino médio: orientação dos alunos pelas metas de realizaçãoAinda não há avaliações
- Recomposição Da AprendizagemDocumento39 páginasRecomposição Da AprendizagemLindalva AlvesAinda não há avaliações
- TCC SLIDEs ProntosDocumento13 páginasTCC SLIDEs ProntosSheila Souza50% (4)
- Efeito Retroativo de Avaliação Externa no Contexto da Educação Básica: causas, dimensões e possibilidades didáticasNo EverandEfeito Retroativo de Avaliação Externa no Contexto da Educação Básica: causas, dimensões e possibilidades didáticasAinda não há avaliações
- Psicologia e Currículo - César CollDocumento7 páginasPsicologia e Currículo - César CollAdriana Miranda Oliveira100% (4)
- WEIZS, Telma - As Contribuições Da Psicogênese Da Língua EscritaDocumento8 páginasWEIZS, Telma - As Contribuições Da Psicogênese Da Língua Escritaluferraz13Ainda não há avaliações
- Apostila de Supervisão e Orientação EscolarDocumento85 páginasApostila de Supervisão e Orientação EscolarAna Paula Brito83% (6)
- Telecurso 2000 - Física Gabarito 01 A 21Documento22 páginasTelecurso 2000 - Física Gabarito 01 A 21Fisica TC100% (1)
- Uma Visão Reflexiva Da Proposta de Alfabetização e LetramentoDocumento28 páginasUma Visão Reflexiva Da Proposta de Alfabetização e LetramentoSilvana Verciano75% (4)
- Resenha de Textos Sobre Currículo Escolar e Políticas CurricularesDocumento21 páginasResenha de Textos Sobre Currículo Escolar e Políticas Curricularesritasilveira100% (4)
- Doenças Ocupacionais - SlidesDocumento35 páginasDoenças Ocupacionais - SlidesManoela Nascente100% (1)
- A Importância Da Poupança e Do Investimento para A EconomiaDocumento3 páginasA Importância Da Poupança e Do Investimento para A EconomiaAlcina MoreiraAinda não há avaliações
- Apostila Avaliacao Escolar Pesquisa e Pratica IVDocumento43 páginasApostila Avaliacao Escolar Pesquisa e Pratica IVAlice Moura100% (1)
- Como Funciona A Cadeia de SuprimentosDocumento17 páginasComo Funciona A Cadeia de Suprimentoscarlosrodrigoc0% (1)
- Rosita Edler Carvalho A Nova LDB e A Educacao EspecialDocumento43 páginasRosita Edler Carvalho A Nova LDB e A Educacao EspecialSamuel ReisAinda não há avaliações
- O homem da pós-modernidade: A literatura em reuniãoNo EverandO homem da pós-modernidade: A literatura em reuniãoAinda não há avaliações
- O aluno incluído na educação básica: Avaliação e permanênciaNo EverandO aluno incluído na educação básica: Avaliação e permanênciaAinda não há avaliações
- Perrenoud Habitus Na Formacao de ProfessoresDocumento26 páginasPerrenoud Habitus Na Formacao de ProfessoresClaudemir Mazucheli50% (2)
- O Feminismo Decolonial de Maria LugonesDocumento16 páginasO Feminismo Decolonial de Maria LugonesGF GabryAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Alfabetização e Métodos de Alfabetização - Com GabaritoDocumento16 páginasExercícios Sobre Alfabetização e Métodos de Alfabetização - Com GabaritoLuana PortoAinda não há avaliações
- SEDF Orientações Pedagógicas - Projeto Político-Pedagógico PDFDocumento44 páginasSEDF Orientações Pedagógicas - Projeto Político-Pedagógico PDFusernameaboutAinda não há avaliações
- LA Pós Ocidental - Desejo Da Teoria - PennycookDocumento36 páginasLA Pós Ocidental - Desejo Da Teoria - Pennycookbolmna100% (1)
- Estrutura e Funcionamento Do Ensino - Carlos Da Fonseca BrandãoDocumento11 páginasEstrutura e Funcionamento Do Ensino - Carlos Da Fonseca Brandãobarbaraoliveira50% (2)
- YUSUF, Bibi Bakare. Além Do Determinismo - A Fenomenologia Da Existência Feminina AfricanaDocumento17 páginasYUSUF, Bibi Bakare. Além Do Determinismo - A Fenomenologia Da Existência Feminina AfricanaLucas SantosAinda não há avaliações
- Roseli Caldart, 2007 Educação No CampoDocumento9 páginasRoseli Caldart, 2007 Educação No CampoKarine Santos100% (1)
- Entrevista Com Cipriano Carlos LuckesiDocumento4 páginasEntrevista Com Cipriano Carlos LuckesiLauraLemosAinda não há avaliações
- Slides Do CurrículoDocumento33 páginasSlides Do CurrículoSandra M.Ainda não há avaliações
- Resumo Aula Nota 10 Doug LemovDocumento2 páginasResumo Aula Nota 10 Doug LemovCarol Sauer100% (1)
- Relatório Estágio I Vrs - 2016 - 1Documento5 páginasRelatório Estágio I Vrs - 2016 - 1Fábio Priscila OliveiraAinda não há avaliações
- Alfabetização e Letramento Na Sala de Aula RESENHADocumento3 páginasAlfabetização e Letramento Na Sala de Aula RESENHAVERUSCHKA SILVA VIANAAinda não há avaliações
- Artigo - O Que É Ser Professor Hoje (Isabel Alarcão)Documento2 páginasArtigo - O Que É Ser Professor Hoje (Isabel Alarcão)Julia BuenoAinda não há avaliações
- Resumo, Muito Além Da GramáticaDocumento2 páginasResumo, Muito Além Da GramáticaFelipe Salluzio80% (5)
- Experiência de Leitura Por AndaimeDocumento19 páginasExperiência de Leitura Por AndaimeGeanilton FerreiraAinda não há avaliações
- Aspectos Que Determinam Uma Boa Situação de Aprendizagem PDFDocumento4 páginasAspectos Que Determinam Uma Boa Situação de Aprendizagem PDFsolangedemartini2100% (1)
- Tendências Pedagógicas No Brasil e A DidáticaDocumento3 páginasTendências Pedagógicas No Brasil e A DidáticaGracielle Santana100% (1)
- Luckesi ResenhaDocumento3 páginasLuckesi ResenhaMagna RamosAinda não há avaliações
- A Leitura em QuestãoDocumento8 páginasA Leitura em QuestãoJaqueline Fernandes da Silva100% (1)
- Como Gerenciar o Espaço Físico e o Patrimônio Da EscolaDocumento2 páginasComo Gerenciar o Espaço Físico e o Patrimônio Da EscolafuinhasoaresAinda não há avaliações
- A Questão Da Avaliação É Complexa e Muito PolêmicaDocumento3 páginasA Questão Da Avaliação É Complexa e Muito PolêmicaHelloisa CircelliAinda não há avaliações
- Letramento e AlfabetizaçãoDocumento14 páginasLetramento e AlfabetizaçãoRenato OliveiraAinda não há avaliações
- Entrevista Sobre A BNCCDocumento10 páginasEntrevista Sobre A BNCCPetiscos PokeAinda não há avaliações
- Caminhos Pedagógicos Da InclusãoDocumento10 páginasCaminhos Pedagógicos Da InclusãoEdivania TenórioAinda não há avaliações
- Fomos Maus Alunos, ResenhaDocumento2 páginasFomos Maus Alunos, ResenhaLuís Caetano100% (1)
- (Educacao) - Lino de Macedo - Fundamentos para Uma Educacao InclusivaDocumento19 páginas(Educacao) - Lino de Macedo - Fundamentos para Uma Educacao InclusivaMirian LinharesAinda não há avaliações
- Resumo Do Filme Escola Da VidaDocumento4 páginasResumo Do Filme Escola Da VidaEmily ClarkAinda não há avaliações
- Presença PedagógicaDocumento8 páginasPresença PedagógicaEEMTI Antônio BezerraAinda não há avaliações
- Resumo Cap 4 Delia LernerDocumento4 páginasResumo Cap 4 Delia LernerAline ManfioAinda não há avaliações
- Sequência Didática e Ensino de Gêneros TextuaisDocumento2 páginasSequência Didática e Ensino de Gêneros TextuaiscidabrasileiroAinda não há avaliações
- Letra Bastão e CursivaDocumento2 páginasLetra Bastão e CursivaCéllia Gomes100% (1)
- Portfólio Consultoria EducacionalDocumento11 páginasPortfólio Consultoria EducacionalDayane Araújo100% (1)
- Resnha Virtudes Do EducadorDocumento3 páginasResnha Virtudes Do Educadorjaninejesus75% (4)
- 4 Pdal Atividades Estruturantes AlimentadorasDocumento34 páginas4 Pdal Atividades Estruturantes Alimentadorasjosberto_vieira100% (3)
- Instrução Normativa #003.2021Documento14 páginasInstrução Normativa #003.2021Secretaria Pedagogica LubienskaAinda não há avaliações
- Leitura e InterdisciplinaridadeDocumento2 páginasLeitura e Interdisciplinaridadezanza18100% (2)
- RESUMO As Dificuldades Comuns Entre Os Que Pesquisam Educação.Documento5 páginasRESUMO As Dificuldades Comuns Entre Os Que Pesquisam Educação.Daiane SilvaAinda não há avaliações
- 01 - Estagio 2 Letras GisleaneDocumento30 páginas01 - Estagio 2 Letras Gisleanejames_jps8979100% (1)
- Avaliação Institucional Aula 1 A 10Documento121 páginasAvaliação Institucional Aula 1 A 10Beth OliveiraAinda não há avaliações
- O Currículo EscolarDocumento7 páginasO Currículo Escolarapi-2601939293% (30)
- Relatório Económico de Angola 2016Documento288 páginasRelatório Económico de Angola 2016Domingos de Eulária Dumba100% (4)
- Princípios Da Sociologia EconômicaDocumento2 páginasPrincípios Da Sociologia EconômicaFrederico RibeiroAinda não há avaliações
- Desafios Contemporâneos A4Documento4 páginasDesafios Contemporâneos A4Igor FonsecaAinda não há avaliações
- Exame FSPDocumento22 páginasExame FSPEduarda Sousa MendesAinda não há avaliações
- O Pensamento de Mark LillaDocumento8 páginasO Pensamento de Mark Lillaoswaldomarangoni5295Ainda não há avaliações
- Lourenço Carvalho (2016) - Inclusão Digital e CidadaniaDocumento15 páginasLourenço Carvalho (2016) - Inclusão Digital e CidadaniaAndré Luís LourençoAinda não há avaliações
- Aula 4 - Lições Sobre OrganizaçõesDocumento8 páginasAula 4 - Lições Sobre OrganizaçõesjulianoaraujoxAinda não há avaliações
- IdosoDocumento76 páginasIdosoEvanilson de LimaAinda não há avaliações
- Manual Do Sistema I-EngineDocumento14 páginasManual Do Sistema I-EnginegabrielamacAinda não há avaliações
- A Transformação Do Esporte em Espetáculo Televiso 2Documento15 páginasA Transformação Do Esporte em Espetáculo Televiso 2Marina Real SilvaAinda não há avaliações
- 2001 IPEF - A Política Florestal Brasileira. Uma Perspectiva HistóricaDocumento17 páginas2001 IPEF - A Política Florestal Brasileira. Uma Perspectiva HistóricaKilha1Ainda não há avaliações
- Eslp 2 Qgy CDocumento3 páginasEslp 2 Qgy CGUILHERME OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Manuel Moreno Fragnals - Cuba Espanha CubaDocumento7 páginasManuel Moreno Fragnals - Cuba Espanha CubaC.ThrDEAinda não há avaliações
- Micro2 EM Aulas2-5Documento3 páginasMicro2 EM Aulas2-5ritaAinda não há avaliações
- Globalização e Desenvolvimento 11.03.2021Documento5 páginasGlobalização e Desenvolvimento 11.03.2021Adérito JorgeAinda não há avaliações
- Introdução Ao Espaço Geográfico Na Análise EconômicaDocumento42 páginasIntrodução Ao Espaço Geográfico Na Análise EconômicaAlexAinda não há avaliações
- Aula 3 - Elasticidades - VasconcellosDocumento4 páginasAula 3 - Elasticidades - VasconcellosLuis Antonio DrumondAinda não há avaliações
- Prova Conhecimentos Gerais Pse 2016-1-1a FaseDocumento19 páginasProva Conhecimentos Gerais Pse 2016-1-1a FaseluizahodamascenoAinda não há avaliações
- Altus Ciência 2021 - 2Documento377 páginasAltus Ciência 2021 - 2Fabricio Santos NevesAinda não há avaliações
- O Direito Fundamental A Habitacao e o Direito Do Urbanismo PDFDocumento155 páginasO Direito Fundamental A Habitacao e o Direito Do Urbanismo PDFDaniel MuralhasAinda não há avaliações
- Analise Swot A Simplicidade Como EficienciaDocumento11 páginasAnalise Swot A Simplicidade Como EficienciaRael Dill de MelloAinda não há avaliações
- Maria Angelica Motta-Maués, Na Casa Da Mãe, Na Casa Do Pai: Anotações em Torno Da Circulação de CriançasDocumento26 páginasMaria Angelica Motta-Maués, Na Casa Da Mãe, Na Casa Do Pai: Anotações em Torno Da Circulação de CriançasFlávia Slompo PintoAinda não há avaliações
- Matematica Financeira Curso IntensivoDocumento127 páginasMatematica Financeira Curso IntensivoadilsonAinda não há avaliações