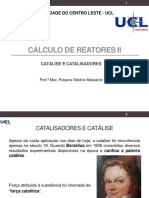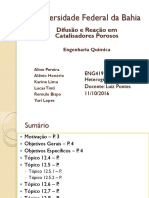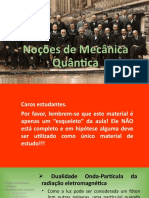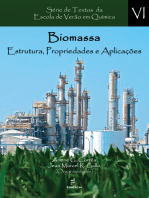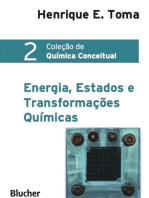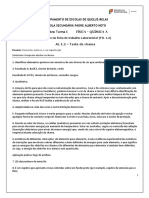Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Catalisadores PDF
Catalisadores PDF
Enviado por
Micheli ZanettiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Catalisadores PDF
Catalisadores PDF
Enviado por
Micheli ZanettiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
INPE-15252-PUD/198
CARACTERIZAO DE MATERIAIS CATALTICOS
Janiciara Botelho Silva Jos Augusto Jorge Rodrigues Maria do Carmo de Andrade Nono
Qualificao de Doutorado do Curso de Ps-Graduao em Engenharia e Tecnologia Espaciais/Cincia e Tecnologia de Materiais e Sensores.
INPE So Jos dos Campos 2008
Publicado por:
esta pgina responsabilidade do SID
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) Gabinete do Diretor (GB) Servio de Informao e Documentao (SID) Caixa Postal 515 CEP 12.245-970 So Jos dos Campos SP Brasil Tel.: (012) 3945-6911 Fax: (012) 3945-6919 E-mail: pubtc@sid.inpe.br
Solicita-se intercmbio We ask for exchange
Publicao Externa permitida sua reproduo para interessados.
INPE-15252-PUD/198
CARACTERIZAO DE MATERIAIS CATALTICOS
Janiciara Botelho Silva Jos Augusto Jorge Rodrigues Maria do Carmo de Andrade Nono
Qualificao de Doutorado do Curso de Ps-Graduao em Engenharia e Tecnologia Espaciais/Cincia e Tecnologia de Materiais e Sensores.
INPE So Jos dos Campos 2008
SUMRIO LISTA DE FIGURAS LISTA DE TABELAS 1. INTRODUO
M
06 06 07 10 11 13 14 15 17 20 20 25 27 29 30 30 35 43 43 50
1.1 Breve Histrico 2. FUNDAMENTOS DE CATALISADOR E CATLISE
M
2.1. Catlise Homognea 2.2. Catlise Heterognea 2.2.1. Importantes consideraes sobre catlise heterognea 2.3. Classificao dos Catalisadores 2.4. Propriedades 3. CARACTERIZAO DE SLIDOS CATALTICOS 3.1. Caracterizao Fsica 3.1.1. Resistncia mecnica 3.1.2. Dimenses dos materiais moldados 3.1.3. Densidade 3.1.4. Distribuio granulomtrica 3.2. Caracterizao Textural 3.1.1. rea especfica 3.1.2. Tamanho e distribuio de poros 3.3. Caracterizao da Superfcie Ativa 3.3.1. Caracterizao trmica 3.3.2. Caracterizao por quimissoro 3.4. Caracterizao da Estrutura Cristalina e do Tamanho das Partculas de Catalisadores e de seus Suportes 3.5. Caracterizao de Catalisadores cidos 3.6. Teste de Avaliao Cataltica 4. CONCLUSO 5. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
53 59 61 63 64
M
LISTA DE FIGURAS
1 - A diminuio da energia de ativao pelo catalisador.............................................. 08 2 - Esquema demonstrativo do mecanismo em catlise heterognea .............................12 3 - Esquema geral da caracterizao de catalisadores.....................................................18 4 - Aparelhagem para determinar resistncia ao atrito de materiais moldados...............22 5 - Esquema de fluidizao .............................................................................................23 6 - Representao da compresso radial e axial .............................................................25 7 - Curvas calculadas a partir da equao de BET para: (a) C =1; (b) C= 11; (c) C = 100; (d) C = 10.000, onde n/ nm equivalente a V/Vm .................................................................................................................................................................................. 34 8 - Isotermas (n versus P/P0) do tipo I ao tipo VI ..........................................................36 9 - Tipos mais freqentes de histereses em isotermas de adsoro e a relao com os formatos do poro: P0 a presso de saturao e P a presso de equilbrio.................................................................................................38 10 - Esquema representando a realizao do vcuo na amostra .....................................40 11 - Esquema representativo do porosimetro de mercrio............................................. 41 12 - Curva TGA do Sulfato de cobre, material considerado padro para averiguar o desempenho de uma termobalana........................................... 43 13 - Anlise termogravimtrica do Zr0,9Nd0,1O1,95 (p amorfo) calcinado previamente 350C por 3horas............................................
...... 45
14 - Diagrama representativo de um cromatgrafo a gs ...............................................46 15 - Perfis de TPR do suporte (Nb2O5) e dos catalisadores monometlicos e bimetlicos ................................................................................................47 16 - Perfis de TPD de H2 aps a reduo (a) 300C e (b) 500C para catalisadores monometlicos e bimetlicos ..........................................................49 17 - Grfico de adsoro de H2 sobre um catalisador.....................................................52 18 - Difratograma de raio X: (a) alumina (b) nibio .....................................................54
19 - Imagens de microscopia eletrnica de varredura (MEV) do processo de sntese e moldagem do suporte do catalisador LCP 33. a) cristalinidade da gibsita, b) mistura da gibsita e bohemita, c) moldagem da alumina e d) aps o processo de fluidizao para atingir a forma esfrica .............................................................................................57 20 - Imagens de microscopia de transmisso (MET) e a distribuio dos tamanhos dos cristalitos metlicos para os sistemas 0,5% Pd/SiO2-C e 0,3% Pd/SiO2-C ..................................................................................58 21 - Esquema das possveis configuraes das hidroxilas..............................................59 22 - Linha para teste cataltico ........................................................................................62
LISTA DE TABELAS
1 - Propriedades fsico-qumicas e alguns mtodos utilizados.......................................20 2 - Dados de dimenso e resistncia mecnica de extrudados de xido de nibio....................................................................................................................26 3 - Resultados de anlise, utilizando a picnometria a hlio............................................ 28 4 - Fraes Obtidas por peneiramento a seco, aps vibrao durante uma hora, em agitador mecnico ......................................................................................30 5 - Principais diferenas entre adsoro fsica e adsoro qumica ................................31 6 - Valores de rea especfica em funo da variao granulomtrica dos extrudados de xido de nibio........................................................................... 35 7 - Resultados obtidos com auxlio da porosimetria de mercrio ..................................42 8 - Resultados obtidos por reduo temperatura programada (TPR) da adsoro de amnia em funo da temperatura de calcinao do xido de nibio ...................................................................................................................61
1 INTRODUO
1.1 Breve Histrico
Na idade mdia a catlise tinha um sentido metafsico e filosfico, como por exemplo, a alquimia, envolvendo a pedra filosofal, cujo poder era transformar materiais comuns em ouro. Mesmo a simples preparao de alguns medicamentos, que ajudavam no restabelecimento de enfermos, era considerada alquimia. Em meados do sculo XVIII, Roebuck comeou a desenvolver o processo da cmara de chumbo para a fabricao de cido sulfrico, a partir da oxidao do dixido de enxofre, na presena de pequenas quantidades de xido de nitrognio. Depois, foi Parmentier quem desenvolveu o processo de sacarificao do amido, por cidos. Esses processos s foram esclarecidos mais tarde, em 1806, por Clement e Desormes, e Doebereiner respectivamente (1). At as descobertas de Lavoisier, relacionadas natureza da combusto e composio da gua, e do aparecimento da teoria atmica de Dalton, no havia nenhuma base cientifica para ajudar a interpretar fenmenos qumicos ou catalticos. Entretanto, foi durante o sculo XIX que o fenmeno cataltico atraiu mais ateno, e, em 1834, foi publicada a primeira patente de catalisadores, a qual empregava platina na oxidao de enxofre a dixido de enxofre. Mas, foi Berzelius quem ressaltou a importncia do catalisador, e da catlise em si, nas reaes qumicas em 1836. Ele observou que certas substncias poderiam induzir atividades qumicas por sua simples presena no meio reacional, e este fenmeno ele denominou catlise (1, 2). Kuhlmann mostrou, em 1839, que a amnia poderia ser oxidada a cido ntrico, utilizando platina como catalisador. Paralelamente a isso, outros trabalhos corroboraram os estudos catalticos, como a descoberta de Pasteur, em 1860, da importncia de microorganismos no processo de fermentao. O desenvolvimento da fsico-qumica e a utilizao de catalisadores na indstria aumentaram o interesse e a importncia da catlise, e, em 1901, Ostwalt definiu um catalisador como: uma substncia que altera a velocidade da reao e no aparece como produto final (1, 2).
A partir disso, comearam as pesquisas pioneiras em catlise. Sabatier descobriu a hidrogenao dos hidrocarbonetos, empregando como catalisador o nquel, e isto foi um dos grandes avanos para a rea cataltica, pois, at ento, acreditava-se que somente metais nobres poderiam ser utilizados como catalisadores. Ipatieff tambm contribui, significativamente, quando introduziu a presso nas reaes para hidrogenao de leos vegetais (2). A partir da descoberta da sntese do amonaco, por Haber e colaboradores, os processos catalticos s aumentaram; nessa poca foi cogitado que processos de adsoro interferiam de alguma forma nas reaes. E, em 1938, um mtodo baseado em isotermas de adsoro de nitrognio, desenvolvido por Brunauer, Emmett e Teller (mtodo BET), representou mais um grande avano (2). A cincia da catlise evolui, consideravelmente, a partir de 1970 com o desenvolvimento de tcnicas analticas como: cromatografia gasosa, tcnica que separa e identifica os diferentes componentes durante uma reao; espectroscopia de emisso e absoro atmica, que quantifica os metais; microscopia eletrnica de transmisso (MET), que analisa atravs das imagens e determina a estrutura e morfologia dos componentes metlicos; difrao de raios X (DRX), que identifica as dimenses das partculas, espectroscopia de absoro de raios X, que determina o local de coordenao, etc. Essas tcnicas contriburam consideravelmente para elucidar um grande nmero de mecanismos reacionais (3). A catlise provocou uma revoluo na indstria, que comeou em 1930 com substituio do carvo pelo petrleo, e atualmente responsvel por cerca de 85% de todos os processos industriais petroqumicos e qumicos nas grandes indstrias. A nvel nacional, cada vez mais, vem mostrando sua importncia, no s na rea petroqumica, como tambm na indstria do refino de petrleo e lcool (2, 4).
2 FUNDAMENTOS DE CATALISADOR E CATLISE
Catalisador uma substncia que, sem ser consumida durante a reao, aumenta a sua velocidade. Isso acontece porque o catalisador utilizado numa etapa inicial, do mecanismo da reao qumica, e regenerado na etapa seguinte. Ele atua, 8
simplesmente, mostrando um mecanismo alternativo para a reao, sendo que, neste a energia de ativao menor que o mecanismo convencional ou no-catalisado. Na Figura 1, pode-se comparar a mesma reao com e sem a presena de catalisador, onde cada mximo de energia potencial apresentado corresponde formao de um complexo ativado (5).
Figura 1 Representao esquemtica do efeito do catalisador na energia de ativao (5).
Ainda, analisando a Figura 1, pode-se verificar que o H da reao s depende da identidade dos reagentes e produtos, ou seja, independe do caminho do mecanismo. No entanto, como pode ser observado, a energia de ativao da reao utilizando catalisador menor (5). 9
Inicialmente, como j foi dito, o preparo de catalisadores era visto como uma alquimia, mas, atualmente essa cincia resulta da juno de conhecimentos em diversas reas, principalmente fsica, matemtica, materiais e qumica (analtica, orgnica, inorgnica e fsico-qumica). Sendo, hoje, uma rea de extrema importncia, e, principalmente, em expanso, logo, poder-se-ia ampliar o termo catalisador para material cataltico, uma vez que seu uso agora no se restringe somente catlise, mas, em outras reas como: sensores de gases, equipamentos eletrnicos, adsorventes, meio ambiente e outras. Qualquer composto qumico pode ter ao cataltica sobre uma ou outra circunstncia. Uma discusso sobre catalisadores requer definio e limitao, e, na teoria cataltica, considerado catalisador somente os materiais que influenciam na velocidade da reao, portanto, calor, luz, eletricidade (ou energia) so excludos (1, 2). Os catalisadores podem ser, primeiramente, classificados em funo de sua superfcie em: catalisadores com e sem superfcies definidas. Catalisadores sem superfcie definida so constitudos de um gs ou um lquido (geralmente viscoso); catalisadores com superfcie definida so slidos, onde a natureza e o valor da rea de superfcie so propriedades importantes, so caractersticas fundamentais da sua atividade, como por exemplo, nquel, alumina, slica-alumina etc (2). Os catalisadores so utilizados nos mais diversos setores industriais (em algumas reaes sua presena crucial), como por exemplo: na qumica bsica para as snteses do cido ntrico e sulfrico; na indstria petroqumica, na sntese de intermedirios qumicos e polimricos; na indstria do refino em reaes de hidrotratamento e craqueamento cataltico e no combate poluio ambiental, reduzindo a emisso de poluentes (NOx, CO e hidrocarbonetos) gerados pela indstria petrolfera e pelos motores combusto. A ao de materiais na velocidade das reaes pode ser tanto positiva como negativa, sendo no segundo de inibidores, uma vez que diminuem a velocidade da reao quando adicionados ao meio. Considera-se tambm uma inibio, quando uma substncia adicionada se combina com o catalisador e o impede de funcionar, tornandoo inativo. Por exemplo, pode ocorrer, quando molculas estranhas ao processo reacional interagem com os stios ativos, bloqueando-os do contato com o substrato. Uma
10
inibio desse tipo muitas vezes chamada de envenenamento e o inibidor de veneno (5). Existem diferentes reaes qumicas dos mais diversos processos industriais. Mas, de modo geral, os catalisadores podem ser classificados em dois tipos: os homogneos e os heterogneos, dependendo das fases envolvidas no processo.
2.1 Catlise Homognea
Na catlise homognea, o catalisador e os reagentes esto presentes na mesma fase. Um exemplo desse processo a oxidao do dixido de enxofre (SO2) a trixido de enxofre (SO3) pelo oxignio, utilizando como catalisador o xido de nitrognio (NO) (5). A equao global : 2SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g)
(1)
Essa mesma reao, quando no catalisada, muito lenta, por ser um mecanismo pouco vivel, j que uma reao trimolecular, ou por uma das etapas da reao apresentar uma energia de ativao muito alta. Uma vez colocado o NO, a velocidade da reao aumenta consideravelmente, seguindo um mecanismo alternativo, como: Etapa 1: O2 (g) + 2NO(g) 2NO2 (g) Etapa 2: (NO2 (g) + SO2 (g) NO (g) + SO3 (g)) x 2
(2)
(3)
A soma destas etapas resulta na equao global original, e a reao ocorre mais rpida do que a sem catalisador. Como vantagens da catlise homognea tm-se: quase todas as molculas de catalisador durante a ao cataltica so utilizadas, possui uma alta seletividade em algumas reaes, e o controle dos parmetros reacionais temperatura e presso so mais fceis.
11
Mas a catlise homognea tambm apresenta desvantagens dentre as quais podemos citar: custos elevados nos procedimentos de separao e recuperao do catalisador, problemas de corroso em algumas reaes que utilizam solventes cidos como catalisadores e a possibilidade de contaminao do produto pelo catalisador ou pelos resduos formados durante o processo (5).
2.2 Catlise Heterognea
Nas reaes catalticas heterogneas, o catalisador, os reagentes e os produtos da reao esto em fases diferentes. Normalmente, ela o resultado da transformao de molculas na interface slido (o catalisador) - fase gasosa ou lquida. Ela comea com a adsoro de uma molcula na superfcie do catalisador. Essa adsoro pode ser relativamente fraca, fenmeno denominado de adsoro fsica ou de van der Waals, ou pode ser mais forte, denominada adsoro qumica ou quimissoro. A diferena entre os dois tipos de adsoro pode ser medida, pois, j foi observado que durante a quimissoro a quantidade de calor liberado maior que na adsoro fsica. A adsoro qumica muito comum na catlise heterognea, e, ela, normalmente, ocorre em determinados stios da superfcie, denominados stios ativos, cuja natureza pode ser complexa, em funo dos defeitos de superfcie existentes no catalisador (5). Como exemplo de uma reao cataltica heterognea, a Figura 2 apresenta de forma esquemtica a hidrogenao do eteno (C2H4) com hidrognio, sendo catalisada na superfcie do nquel metlico (6):
12
Figura 2 - Representao esquemtica de um mecanismo cataltico heterogneo (6).
Na prtica esta uma reao com pouco interesse industrial, pois ela envolve a converso, est sendo convertido um produto extremamente usual (eteno) em um produto no muito importante (etano). Entretanto, a maioria das reaes heterogneas de extrema importncia na indstria, como por exemplo, a hidrogenao de leos vegetais para fabricao de margarinas, que uma reao cataltica heterognea e utiliza tambm o nquel como catalisador (6). A catlise heterognea tambm conhecida por fenmeno de contato, onde a reao se concretiza entre as espcies adsorvidas na 13
superfcie do catalisador em cinco etapas consecutivas, que podem afetar mais ou menos significativamente a velocidade global da reao. As etapas envolvidas so: difuso dos reagentes, adsoro nos stios ativos presentes na superfcie do catalisador, reao qumica, dessoro dos produtos da superfcie e difuso dos produtos. As etapas de difuso so processos fsicos de transferncia das molculas, ocorrendo dos poros para a superfcie e, posteriormente, da superfcie para os poros. As demais etapas so fenmenos qumicos (7). Com relao aos aspectos morfolgicos, os catalisadores heterogneos podem ser de diferentes formas, tais como: pellets cilndricos ou no, pastilhas, esferas, partculas irregulares etc. A catlise heterognea possui algumas vantagens, dentre elas, maior facilidade em separar o catalisador do meio reacional, eliminao dos problemas de corroso e de tratamento de efluentes. Porm, tambm possui algumas desvantagens como a dificuldade em controlar a temperatura para reaes muito exotrmicas e as limitaes de transferncia de massa dos reagentes e produtos, seja na interface das partculas, seja dentro dos poros do catalisador. Mas, mesmo com algumas desvantagens, os catalisadores heterogneos so os mais utilizados na indstria qumica (8).
2.2.1 Importantes consideraes sobre catlise heterognea
A catlise heterognea envolve transformaes de molculas na interface entre um slido (o catalisador) e uma fase gasosa ou lquida que carrega estas molculas. Essas transformaes envolvem uma srie de fenmenos que necessitam de estudos especficos, como, por exemplo: - Qual a constituio do catalisador, interna e superficial, e quais as transformaes que ocorrem durante o processo cataltico (reaes qumicas, mudanas de fase, sinterizao superficial da fase ativa etc). - Qual a modificao da fase gasosa ou lquida (composio, cintica, etc). - Qual a natureza da interface (espcies adsorvidas, tipo de ligao estabelecida pelas espcies com a superfcie do catalisador) (8).
14
Conforme se pode observar, so assuntos completamente interligados e s podem ser esclarecidos com estudos simultneos. Por exemplo, algumas propriedades de uma superfcie slida de um catalisador so melhores determinadas por estudos associados s possveis ligaes moleculares existentes na superfcie. Portanto, invivel um nico mecanismo representar uma reao cataltica. O que se pode fazer so algumas consideraes gerais, tais como (8): - Existncia de foras residuais de superfcie (foras de van der Waals) que contribuem na adsoro fsica; - Foras moleculares (dos lquidos); - Ligaes metlicas (foras de ligaes insaturadas; eltrons); - Foras homopolar (em um nico sentido) em ligaes atmicas; - Foras eletrostticas em ligaes inicas; Conseqentemente, os mecanismos reacionais e as velocidades de reao que ocorrem na superfcie de contato, dependero essencialmente de alguns parmetros, tais como (1): - Natureza das foras insaturadas na superfcie do catalisador; - Natureza das foras reativas dos reagentes e do solvente (se usado); - Adsoro, arranjo espacial, deformao, e, em alguns casos, transformao (isomerizao, craqueamento etc) dos reagentes na superfcie de contato. - Diminuio da energia livre e o calor de formao da reao qumica. - Tempo de contato dos produtos de reao; - Temperatura e presso (em processos gasosos); - Reaes paralelas, ou laterais, ocorrendo.
2.3 Classificao dos Catalisadores
Normalmente, os catalisadores so classificados de acordo com o procedimento de preparao em: catalisadores mssicos e impregnados. Nos catalisadores mssicos o prprio material j a fase ativa, tais como: catalisadores metlicos, constitudos exclusivamente por metais em p, carbetos e nitretos mono ou multimetlicos de elementos de transio.
15
Nos catalisadores impregnados, a fase ativa introduzida, ou fixada, em um slido j desenvolvido por um processo especfico. Por exemplo, um catalisador metlico suportado constitudo por um metal depositado sobre a superfcie de um suporte, normalmente, um xido. O desenvolvimento desse catalisador envolve muitos processos, desde a escolha da fase ativa at o mtodo de formao das partculas precursoras do suporte (9).
2.4 Propriedades
Um catalisador j desenvolvido visando sua aplicao em uma reao especifica, e um bom catalisador tem que reunir algumas propriedades fundamentais e outras consideradas secundrias. Como fundamentais podem ser citadas (7): 1) Atividade uma grande atividade implica diretamente em obter uma velocidade de reao elevada, ou seja, mols de produto formado por volume de catalisador por hora; tambm pode ser expresso como freqncia de rotao (molculas do reagente transformadas por sitio ativo, na unidade de tempo). Normalmente um bom catalisador deve combinar elevadas atividade e produtividade. 2) Seletividade uma boa seletividade permite obter um bom rendimento do produto desejado e impedir a formao dos indesejveis. Ser seletivo direcionar a reao para o mecanismo de interesse e conseguir obter maior quantidade do produto formado, podendo ser expressa em mols de produto desejado por mol de reagente convertido. A alta seletividade reduz o custo de separao, purificao e tratamento dos rejeitos. 3) Estabilidade uma boa estabilidade do catalisador est relacionada com a quantidade de produto qumico processado durante sua vida til. Atualmente, sabe-se que o catalisador permanece inalterado apenas teoricamente, pois, na realidade durante a sua utilizao industrial ocorrem diminuies da atividade e seletividade, ocasionadas pelos seguintes fenmenos: - deposio de coque nos stios ativos dos catalisadores, pela presena de reaes indesejveis, tais como hidrogenao e polimerizao. - ataques aos stios ativos pelos agentes cidos (solubilizao). 16
- ataques aos stios ativos por agentes volteis, como o cloro presente em uma reao de reforma. - recobrimento dos stios metlicos, ocasionado pela mudana da estrutura cristalina do suporte. - adsores progressivas de venenos presentes nas impurezas dos reagentes ou produtos formados.
Como caractersticas secundrias podem-se citar (7): 1) Morfologia as caractersticas morfolgicas externas do catalisador, que so sua forma e sua granulometria, devem atender as necessidades do processo cataltico a que se destina o catalisador preparado. Por exemplo: so recomendados catalisadores esfricos para serem utilizados em um leito turbulento, limitando, assim perdas do material por atrito. J em um leito fixo podem ser utilizados catalisadores na forma de pastilhas, extrudados cilndricos ou esferas, desde que apresentem elevada resistncia mecnica compresso. 2) Resistncia mecnica uma boa resistncia mecnica engloba elevadas resistncias ao atrito, a friabilidade e ao esmagamento, propriedades que permitem ao catalisador resistir, quando no leito cataltico, s diversas aes mecnicas existentes. 3) Estabilidade trmica em algumas reaes endotrmicas ou exotrmicas, uma boa condutividade trmica da massa cataltica permite diminuir o gradiente de temperatura tanto no interior do gro como no leito cataltico, favorecendo as transferncias de calor. 4) Regenerabilidade conforme foi colocado na estabilidade, sabe-se que s teoricamente um catalisador retirado do reator completamente intacto aps o seu tempo de campanha. O processo de regenerao ocorre quando o catalisador torna-se ineficiente, ou seja, perde sua atividade ou sua seletividade. Neste caso, ele precisa ser regenerado, sendo para isto submetido a condies que permitem sua recuperao parcial ou total. 5) Reprodutibilidade uma propriedade que, embora, esteja relacionada com a etapa de preparao do catalisador, somente pode ser avaliada aps as etapas de caracterizao e avaliao cataltica. Uma vez que o preparo de um catalisador envolve vrias etapas e inmeros parmetros, a reprodutibildade de difcil maximizao. 17
6) Preo mesmo que um catalisador possua todas as caractersticas citadas nos itens anteriores, ainda assim, ele precisa ter um custo de produo atrativo industrialmente. O desenvolvimento de catalisadores mais ativos contribui com a reduo dos gastos operacionais. Na maioria dos casos, uma reduo operacional ocasionada pela diminuio de poucos graus em um processo cataltico, representa uma grande economia para a empresa. Conseqentemente, todo o investimento feito em pesquisa por empresas da rea, seja de carter tecnolgico ou acadmico, representa uma grande viso de futuro, uma vez que o conhecimento dos detalhes das caractersticas dos catalisadores to importante para a cincia quanto para a operao eficiente dos processos industriais.
3 CARACTERIZAO DE SLIDOS CATALTICOS
Para se relacionar o desempenho de um catalisador, em uma dada reao, com o mtodo empregado na sua preparao, necessrio obter informaes sobre a sua estrutura. Resumidamente, as caractersticas consideradas essenciais e que devem ser estudadas ou controladas so (8): - suporte rea total, estrutura porosa, estabilidade trmica, estabilidade qumica, estabilidade mecnica, acidez superficial e etc; - disperso e localizao do metal (fase ativa) no suporte avalia a rea metlica, distribuio dos tamanhos dos cristalitos, tamanho e a localizao dos cristalitos, disperso etc. - componente ativo analisa a interao metal-suporte, estados de oxidao, homogeneidade da superfcie. As tcnicas empregadas nessa caracterizao so inmeras, e mesmo em nmero reduzido no h como abordar todas. Por essa razo, neste trabalho sero mencionadas as mais utilizadas nos laboratrios de catlise. A Figura 3 uma tentativa de resumir as vrias caractersticas investigadas em um material cataltico e sugere alguns procedimentos para estudar os slidos catalticos (8). Conhecendo a composio total do slido (quadro 1), o primeiro passo descobrir a 18
natureza da fase (quadro 2), que pode ser determinada juntamente com os estudos do tamanho e forma das partculas de cada fase (quadro 3), e a distribuio das fases dentro do slido (quadro 4). O caminho A, referente natureza das fases (quadro 2), investiga a composio interna do slido, ou seja, como esto agrupados os tomos e como so as fases (amorfa ou cristalina). Essa etapa pode ser caracterizada macroscopicamente pelas estruturas cristalinas ou pela reatividade e ser realizada juntamente com as descries microscpicas (coordenao octadrica, tetradrica etc) e estado qumico (valncia, nvel eletrnico de energia) dos tomos individuais (quadro 5).
Figura 3 Esquema geral da caracterizao de catalisadores (8).
A parte B est relacionada com a natureza da superfcie do slido, e a primeira etapa medir a composio da superfcie (quadro 6), sendo que este estudo tambm est 19
relacionado com a distribuio da composio da superfcie (quadro 4). Os conhecimentos de ambas as composies, interior e superfcie, determinam a disperso das vrias fases que constituem o catalisador, em particular a fase ativa (quadro 7). Na parte B (8), tambm so realizados estudos dos arranjos atmicos, tais como: estrutura cristalina da superfcie (quadro 8), ligaes qumicas feitas e o estado qumico na superfcie atmica (quadro 9). Atualmente, as propriedades das superfcies so mais facilmente determinadas pelos estudos de sua interao com molculas seletivas. Esses estudos tm sido chamados de reatividade de superfcie, incluindo adsoro seletiva (quimissoro) e transformaes qumicas (como reduo temperatura programada). A reatividade da superfcie uma conseqncia direta de tudo o que foi citado acima, mas sua investigao requer mtodos de investigao especficos (quadro 10). Na parte C (8) est mostrada uma srie de caractersticas que so, normalmente, consideradas separadamente, embora elas no sejam completamente independentes das j citadas acima. O primeiro passo medir a rea especfica (quadro 11), estudar a forma e a distribuio dos poros (quadro 12). A prxima etapa o estudo dos stios cidos e bsicos na superfcie (quadro 13), que normalmente requerem conhecimentos prvios da rea especfica. Portanto, a coordenao, o estado qumico e a reatividade da superfcie tm uma forte interao com o suporte e a natureza de cada stio ativo (8). Com o objetivo de facilitar a compreenso desse trabalho, o processo de caracterizao de um material cataltico ser subdivido em grupos de tcnicas que visam anlise: fsica, textural, fase ativa, tamanho das partculas, acidez superficial. Por ltimo, ser apresentada uma pequena abordagem sobre reaes modelos, ou seja, os chamados testes catalticos que so realizados com a finalidade de confirmar resultados obtidos na caracterizao e, finalmente, homologar o material cataltico. A Tabela 1 apresenta alguns mtodos utilizados no estudo das propriedades fsico-qumicas de materiais catalticos (7).
20
Tabela 1 Propriedades fsico-qumicas e alguns mtodos utilizados.
Propriedades 1 Composio qumica elementar
Mtodos de Medidas Mtodos qumicos clssicos, fluorescncia de raio X, espectrometria de emisso, adsoro atmica, espectrometria de chama. Difrao de raios X, difrao de eltrons,
2 Natureza e estrutura cristalina das composies qumicas dos catalisadores.
ressonncia paramagntica eletrnica, ressonncia magntica nuclear, espectrometria de infravermelho, espectrometria Raman, espectroscopia ultra violeta e visvel, mtodos magnticos, anlise
termogravimtrica, anlise trmica diferencial. 3 Textura do catalisador e do suporte (rea especfica, volume e distribuio do tamanho de poros) Mtodo BET, porosimtria, quimissoro, difrao de raio X, microscopia eletrnica de varredura, microscopia eletrnica de transmisso, mtodos magnticos, eletrnica. Cintica da quimissoro, calorimetria (calor de 4 - Superfcie ativa adsoro), ressonncia paramagntica eletrnica, espectroscopia de infravermelho. 5 Propriedades eletrnicas Ressonncia paramagntica eletrnica, mtodos qumicos, microssonda
condutividade e semi-condutidade.
3.1 Caracterizao Fsica
3.1.1 Resistncia mecnica
Os experimentos de resistncia mecnica so importantes porque identificam a tendncia que alguns slidos tm de formar ps durante seu transporte ou utilizao. Os
21
valores absolutos obtidos so comparados com os valores de materiais tidos como referncia (10). importante a realizao desse experimento porque ele reproduz o mecanismo de quebra das partculas do slido, seja ela causada por coliso entre as partculas, ou por impacto e abraso delas sobre as paredes do reator, ou das linhas de transporte do slido. Em funo dos resultados obtidos, decide-se se o material pode ou no ser utilizado industrialmente. A resistncia pode ser: ao atrito de ps, ao atrito e abraso de pastilhas, ao atrito por fluxo de ar de pastilhas, compresso do leito de pastilhas e compresso individual de pastilhas. - Na resistncia ao atrito de ps o objetivo tentar reproduzir o que ocorre com o catalisador durante as operaes industriais. Esse experimento representa o mecanismo de quebra das partculas de um slido, seja por coliso entre as partculas, seja por impacto das mesmas sobre as paredes do reator e linhas de transporte. Para isso, a amostra submetida a uma etapa de fluidizao intensa, com auxlio de um fluxo intenso e constante. Aps determinados perodos de operao, o p fino removido da zona de atrito e coletado em cartuchos extratores pesado. Os resultados obtidos so, em geral, comparados com um material de referncia (10). - A resistncia ao atrito e abraso de materiais moldados uma medida da tendncia do slido em produzir finos, ao ser requisitado mecanicamente em operaes de transporte, carga de reatores, operaes e outras formas de manuseio. A resistncia determinada da seguinte forma: o material slido submetido a um movimento de rotao em um cilindro provido de chicana, durante um tempo pr-determinado (Figura 4). Os finos, produzidos pelo atrito ou abraso durante o ensaio, so quantificados aps peneirao e o resultado expresso em termos percentuais (10).
22
Figura 4 Dispositivo empregado na determinao das resistncias ao atrito e a friabilidade de materiais moldados (10).
- Na resistncia ao atrito por fluxo de ar em materiais moldados, o resultado atravs do movimento turbulento das partculas do material, mantido por um fluxo de ar (Figura 5) (11). O resultado desse mtodo, expresso em porcentagem de finos gerados, em relao massa de amostra inicial e fornece uma medida relativa da tendncia do material de produzir finos ao ser solicitado, mecanicamente, em algumas operaes, como transporte e carga de reatores.
23
Figura 5 Representao esquemtica do sistema de fluidizao empregado para aluminas (11).
- A resistncia mecnica compresso do leito em materiais moldados determina a presso capaz de formar uma quantidade de finos correspondente a 0,5 % em peso da amostra de slida. Simulando as condies de slidos no leito do reator, as medidas so realizadas em funo de finos gerados pelo esmagamento (10).
- A resistncia mecnica compresso individual em materiais moldados: cilndricas, esfricas e extrudadas so determinadas, submetendo esses materiais moldados (mdia de 25 a 50 pastilhas) a uma compreenso individual entre duas placas paralelas, com velocidade de aplicao de carga constante, necessria para fraturar ou esmagar as mesmas (Figura 6). O resultado das anlises dado em quilograma fora
24
(kgf ou N), como uma mdia dos valores obtidos para o conjunto de materiais moldados analisados, conforme demonstrado nas equaes abaixo (10):
Xi X i S= 1 n
1/ 2
(4)
Sendo:
X =
i
Xi n
(5)
onde:
= resistncia mdia compresso dos materiais moldados;
X i = somatrio das resistncias compresso;
n = nmero total de materiais moldados submetidas ao ensaio;
S = desvio padro das n medidas;
(X i X ) = somatrio dos quadrados dos desvios das n medidas em relao
2
mdia.
25
Figura 6 Representao da compresso radial e axial submetidas pelos catalisadores e seus precursores (10).
3.1.2 Dimenses dos materiais moldados
Determinar a dimenso de um slido ajuda a avaliar a reprodutibilidade e a conformao do mtodo escolhido para a moldagem do catalisador. Os mtodos utilizados em geral so simples e no necessitam de equipamentos com alta tecnologia (10). Como exemplo, pode-se citar as medidas realizadas com um paqumetro, onde se determina dimenso mdia do dimetro e do comprimento de catalisadores e suportes cilndricos, atravs das medidas de cada cilindro que constitui a amostra. Alm das dimenses mdias, tambm se pode calcular os desvios mdios padro (Tabela 2).
26
Tabela 2 Dados de dimenso e resistncia mecnica de extrudados de xido de nibio.
27
3.1.3 Densidade
A densidade definida como sendo a razo entre massa e volume de uma substncia. Para materiais homogneos ela constante. No entanto, para materiais heterogneos ou porosos a determinao desta propriedade mais complexa, envolvendo os conceitos de densidade real e densidade aparente. Quando se estuda um material poroso, deve-se atentar que ele constitudo do slido propriamente dito volume real - e de poros volume de poros - que so os vazios entre os aglomerados de partculas, sejam elas primrias, secundrias ou tercirias, que formam a sua estrutura (10, 12). Esses vazios ocupam parte do volume total do slido poroso, sendo sua avaliao determinada pela equao 6:
Vreal = Vtotal Vporos
(6)
Assumindo uma abordagem simples, pode-se considerar que existem dois tipos diferentes de formao porosa: o primeiro formado pelos espaos existentes entre as partculas primrias de um slido e quando elas esto ligadas pela ao de foras de superfcie, formando aglomerados, so denominadas partculas secundrias. O segundo tipo de porosidade formado quando uma parte do slido removida, seja por um processo de solubilizao parcial do slido, reaes com formao e permeao de gases ou, pela separao de fases durante o processo de sntese (12). A diferena entre a densidade real e a aparente, que a densidade aparente uma caracterstica do leito de slidos (leito cataltico), e obtida pela razo entre a massa do slido e o volume total ocupado pelo slido. J na densidade real, no se considera o volume relacionado aos espaos vazios inter e intrapartculas. Esses esclarecimentos so importantes, pois as medidas de densidade definem de certa forma, a massa de slido que ser utilizada num reator industrial (10,12). Para medir a densidade real no caso de um material poroso, utiliza-se a picnometria a hlio (Tabela 3), uma vez que este gs, durante a anlise ocupa todos os poros existentes no material, exceto aqueles que se encontram bloqueados.
28
Tabela 3 Resultados de uma anlise, utilizando a picnometria a hlio.
29
3.1.4 Distribuio granulomtrica
A anlise granulomtrica determina, em escala macroscpica, a distribuio relativa do tamanho das partculas dos materiais que se apresentem na forma de p ou gros. Existem diferentes mtodos para se estudar essa distribuio de tamanho de partculas, dependendo de suas dimenses, sendo que, quanto menor for a partcula, mais complexa a tcnica utilizada. Logo, a escolha do mtodo de peneiramento de acordo com as propriedades do material e as necessidades do processo. Quando se utiliza reator de leito cataltico, a granulometria do catalisador de fundamental importncia, pois o tamanho da partcula tem implicaes diretas nas condies operacionais. Alm disso, a determinao granulomtrica de ps muito importante para a confeco de pastilhas ou extrudados de catalisadores, pois, dependendo do resultado, tem-se ou no uma resistncia mecnica satisfatria (10). Uma tcnica simples de determinao da distribuio granulomtrica de materiais em p ou de partculas a peneirao a seco. Nela, a amostra submetida vibrao, durante certo tempo, em um conjunto de peneiras de aberturas previamente escolhidas em funo do material, empregando para essa finalidade um agitador mecnico. Depois da etapa de vibrao, a frao retida em cada peneira devidamente pesada, e calcula-se a porcentagem cumulativa do material que restou em cada peneira. Esse mtodo indicado para materiais que no apresentam tendncia aglomerao, quando submetidos agitao, e para os que apresentam, recomenda-se a utilizao do mtodo de peneirao a mido (10). A Tabela 4 apresenta um exemplo de peneirao a seco. Neste exemplo, o material utilizado foi o Pural SB (hidrxido de alumnio), com massa inicial de 195,67 g submetido vibrao em um agitador mecnico por uma hora.
30
Tabela 4 Fraes obtidas por peneiramento a seco, aps vibrao durante 1 hora, em agitador mecnico.
Peneiras (mm) Massa retida (g) Porcentagem % 1,27 0,65 < 0,150 7,01 3,58 < 0,105 2,89 1,48 < 0,088 20,06 10,35 < 0,074 Mfinal 161,42 82,49 3.2 Caracterizao Textural
Descrevem-se a seguir as propriedades texturais mais importantes de materiais catalticos e de seus precursores.
3.2.1 rea especfica
A rea especfica, ou rea de superfcie total do slido por unidade de massa, o parmetro crucial a ser determinado, pois nela que toda reao se processa. Para um catalisador, quanto maior for a superfcie disponvel para os reagentes maior ser a converso dos produtos, caso fenmenos difusivos no estejam envolvidos. Na pratica, o catalisador no possui sua superfcie energeticamente homognea, ou seja, com todos os seus stios de adsoro equivalentes e com a mesma quantidade de energia para interagir com as molculas do reagente. Se fosse completamente homognea, a rea especfica seria diretamente proporcional a atividade do catalisador, mas, mesmo com superfcie heterogneas, h casos em que a rea proporcional a superfcie (1, 10). Um dos mtodos mais comuns de determinao da rea especfica de um slido se baseia na determinao da quantidade necessria de um adsorvato para formar uma monocamada sobre a superfcie a ser medida (13). Os adsorvatos normalmente utilizados para esse fim so gases, portanto, necessrio o estudo da interao entre o gs e o slido no processo de adsoro (12). Quando um slido exposto a um gs ou vapor em um sistema fechado temperatura constante, o slido passa a adsorver o gs, ocorrendo assim um aumento da massa do slido e um decrscimo da presso do gs. Aps um determinado tempo, a 31
massa do slido e a presso do gs assumem um valor constante. A quantidade de gs adsorvida pode ser calculada pela diminuio da presso por meio da aplicao das leis dos gases ou pela massa de gs adsorvida pelo slido. A quantidade de gs adsorvida funo da interao entre o gs e o slido, sendo, portanto, dependente da natureza dessas espcies. O processo de adsoro pode ser classificado como um processo fsico ou qumico, dependendo do tipo de fora envolvida: a adsoro fsica, tambm denominada adsoro de van der Waals, causada por foras de interao entre as molculas. A adsoro qumica ou quimissoro envolve interaes especficas entre o adsorvente e o adsorvato com energia quase to alta quanto de formao de ligaes qumicas. A Tabela 5 apresenta as principais diferenas entre adsoro fsica qumica (12).
Tabela 5 Principais diferenas entre adsoro fsica e adsoro qumica.
Adsoro Fsica Causada por foras de van der Waals. No h transferncia de eltrons.
Adsoro Qumica Causada por foras eletrostticas e ligaes covalentes. H transferncia de eltrons.
Calor de adsoro varia de 2 a 6 Calor de adsoro de 10 a 200 Kcal/mol. Kcal/mol. Fenmeno geral para qualquer espcie. Fenmeno especfico e seletivo. A camada adsorvida pode ser removida A camada adsorvida s removida por por aplicao de vcuo temperatura aplicao de vcuo e aquecimento a de adsoro. temperatura acima da de adsoro. Formao de multicamadas abaixo da Somente h temperatura crtica. monocamadas. Acontece somente abaixo temperatura crtica. Lenta ou rpida. Adsorvente quase no afetado. Instantnea. Adsorvente altamente modificado na superfcie. formao de
da Acontece tambm a altas temperaturas.
32
De acordo com esta classificao, os adsorventes e adsorvatos foram divididos em grupos, que associados, levam a um tipo ou outro de adsoro. Dentre os adsorventes mais comuns, o nitrognio e o argnio so os mais usados em estudos de adsoro, pois apresentam sempre adsoro no-especfica com qualquer tipo de slido (12). Quando o estudo do fenmeno de adsoro feito com o objetivo de se obter informaes sobre a rea especfica e a estrutura porosa de um slido, a construo de uma isoterma de adsoro de fundamental importncia, pois sua forma revela detalhes sobre as caractersticas do material. A isoterma mostra a relao entre a quantidade molar de gs n adsorvida ou dessorvida por um slido, a uma temperatura constante, em funo da presso do gs. Por conveno, costuma-se expressar a quantidade de gs adsorvida pelo seu volume Va em condio padro de temperatura e presso (0C e 760 torr), enquanto que, a presso expressa pela presso relativa P/P0, ou seja, a relao entre a presso de trabalho e a presso de vapor do gs na temperatura utilizada (1, 2, 12). A primeira teoria que relaciona a quantidade de gs adsorvida com a presso de equilbrio do gs foi proposta por Langmuir em 1918. O fenmeno de adsoro em si atribudo coliso no-elstica entre as molculas do gs e a superfcie do slido, isto permite a formao da monocamada por um intervalo de tempo limitado pelo retorno do adsorvato fase gasosa. Langmuir ainda considerou a possibilidade da formao de camadas mltiplas atravs do mecanismo de evaporao e condensao, porm a equao para a isoterma por ele derivada era muito complexa (12). Na dcada de 30 (em 1938), Brunauer, Emmett e Teller desenvolveram uma equao para a adsoro de gases em multicamadas na superfcie de slidos. A equao, denominada BET se baseia na hiptese de que as foras responsveis pela condensao do gs so tambm responsveis pela atrao de vrias molculas para a formao de multicamadas. Brunauer, Emmett e Teller generalizaram a equao de Langmuir, considerando que a velocidade de condensao das molculas da fase gasosa sobre a primeira camada igual velocidade de evaporao da segunda camada, ou seja:
33
a2PA1=b2A2exp(-Q2/RT) onde: P = presso;
(7)
A1 e A2 = rea coberta por 1 e 2 camadas de molculas de gs, respectivamente; Q2 = calor de adsoro da segunda camada; a2 = 1 / (2mT)1/2 (constante); b2 = 1/ (constante) (12); Em princpio, cada camada tem valores prprios para parmetros como a e Q, fazendo algumas aproximaes e, assumindo, que: (a) em todas as camadas exceto na primeira, o calor de adsoro (Q2, Q3....Qn) igual ao calor molar de condensao (QL); (b) as condies de evaporao e condensao so idnticas, isto , b2/a2 = b3/a3 = .... = bn/an em camadas subseqentes a primeira e (c) quando P = P0 (presso de saturao do vapor da temperatura de adsoro), o nmero de camadas infinito. Finalmente, se obtm ento a equao de BET (1, 7 e 10):
(C 1) P P 1 = + . V (P0 P ) CVm CVm P0
onde: V = volume de N2 adsorvido presso parcial P/P0; Vm = volume de N2 para cobrir o adsorvato com uma monocamada; P0 = presso de saturao do N2 lquido;
(8)
C = uma constante na qual aja a energia de condensao (C=exp ((Q1 QL)/RT). O grfico de P/V(P0 P) versus P/P0 d origem a uma reta de coeficiente angular igual a (C-1)/CVm e coeficiente linear igual a 1/CVm. Quanto maior for o valor de C, mais pronunciada ser a curvatura na primeira regio da curva, o que torna mais fcil a determinao do valor de Vm, pois, a parte reta da curva mais facilmente encontrada. A Figura 7 mostra que, quando C exerce o valor 2, a curva passa a apresentar um ponto de inflexo, que se aproxima do ponto onde a quantidade de gs adsorvida igual capacidade da monocamada dada pela equao de BET. Altos valores de C podem ser
34
obtidos, quando o nitrognio utilizado como adsorvente, o que leva a preferncia da utilizao deste gs para a maioria dos slidos (12).
Figura 7 Curvas calculadas a partir da equao de BET para: (a) C =1; (b) C= 11; (c) C = 100; (d) C = 10.000, onde n/ n equivalente a V/Vm (12).
Considerando que C seja muito maior que 1, o termo 1/CVm aproxima-se de zero e (C-1) pode ser considerado igual a C. A equao de BET assume, portanto, a forma aproximada da equao 07 denominada relao de um ponto (single point). Por meio dessa relao, pode-se construir uma reta de origem (0,0) e inclinao 1/Vm, conhecendo-se apenas um nico ponto. A utilizao da forma aproximada da equao de BET avaliada, considerando-se a aceitao do erro a ela associada. Normalmente, para se obter valores aproximados de prea, a rapidez desse mtodo se torna uma vantagem que se sobrepe ao erro considerado. A forma no aproximada da equao de BET a mais aplicada a dados experimentais. O volume da monocamada Vm pode ser calculado pela resoluo do sistema:
35
b = 1/VCm
a = (C-1)/ CVm
(9)
A Tabela 6 apresenta os resultados de rea especfica medidos para o xido de nibio, na forma de extrudados, em funo apenas da variao da granulometria do precursor.
Tabela 6 Valores de rea especfica em funo da variao granulomtrica dos extrudados de xido de nibio. rea especfica (m2/g) 120 144 163
Granulometria < 0,037 < 0,062 < 0,105 3.2.2 Tamanho e distribuio de poros
Os poros de um catalisador so interstcios contnuos e interconectados, estatisticamente homogneos, entre os blocos mal ajustados que formam a estrutura do slido. Estes interstcios ocupam parte do volume do catalisador, chegando at cerca de 80%, como no caso de alguns carves ativos e aluminas especiais. Os poros so classificados de acordo com seus tamanhos em: microporos (menores que 2 nm), mesoporos (classificados entre 2 e 50 nm) e macroporos (maiores que 50 nm) (1, 10). A distribuio de tamanhos de poro tambm um parmetro muito importante para o estudo da estrutura porosa, pois est relacionado rea total do slido. Para medir o tamanho dos poros, normalmente, se utilizam duas tcnicas diferentes: adsoro com condensao de gases, onde se determina os micro e mesoporos, e porosimetria de mercrio que pode determinar os meso e macroporos (1, 10, 12).
- Volumetria de nitrognio As determinaes do dimetro e do volume poroso, com auxlio do fenmeno de adsoro de nitrognio, so obtidas a partir das presses relativas correspondentes ao ciclo de histerese, que aparecem nas curvas de adsoro/dessoro para os slidos 36
porosos, e que correspondem, respectivamente, condensao e evaporao de lquido nos poros. O formato da isoterma funo do tipo de porosidade do slido, e so vrias as formas conhecidas hoje em dia, mas todas so variaes de seis tipos principais. Os cinco primeiros tipos de isotermas foram primeiramente sugeridos por Brunauer em 1938, sendo o sexto tipo proposto mais tarde. A Figura 8 mostra os seis tipos de isotermas (12).
Slidos com microporos.
Slidos no porosos ou com macroporos.
Slidos no porosos associados mesoporos. Slidos com microporos associados macroporos.
Figura 8 Isotermas (n versus P/P0) do tipo I ao tipo VI.
Slidos com mesoporos
Slidos no porosos com superfcie uniforme.
Figura 8 Isotermas (n versus P/P0) do tipo I ao tipo VI (12).
37
A isoterma do tipo I caracterstica de slidos com microporosidade. As isotermas do tipo II e IV so tpicas de slidos no porosos e de slidos com poros razoavelmente grandes, respectivamente. As isotermas do tipo III e V so caractersticas de sistemas onde as molculas do adsorvato apresentam maior interao entre si do que com o slido (esses tipos no so muito interessantes para a anlise da estrutura porosa). A isoterma do tipo VI obtida atravs da adsoro do gs por um slido no poroso de superfcie quase uniforme, o que representa um caso muito raro entre os materiais mais comuns (12, 13). As isotermas do tipo I ocorrem, quando a adsoro limitada a poucas camadas moleculares, e caracterizam sistemas que apresentam microporos, onde os poros excedem um pouco o dimetro do adsorvente. A do tipo II e IV so os tipos mais encontrados em medidas de adsoro e ocorrem em sistemas no porosos, ou com poros no intervalo de mesoporos, ou macroporoso (dimetro superior a 50 nm), onde, o ponto de inflexo da isoterma corresponde formao da primeira camada adsorvida que recobre toda a superfcie do material. Um brusco aumento do volume de gs adsorvido para pequenos valores de P/P0, na isoterma do tipo IV, indica a presena de microporos associados a mesoporos. As isotermas do tipo III e V ocorrem quando o calor de adsoro entre as molculas adsorventes menor do que o calor de liquefao, sendo assim, as molculas desse gs tem mais afinidade umas com as outras do que com a superfcie do slido, prejudicando a anlise de rea superficial e da porosidade. importante ressaltar que a ausncia de histerese no significa a ausncia de porosidade, j que alguns formatos de poros podem levar a processos iguais de adsoro e dessoro. A histerese um fenmeno que resulta da diferena de mecanismos de condensao e evaporao do gs adsorvido, e este processo ocorre em diferentes valores de presso relativa, e sua forma determinada principalmente pela geometria dos poros. De modo geral as histereses so classificadas em quatro tipos, segundo a IUPAC (Internacional Union of Pure and AppliedChemistry), apresentado na Figura 9 (14).
38
Figura 9 Tipos mais freqentes de histereses em isotermas de adsoro e a relao com os formatos do poro: P0 a presso de saturao e P a presso de equilbrio (14).
A histerese do tipo H1 encontrada em materiais cujos poros so regulares, de formato cilndrico e/ou polidrico com as extremidades abertas. O tipo H2 formado pela composio de poros cilndricos, abertos e fechados com estrangulaes, resultando numa morfologia irregular do tipo garrafa. Na histerese H3 os poros apresentam formatos de cunhas, cones e/ou placas paralelas. O tipo H4 ocorre em slidos cujo raio do poro (rp) menor que 1,3 nm, ou seja, com dimenses da molcula do adsorvato, a morfologia dos poros no definida (14).
- Porosimetria de mercrio A porosimetria por intruso de mercrio uma tcnica importante para a descrio quantitativa da estrutura porosa de um slido. Essa tcnica foi desenvolvida a partir da observao do comportamento de alguns lquidos sobre slidos porosos, os quais no eram molhados por esses lquidos presso atmosfrica. Isto ocorre porque, quando um lquido no molha um slido poroso, como o caso do mercrio, ele no consegue penetrar espontaneamente no interior desses poros pela ao de foras capilares. Neste caso, ele deve ser ento, forado a penetrar nos poros pela aplicao de
39
uma presso externa; sendo dificuldade de penetrao inversamente proporcional dimenso (dimetro) dos poros (10 13). A primeira equao que descrevia esse comportamento foi desenvolvida por Washburn em 1921 e tem o nome de seu autor (equao 10):
D=
onde:
4 cos P
(10)
D = dimetro do poro; = tenso superficial do lquido (mercrio); = ngulo de contato entre o lquido (mercrio) e o slido; P = presso absoluta.
Essa equao descreve o comportamento do mercrio na superfcie do slido e ela tambm pode ser escrita em funo do raio r do poro, bastando dividi-la pelo fator 2. Uma vez que o mercrio no molha a maioria dos slidos conhecidos, a penetrao deste lquido somente ocorre de forma significativa com aplicao de presso, ocorrendo em poros cada vez menores com o aumento da pressurizao. Sendo a tenso superfcial do mercrio alta - cerca de 485 dina/cm3 - esse valor confirma a tendncia do lquido em se contrair, assumindo uma forma quase esfrica, ou seja, com rea especfica mnima, como resultado de foras intermoleculares que atuam em sua superfcie. Por essa razo, o mercrio apresenta ngulos de contato muito altos, quando em contato com a maioria dos slidos (em torno de 130). Essas caractersticas fazem com que o mercrio seja o nico lquido utilizado na porosimetria por intruso (10-13). Para a realizao da medida, primeiramente, a amostra deve ser levada para um tratamento trmico a fim de eliminar gases e lquidos volteis adsorvidos e condensados nos poros. Aps esta etapa, a amostra devidamente pesada, colocada na clula apropriada realizao da anlise, e submetida a um vcuo, onde a presso absoluta deve ser igual ou menor a 10 mmHg, durante um perodo mnimo de 30 minutos (Figura 10).
40
Figura 10 Representao esquemtica do dispositivo empregado nas etapas de evacuao da amostra e preenchimento com mercrio (13).
Aps o tempo estabelecido sob presso inferior a 10mmHg e preenchimento com mercrio, a amostra colocada na cmara de pressurizao (Figura 11) (13), para iniciar o processo de retirada do ar de dentro da cmara. Esse procedimento repetido at a completa verificao da inexistncia de ar no sistema.
41
Figura 11 Representativo do porosmetro de mercrio (13).
Na etapa seguinte, inicia-se a anlise do material, que consiste em medir o volume de mercrio, que penetra no slido em funo do aumento lento e constante da presso do mercrio, ocorrendo a penetrao em poros de raio cada vez menores, at o limite da presso mxima do equipamento. A Tabela 7 elucida a forma como, normalmente, os dados e o resultado da anlise so apresentados.
42
Tabela 7 Resultados obtidos com auxlio da porosimetria de mercrio.
43
3.3 Caracterizao da Superfcie Ativa
Quando se utilizam catalisadores, no existe, na maioria dos casos, uma relao direta entre os seus desempenhos e a sua rea especfica global. Portanto, em catlise, sempre necessrio determinar a superfcie realmente ativa, em geral, constituda por um conjunto de tomos denominados de stios, os quais possuem atividade cataltica e por estarem acessveis aos reagentes.
3.3.1 Caracterizao trmica
- Anlise trmica Em uma anlise termogravimtrica, a massa de uma amostra em uma atmosfera controlada registrada continuamente como uma funo do tempo, medida que a temperatura da amostra aumenta (em geral linearmente com o tempo) (15). Existe a anlise termogravimtrica (TGA) e a anlise trmica diferencial (DTA). A Figura 12 mostra uma curva TGA do sulfato de cobre (CuSO4), um material, normalmente, utilizado como padro para se avaliar a programao e confiabilidade da anlise e da programao do equipamento.
Figura 12 Curva TGA do sulfato de cobre, material considerado padro para avaliar o desempenho de uma termobalana (15).
44
Na rea cataltica, a TGA usada para se estudar o caminho detalhado das alteraes que o aquecimento pode provocar nas substncias, objetivando estabelecer a faixa de temperatura, nas quais o material adquire composio qumica definida ou temperatura, onde se iniciam os processo de decomposio, sinterizao, mudana cristalina etc. Desse modo, as curvas de variao de massa em funo da temperatura obtida a partir de uma termobalana, permitem obter algumas concluses sobre a composio e estabilidade dos compostos intermedirios e sobre a composio do composto formado aps aquecimento (15). A tcnica de DTA permite medies contnuas das temperaturas da amostra e de um material de referncia, este termicamente inerte no intervalo de temperatura estudado. Estas medies de temperatura so diferenciais - diferena entre a temperatura do material de referncia e da amostra (T) - em funo da temperatura ou do tempo, dado que o aquecimento ou resfriamento realizado taxa de aquecimento constante (a=dT/dt). A interpretao terica das curvas DTA deve demonstrar que as reas delimitadas pelos picos so proporcionais ao calor de reao (entalpia) por unidade de massa de substncia ativa presente na amostra pura ou misturada com um material inerte (15). Um exemplo da aplicao da anlise trmica o resultado obtido com uma cermica base de zircnia empregada em materiais catalticos e promotores, geralmente, no controle de emisso de poluentes. A Figuras 13 mostra a curva TGA para uma resina polimrica do sistema Zr0,9Nd0,1O1,95, que foi obtida em atmosfera dinmica de ar, calcinada a 350C. Essa anlise mostra uma perda de massa no intervalo entre 30C e 650C. Acima desta temperatura, observa-se uma massa constante, constatando a eliminao total da matria orgnica presente inicialmente no composto (16).
45
Figura 13 Anlise termogravimtrica do Zr0,9Nd0,1O1,95 (p amorfo) calcinado previamente a 350C por trs horas (16).
- Tcnicas de reduo e dessoro temperatura programada.
Essa tcnica foi aplicada, primeiramente, para estudar pirlises por Rogers e colaboradores em 1960, tendo se tornado muito popular na rea cataltica. A idia bsica monitorar as reaes que ocorrem, principalmente, na superfcie dos slidos catalticos, atravs da anlise continua da fase gasosa gerada durante o aquecimento (8). A dessoro temperatura programada (TPD), foi utilizada em 1963 por Amenomiya e Cvetanovi e, efetivamente, foi estendida para slidos porosos de rpida dessoro por Ehrlich, constituindo-se em uma tcnica rpida, para estudar a dessoro de gases de filamentos metlicos aquecidos em alto vcuo (8). Em estudos de TPD, o slido, previamente, equilibrado com um gs, em condies bem definidas de temperatura e presso parcial, submetido a um aquecimento sob programao de temperatura e fluxo de um gs inerte (He ou Ar), monitorando-se a dessoro continua do gs. 46
A reduo temperatura programada (TPR) foi tambm empregada por Robertson e colaboradores em 1975. Nesta tcnica, a velocidade de reduo medida, continuamente, para monitorar a composio da reao dentro do reator. Estudos envolvendo a tcnica TPR podem ser efetuados com alguns precursores catalticos, empregando uma simples termobalana. No entanto, estudos mais completos exigem atmosferas gasosas controladas, inertes ou no. Nos experimentos conduzidos com reao, o gs de reduo pode ser, por exemplo, uma mistura de hidrognio em nitrognio, sendo o progresso da reduo monitorado pela diminuio da concentrao de hidrognio (8). As medidas de TPD e TPR so monitoradas, normalmente, utilizando um detector de condutividade trmica, acoplado ou no a um cromatgrafo, ou um espectrmetro de massas. De forma simplificada, a Figura 14 apresenta um diagrama de blocos, representando um cromatogrfico a gs (8, 17).
Figura 14 - Diagrama representativo de um cromatgrafo a gs (17).
47
Na catlise, uma das principais aplicaes da tcnica TPR consiste em monitorar o consumo de hidrognio presente em uma corrente gasosa, que passa por um catalisador slido, submetido a um aumento linear de temperatura. Esta tcnica vem sendo empregada por ter diversas aplicaes, dentre elas: permitir determinar o intervalo de temperatura em que ocorre a reduo dos precursores metlicos e dos stios metlicos; revelar as possveis interaes existentes entre o metal-suporte e o metalpromotor. Esta interao geralmente observada em catalisadores nos quais o metal est presente em baixas concentraes e com alta disperso, como no caso, catalisadores industrial Pt/Al2O3. Exemplos das aplicaes desses mtodos (TPR e TPD) so apresentados nas Figuras 15 e 16, respectivamente. A Figura 15 mostra os resultados de TPR para um o suporte puro, assim como dos catalisadores mono e bimetlicos obtidos a partir deste suporte. Os resultados evidenciam que a reduo do suporte puro ocorre em um intervalo grande de temperatura, iniciando-se acima de 500C (18).
Figura 15 Perfis de TPR do suporte (Nb2O5) e dos catalisadores monometlicos e bimetlicos (18).
48
Comparando as temperaturas de reduo do suporte puro e do catalisador monometlico, percebe-se que na presena de Pt, a reduo parcial do suporte foi deslocada para uma temperatura menor (8). Esse consumo de hidrognio, segundo os estudos feitos pelo autor, devido reduo parcial do suporte e a primeira etapa da formao da forte interao metal-suporte (o chamado efeito SMSI strong metalsupport interaction). Para o catalisador metlico Pt/Nb2O5, observam-se quatro picos de consumo de hidrognio: o primeiro temperatura ambiente e o segundo em torno de 85C, que so atribudos reduo da espcie mssica e da espcie superficial do PtO2. Um terceiro pico observado a 227C, atribudo reduo do complexo superficial PtOxClY, e por ltimo um pico de 360C que seria a reduo parcial do suporte (18). O catalisador monometlico 0,5% In/Nb2O5 apresenta um pico de reduo a 272C que atribudo reduo do In+3. Observa-se que, com a adio de Pt a este catalisador, a temperatura de reduo do In desloca-se para temperaturas mais baixas, conforme foi observado para catalisadores de Pt-In/Al2O3 (18). Os catalisadores bimetlicos apresentaram perfis similares ao catalisador monometlico, com picos de reduo temperatura ambiente, um segundo pico mais intenso a 89c, e um terceiro pico a 227C, que atribudo como a reduo do In, ocorrendo juntamente com a reduo parcial da Pt. (18). A Figura 16 apresenta os resultados obtidos com TPD para os mesmos catalisadores. Segundo o autor (18), os perfis de TPD, aps reduo a 300C (Figura 16a), para catalisadores a base de Pt, apresentaram dois picos de dessoro: um pico em baixa temperatura, que foi atribudo ao H2 adsorvido na superfcie metlica, e outro pico em temperatura mais alta atribudo ao H2 de spillover. Esse efeito spillover ocorre, quando, por exemplo, o hidrognio adsorvido, dissociativamente sobre um metal, migra para o suporte (18).
49
Figura 16 Perfis de TPD de H2 aps a reduo a 300C (a) e 500C (b) para catalisadores monometlicos e bimetlicos (18).
O catalisador Pt/Nb2O5 aps reduo a 300C, apresenta um pico largo com um mximo em 150C, correspondendo ao H2 adsorvido nos stios metlicos, e um outro pico em 300C, atribudo ao spillover do H2. Os catalisadores bimetlicos apresentaram em comparao ao monometlico, um decrscimo na rea do pico a baixa temperatura. Com uma observao especial em relao ao catalisador, contendo 0,5% de In, no qual se constata apenas o pico de dessoro de H2 de spillover. Na Figura 16-b, pode-se observar que, aps reduo a 500C em condies tpicas de SMSI, os perfis de TDP apresentam apenas um pico de dessoro, atribudo, principalmente, ao H2 de spillover (18). Apesar dos catalisadores com teores de 0,2% e 0,5% de In apresentarem um pico de dessoro prximo do H2 adsorvido nos stios metlicos, essa dessoro em temperatura mais baixa, pode ser atribuda ao H2 de spillover.
50
3.3.2 - Caracterizao por quimissoro
A quimissoro se caracteriza por um forte grau de interao entre as molculas do gs e a superfcie do slido. Os valores das entalpias de quimissoro equivalem ao de uma reao qumica (10 a 100 Kcal/mol) e ocorrem em temperaturas maiores que o ponto de ebulio do gs adsorvido. Dependendo do tipo de gs e do tipo de metal a quimissoro pode ser (10): - Dissociativa que pode ser exemplificada quando ocorre a adsoro da molcula de hidrognio (H2) sobre Pt resultando em duas ligaes Pt-H; - Associativa ocorre quando a molcula adsorvida mantm a sua integridade, como por exemplo, a adsoro de monxido de carbono (CO) em platina; - Corrosiva ocorre quando o gs adsorvido reage com o metal, o que resulta na formao de uma camada que pode ou no ser restrita superfcie do metal, como por exemplo, o que ocorre na adsoro de oxignio (O2) em Cu, que, dependendo das condies do meio, pode formar xido de Cobre (Cu2O ou/e CuO) no superficiais, ou a passivao de carbetos e nitretos. As anlises de quimissoro s podem ser realizadas, para avaliar a superfcie metlica, se a densidade dos stios metlicos e a estequiometria da adsoro, ou seja, se forem conhecidos quantos tomos ou molculas do gs esto associados a cada stio metlico. A densidade de stios dada pelo nmero de tomos de metal expostos por m2 de superfcie metlica, portanto, depende, no caso de catalisadores mssicos, da forma cristalogrfica do metal. Os gases mais utilizados nas medidas de superfcie metlica so H2, CO e O2 (10). O oxignio um exemplo de uma molcula que usualmente adsorve, dissociando-se, mas tambm pode ser encontrada adsorvida na forma molecular em alguns metais, como, prata (Ag) e platina (Pt). Nesse caso, possvel distinguir o tipo de adsoro pelos valores das entalpias, sendo que adsoro dissociativa possui maior valor de entalpia, pois, quando a adsoro ocorre no estado molecular, a interao entre a molcula e a superfcie relativamente fraca (19). Dependendo na superfcie do metal, o monxido de carbono (CO) pode ser adsorvido na forma molecular ou na forma dissociada, porm, o seu processo de dissociao pode apresentar mais de uma forma (19, 20): 51
- Superfcies reativas formadas por metais do lado esquerdo da Tabela peridica (como Na, Ca, Ti...), o processo de adsoro, na maioria dos casos, dissociativo, levando a formao de carbono adsorvido e tomos de oxignio; - J em superfcies formada por metais que pertencem ao lado direito da tabela peridica, terminando sua distribuio eletrnica em d, como cobre e prata, a interao predominantemente molecular. A fora de interao entre a molcula de CO e o metal tambm muito fraca, portanto, a associao M-CO pode ser facilmente quebrada, e o CO desprende-se da superfcie pela elevao da temperatura, sem induzir nenhuma dissociao da molcula. - Mas para a maioria dos metais de transio, entretanto, a adsoro muito sensvel temperatura e estrutura da superfcie (os ndices de Miller) e da baixa presena de stios coordenados como um nico stio. A adsoro de H2 e CO tem importncia fundamental na determinao da rea metlica ou na disperso de sistemas monometlicos. Sem a presena do SMSI, strong metal-support interaction, essa anlise pode dar uma idia real da quantidade de stios ativos, aptos para adsorver e promover as reaes com as molculas existentes no meio. Os catalisadores, sujeitos ao efeito SMSI, podem servir para investigar a influncia do suporte nos stios ativos e determinar as mudanas que ocorrem no xido reduzido. Em sistemas bimetlicos, pode-se analisar a influncia do promotor no nmero de stios ativos, e tambm determinar fenmenos que fazem com que o metal ativo tenha suas propriedades modificadas pela presena de um metal inativo (18). Na molcula de hidrognio (H2), os eltrons de valncia esto todos envolvidos na ligao H-H, pois no existe nenhum eltron adicional. Conseqentemente, a quimissoro do hidrognio no metal quase invariavelmente um processo dissociativo no qual a ligao H-H quebrada, permitindo que tomos de hidrognio interajam independentemente com a o substrato. A quantidade de hidrognio adsorvido, irreversivelmente (H2 quimissorvido) por unidade de massa de catalisador (determinada pela tcnica de volumetria de gs) permite calcular a rea metlica especfica dos catalisadores e o nmero de stios de adsoro de hidrognio por unidade de massa de catalisador. Apresenta-se, a seguir, um exemplo tpico (21) de quimissoro em um material cataltico. O material devidamente pesado e submetido a um aquecimento at 300C. 52
Aps esta etapa, ele pr-ativado sob o fluxo de hidrognio (60 cm3/min) por 3 horas e limpo sob vcuo durante 1 hora (P=10-5 mmHg). Depois o catalisador resfriado at 70C, dando incio a etapa de adsoro com o hidrognio. Aps a etapa de adsoro, um grfico da quantidade do gs adsorvido em funo da presso de hidrognio no sistema plotado (Figura 17). Em seguida os gases so evacuados (P=10-5 mmHg) por meia hora. Com o isso, o hidrognio fisissorvido eliminado, restando apenas o hidrognio quimissorvido na superfcie do catalisador (21). Novamente, coloca-se hidrognio em contato com o catalisador, e um segundo grfico da quantidade de gs consumido plotado, mas agora, sabendo-se que envolve apenas um processo de fisissoro em funo da presso de hidrognio do sistema. Essa diferena entre o primeiro e o segundo grfico, atravs da extrapolao para a presso 0 das retas traadas, fornece o valor da quantidade de hidrognio consumido, irreversivelmente, por unidade de massa de catalisador, e esse valor que se utiliza para calcular o nmero de tomos expostos do metal por unidade de massa de catalisador (21).
Figura 17 Grfico de adsoro de H2 na superfcie de um catalisador (21).
53
A equao 11 a utilizada para determinar o nmero de tomos expostos de metal por unidade de massa (Y), e os clculos so realizados, considerando a estequiometria da quimissoro do hidrognio sobre o metal. Atravs deste resultado, pode-se calcular a rea metlica especfica (em m2/g), bem como a disperso da fase metlica (em porcentagem), e o dimetro mdio das partculas metlicas (nm) dos catalisadores. Y = 2x n de moles de H2 quimissorvido (CNTP) x 6,023x1023 (molc/mol) Massa do catalisador (g) onde: Y= nmero de tomos expostos do metal por grama de catalisador.
(11)
3.4 Caracterizao da Estrutura Cristalina e do Tamanho das Partculas de Catalisadores e de seus Suportes At o momento, mostrou-se o procedimento de clculo do tamanho das partculas metlicas, caracterizando a superfcie com auxlio dos processos de adsoro. No entanto, vrias tcnicas mais avanadas podem ser empregadas para completar os estudos de caracterizao das espcies e determinao do tamanho das partculas, tais como (3, 8, 10, 14, 16 e 19): espectroscopia Raman e infravermelho, que informa os modos rotacionais e vibracionais de uma molcula, identificando os grupos qumicos presentes na superfcie do catalisador; ressonncia paramagntica eletrnica (EPR), que muito utilizada na catlise e suas informaes ajudam na determinao da simetria de uma espcie paramagntica, tipo de coordenao e a presena de espcies vizinhas e at o seu estado de oxidao; espectroscopia de fotoeltrons excitados por Raio X (XPS), que fornece informaes sobre a composio da superfcie de um catalisador, o estado de valncia dos elementos, e a interao entre a fase ativa e o suporte. Porm dentre as mais utilizadas, por ser a mais acessvel, est a difratometria de raio X (DRX). A DRX (10 e 22) consiste em incidir um feixe colimado e monocromtico de raios X sobre a amostra cristalina, sendo que isso ocorre com um comprimento de onda 54
, bem definido. As ondas difratadas pelos planos de elevada concentrao atmica num ngulo de refrao igual ao de incidncia , devem obedecer relao de Bragg (equao 12), onde d distncia interplanar:
= 2d sen
(12)
Os efeitos de interferncia causados pelo espalhamento de radiaes eletromagnticas de pequeno comprimento de onda (raios X) pelos materiais, em particular os catalisadores, podem informar sobre as estruturas superficiais e o tamanho de partculas. Um exemplo da aplicao da DRX) pode ser observado na Figura 18, onde se pode distinguir a existncia de duas fases em um suporte de alumina.
Figura 18 Difratometria de raio X tpico do composto precursor da alumina empregada como suporte em catalisadores na indstria aeroespacial.
No caso da determinao do tamanho das partculas de dimenses nanomtricas em uma amostra policristalina, utiliza-se a frmula de Scherrer, que relaciona o
55
alargamento ocasionado nas linhas de difrao com o aumento das partculas, e dada pela seguinte expresso (10 e 22):
d(2) =
K . . cos hkl
(13)
onde:
d = dimenso do cristal perpendicular ao plano hkl de difrao
B = largura da linha meia altura expressa em radianos
1 2
hkl = ngulo de Bragg expresso em radianos
K = constante de Scherrer, que associada a forma dos cristalitos e ao modo como B e K so definidos (para partculas esfricas
B e K assumem o valor de 0,9,
1 2
mas, de maneira geral, o valor de K prximo da unidade). = comprimento de onda da radiao empregada.
Outras tcnicas importantes na caracterizao dos aspectos morfolgicos dos catalisadores so: a microscopia eletrnica de varredura (MEV) e a microscopia eletrnica de transmisso (MET) (10, 23 e 24). O uso de microscpicos eletrnicos modernos, com poder de resoluo da ordem de nanmetros, permite, em casos particulares, visualizar partculas metlicas nos suportes, medir o tamanho destas partculas, determinar um dimetro mdio no caso de partculas esfricas, e, conseqentemente, a rea metlica por grama de material.
56
Para se estimar o tamanho das partculas, necessrio que sejam preparadas vrias amostras do mesmo catalisador, e obter um nmero de fotos que represente a distribuio das partculas na amostra. As ampliaes devem permitir uma ampliao final entre 5 e 105 vezes, mas s devem ser computadas as partculas que estejam na distncia focal correta e isentas de astigmatismo. Os casos mais simples so aqueles em que os suportes no so cristalinos, so transparentes ao feixe eletrnico, e que as partculas sejam de metais de alta densidade (como, por exemplo, a Pt) e tenham tamanhos superiores a 2 nm. Mas h casos em que o tipo de suporte atrapalha a observao da amostra, como por exemplo: metais leves, partculas de tamanho inferior a 1,5 nm, suportes com cristalinidade parcial (MgO, Al2O3 tratada a temperaturas superiores 850C), suportes com impurezas (carvo ativado, argilas naturais), ou ainda, suportes pouco transparentes (CaO2, ZrO2) (10, 23 e 24). importante ressaltar que, para se ter uma observao correta da partcula do catalisador no microscpico eletrnico, fundamental a correta preparao das amostras. No caso de medidas de MEV de amostras cermicas, estas devem ser recobertas com uma camada de ouro, para que os raios incidentes sobre o material possam ser refletidos. Em se tratando de medidas de MET, alguns miligramas do material so modos manualmente at a obteno de um p (em gral de gata, normalmente). Esse ps espalhado sobre uma superfcie metlica, geralmente cobre, e recoberta por um filme de carbono e as ampliaes observadas (10, 23 e 24). As imagens apresentadas na Figura 19 representam o acompanhamento por MEV dos compostos intermedirios obtidos durante o processo de sntese e moldagem da alumina, utilizada como suporte do catalisador LCP-33.
57
Figura 19 Micrografias, por microscopia eletrnica de varredura, dos compostos intermedirios obtidos durante a sntese do suporte do catalisador LCP 33: a) Gibsita, b) Gibsita e Bohemita, c) Gibsita e Bohemita moldadada e d) Gibsita e Bohemita esferoidizada.
58
Na Figura 20 esto apresentadas imagens tpicas obtidas por MET e que permitem determinar a distribuio do tamanho dos cristalitos metlicos e o dimetro mdio das partculas metlicas de catalisadores. Pode ser observado que os dimetros das partculas crescem com o aumento do teor metlico (21).
Figura 20 Micrografias (MET) e distribuies dos tamanhos dos cristalitos metlicas nos seguintes catalisadores: (a) 0,5% Pd/SiO2-C, (b) 3% Pd/SiO2-C e (c) 3% Pd-0,18%Cu/SiO2-C (21).
59
3.5 Caracterizao de Catalisadores cidos
Slidos cidos tm sido extensivamente usados como catalisadores ou como suportes de catalisadores, no refino de petrleo, petroqumica e na maioria dos processos orgnicos. O uso desses slidos proporciona algumas vantagens, quando comparado com cidos lquidos, como por exemplo: elevadas atividade e seletividade; no corroem os vasos de reao; podem ser utilizados mais de uma vez; separao do cido slido do meio reacional fcil, no apresentam muitos problemas de descarte. Todas essas vantagens representam, em ltima anlise, economia para as indstrias. Algumas reaes cidas de grande interesse e que empregam esses compostos cidos so: reforma cataltica, craqueamento, hidrocraqueamento, alquilaro e polimerizao (2, 8 e 10). A importncia desses slidos para a economia que despertou o interesse de se estudar suas propriedades cidas superficiais, a estrutura dos stios cidos e sua ao cataltica. Atualmente, discute-se que ocorra a formao de carbon-ction pela adio de um prton molcula de hidrocarboneto insaturado, mecanismo que requer a existncia de um stio doador de prtons. Embora, tambm, cogite-se a possibilidade da formao de um carbon-ction, pela abstrao de um hidreto de um hidrocarboneto saturado, o que requer a existncia de um stio aceptor de eltrons (8). A descrio da acidez em geral, a de superfcie mais especificamente, requer a determinao da intensidade da ligao e da densidade de stios cidos. Um slido cido capaz de transformar uma molcula bsica adsorvida em uma forma cida conjugada. A atividade cataltica dos slidos cidos, para essas diferentes reaes, est relacionada no s com a quantidade de stios cidos e sua natureza, se doadores de prtons (tipo Bronsted) ou aceptores de eltrons (tipo Lewis), mas tambm com a fora cida destes stios (10). Um cido slido, normalmente, no possui um nico tipo de stios, mas, mostra uma larga distribuio da fora destes stios cidos, provenientes, por exemplo, de centros cidos de Lewis e Bronsted numa mesma superfcie. Isso pode ser tanto em funo da no homogeneidade na composio do slido, como tambm da existncia de interaes de curto alcance, ou mesmo da estrutura da superfcie (10).
60
Nos cidos slidos, a acidez pode ser gerada por vrias formas, exemplificadas pelas possveis configuraes das hidroxilas mostradas na Figura 21, sendo que a carga do oxignio (que determina o carter cido ou bsico da hidroxila) est representada pelo nmero negativo. A carga negativa mais alta (-1,5) mostrada para o oxignio do grupo OH ligado ao ction do alumnio coordenado com cinco O2-, e a carga mais baixa (-0,5) observada no oxignio do grupo OH ligado a trs ctions de alumnio (10).
Figura 21 Representao esquemtica das hidroxilas presentes na superfcie de um slido com caractersticas cidas (10).
No caso das aluminas de transio, constata-se que acima de 300C, durante o processo de calcinao, o hidrxido precursor sofre uma intensa desidratao; at 430C a desidratao ocorre pela reao entre duas hidroxilas vizinhas, liberando gua. Aps a liberao dessa gua, uma vacncia aninica (centro cido fraco) e um on oxignio (centro cido fraco) permanecem na superfcie. Quando se aumenta a temperatura acima de 430C, observa-se o aparecimento de irregularidades no processo de desidratao e os prtons da superfcie e ctions tornam-se mveis, trocando suas posies na rede. Nessas condies, novos defeitos so gerados com vacncia aninicas mltiplas (3 ou mais ctions Al3+ prximos), que possuem carter cido forte tipo Lewis e aglomerados de ons O2- que possuem carter bsico forte. Esses tipos de defeitos locais, como a deficincia de on oxignio, que so responsveis pela acidez de Lewis das aluminas (10). 61
Os stios cidos de Bronsted podem ser gerados em slica-alumina e outros tipos de xidos mistos, sempre que um ction trivalente (como o alumnio) est em coordenao tetradrica com o oxignio. Quando todos os nions de oxignio na ligao tetradrica so compartilhados por dois ctions, criada uma carga negativa para todos os ctions com carga menor do que quatro. De modo geral, pode-se dizer que as origens principais das propriedades cidas de um xido simples so grupos hidroxilas (acidez de Bronsted) e ctions de metais expostos (acidez de Lewis). A distribuio de cada um dos tipos e intensidades dos stios presentes na superfcie de um slido cido depende, entre outros fatores, do precursor, das condies de tratamento trmico (temperatura mxima, taxa de aquecimento, fluxo gasoso etc), da eletronegatividade do ction metlico. Um mtodo simples e rpido para determinar a acidez total de um material cataltico pode ser feito por adsoro de amnia gasosa, de acordo com a reao abaixo (10 e 19):
Slido H + NH 3 Slido + NH 4
A Tabela 8 apresenta os resultados de acidez total do xido de nibio, obtidos por quimissoro de amnia por pulso, em funo da variao da temperatura de calcinao, onde, se pode observar que o aumento da temperatura de calcinao diminui a acidez total do xido de nibio. Tabela 8 Resultados obtidos por quimissoro de amnia por pulso em funo da temperatura de calcinao do xido de nibio.
Temperatura de Calcinao (C)
300 400 500
Acidez Total (mol/g) 1992 1341 919
3.6 Teste de Avaliao Cataltica
Aps as etapas de sntese e caracterizao de um catalisador, o teste cataltico que indicar se ele vivel numa determinada reao de interesse. a partir dos resultados obtidos no teste cataltico que parmetros cinticos importantes do
62
catalisador so determinados, tais como: atividade, seletividade, ordem da reao, desativao (caso ocorra), regenerao (quando possvel), interao metal suporte, interao metal-metal, sensibilidade da reao estrutura da fase ativa, sinterizao (observada pela diminuio da atividade) etc (18, 25). A anlise de um teste cataltico se processa em um reator, cuja temperatura regulada com o auxlio de um banho termostatizado ou de um forno tubular (Figura 22). Nesses testes, empregam-se algumas reaes modelo, com seus mecanismos cinticos conhecidos na literatura, tais como, por exemplo, a desidrogenao do cicloexano ou hidrogenao do benzeno, ambos em fase gasosa.
Figura 22 Unidade de avaliao cataltica.
A avaliao cataltica , normalmente, conduzida da seguinte forma: um reator na forma de U aquecido por um forno de vidro cilndrico ligado a um programador de temperatura. A amostra colocada nesse reator e a reao se processa sob presso e temperatura constantes. No caso da desidrogenao do ciclohexano, os reagentes empregados so o hidrognio e o cicloexano (18). A presso parcial constante do 63
reagente obtida, normalmente, com auxlio de uma corrente de hidrognio, utilizando um saturador mantido a certa temperatura.
4 CONCLUSO
A caracterizao de materiais catalticos envolve conceitos de inmeras reas, mas principalmente da fsica, qumica e engenharia de materiais. E os avanos dessa juno de conhecimentos tm melhorado muito o desenvolvimento e aplicao de materiais catalticos, principalmente, com custos atrativos industrialmente. O objetivo principal da interpretao dos resultados obtidos nas etapas de caracterizao e avaliao cataltica de identificar a natureza intrnseca do slido, estabelecendo uma correlao entre algumas dessas caractersticas com o desempenho do catalisador em estudo. As vantagens de utilizar processos catalticos so inmeras, mas se pode, resumidamente, citar: tornar viveis reaes termodinamicamente favorveis, mas onde o equilbrio qumico no se estabelece em tempo economicamente aceitvel; reduzir o dispndio de energia (reatores industriais operando em presses e temperaturas menores), permitir maior seletividade nos produtos obtidos e produzir menor quantidade de resduos. No passado, pode-se dizer que o objetivo principal da rea era obter maior quantidade de materiais a um custo baixo, negligenciando qualidade e quantidade de resduos liberados para o meio ambiente. No entanto, em meados do sculo XX as mudanas de atitude social e ambiental tornaram necessrias e, atualmente, os esforos so voltados para um desenvolvimento sustentvel. O desafio neste sculo XXI privilegiar a qualidade e no a quantidade; por isso, o foco das pesquisas para buscar solues, a fim de melhorar a seletividade nos produtos, e minimizar a contaminao ambiental (26).
64
5- REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
(1) LOHSE, H. W. Catalytic chemistry. New York: Chemical Publishing, 1945. p. 175. (2) CIOLA, R. Fundamentos da catlise. So Paulo: Universidade de So Paulo, 1981. p. 377. (3) WACHS, I. E. Recent Conceptual advances in the catalysis science of mixed metal oxide catalytic materials. Catalysis Today, v. 100, p. 79-94, 2005. (4) DUPONT, J. A Catlise no Brasil nos ltimos 25 anos: uma histria de sucesso. Qumica Nova, v.25, p.12-13, 2002. (5) RUSSEL, J. B. Qumica Geral. v. 2. So Paulo: Makron Books:1994. 1268 p. (6) Disponvel em: http://www.chemguide.co.uk/physical/catalysis/introduction.html#top>. Acesso em: 14 de ago. de 2006. (7) LE PAGE, J. F., et al. Catalyse de contact conception, prparation et mise en oeuvre des catalyseurs industriels. Paris: Technip, 1978. 622 p. (8) DELANNAY, F. Characterization of heterogeneous catalysts. New York: Marcel Dekker, 1984. p. 404. (9) PONCELET, G., GRANGE, P., JACOB, P.A. Preparation of Catalysts III Scientific Bases for the preparation of heterogeneous Catalysts. New York: Elsevier Science Publishers, 1983. p. 523. (10) BARRICHELLO, N. J., FARO, A. da C. Jr. Caracterizao de catalisadores. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Petrleo, 1995. p. 111. (11) RODRIGUES, J. A., CUNHA, D. S., CRUZ, G. M., FIGUEREDO, C.M.C. Moldagem de aluminas por fluidizao. So Paulo: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 1986. 27 p. (12) TEIXEIRA, V. G., COUTINHO, F. M. B., GOMES. A. S. Principais mtodos de caracterizao da porosidade de resinas base de divinilbenzeno. Qumica Nova, v. 24, p. 808-818, 2001. (13) LOWELL, S., SHIELDS, J. Powder surface area and porosity. New York: John Wiley & Sons, 1979. p. 462.
65
(14) RODELLA, C.B. Preparao e caracterizao de catalisadores de V2O5 suportado em TiO2. Tese de Doutorado: Universidade de So Paulo - Cincia e Engenharia de Materiais, So Carlos, 2001. 134 p. (15) BROWN, M. E. Introduction to thermal analysis techniques and applications. New York: Chapman and Hall, 1988. 211 p. (16) ANDRADE, I. M. Estudo de sistemas Zr0,9Nd0,1O0,195 e Zr0,9Nd0,05O1,95 utilizando o mtodo Pechini para desenvolver nova rotas. Monografia de Concluso de Curso: Universidade de Federal de So Carlos - Cincia e Engenharia de Materiais, So Carlos, 2003. p. 49. (17) CIOLA, R. Fundamentos da cromatografa a gs. So Paulo: Edgard Blucher, 1985. p. 297. (18) LOPES, I. S. Estudo de catalisadores Pt-In/Nb2O5 na converso de hidrocarbonetos. Dissertao de Mestrado: Fsico-Qumica, Universidade Federal Fluminense, Niteri, 2003. p. 87. (19) Disponvel em: <www.chem.qmul.ac.uk/surfaces/scc/scat2_5.htm>. Acesso em: 14 de ago. de 2006. (20) MARTINS, J. L., et al. Anlise terica da interao de CO, CO2 e NH3 com ZnO. Qumica Nova, v.27, p.10-16, 2004. (21) GOMES, C. V. Catalisadores bimetlicos de paldio-cobre. Suportados sobre slica e nibia Interao metal-metal e Interao metal-suporte. Dissertao de Mestrado: Faculdade de Engenharia Qumica de Lorena - Engenharia de Materiais, Lorena , 2002. 108 p. (22) CULLITY, B. D. Elementes of x-ray diffraction. [ S.l]: Addison-Wesley Publishing Company, 1956. 856 p. (23) MANNHEIMER, W. A. Microscopia dos materiais uma introduo. So Paulo: Sociedade Brasileira de Microscopia e Microanlise. 126 p. (24) MALISKA, A. M. Microscopia eletrnica de varredura. Florianpolis: Departamento de Engenharia Mecnica - Laboratrio de Materiais, Laboratrio de Caracterizao microestrutural e anlise de imagens, Santa Catarina, 2005. 97p. Apostila para usurios de MEV. Universidade Federal de Santa Catarina. (25) CRUZ, G. M. Catalisadores metlicos suportados para reaes de hidrogenao e reforma. Campinas/Lorena: Apostila do Curso de Catlise. Faculdade de Engenharia Qumica de Lorena - Engenharia Qumica, 1994. 131 p. (26) PEREIRA, M. M. Catlise em sntese: novos desafios para o sculo XXI. Qumica - Diviso Catlise e Materiais Porosos, v.100, p.27-29, 2006. 66
PUBLICAES TCNICO-CIENTFICAS EDITADAS PELO INPE Teses e Dissertaes (TDI) Manuais Tcnicos (MAN)
Teses e Dissertaes apresentadas So publicaes de carter tcnico nos Cursos de Ps-Graduao do que incluem normas, procedimentos, INPE. instrues e orientaes.
Notas Tcnico-Cientficas (NTC)
Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrio de equipamentos, descrio e ou documentao de programa de computador, descrio de sistemas e experimentos, apresentao de testes, dados, atlas, e documentao de projetos de engenharia.
Relatrios de Pesquisa (RPQ)
Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza tcnica quanto cientfica, cujo nvel seja compatvel com o de uma publicao em peridico nacional ou internacional.
Propostas e Relatrios de Projetos (PRP)
Publicaes Didticas (PUD)
So propostas de projetos tcnico- Incluem apostilas, notas de aula e cientficos e relatrios de acompanha- manuais didticos. mento de projetos, atividades e convnios.
Publicaes Seriadas
So os seriados tcnico-cientficos: boletins, peridicos, anurios e anais de eventos (simpsios e congressos). Constam destas publicaes o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que um cdigo nico e definitivo para identificao de ttulos de seriados.
Programas de Computador (PDC)
So a seqncia de instrues ou cdigos, expressos em uma linguagem de programao compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcanar um determinado objetivo. So aceitos tanto programas fonte quanto executveis.
Pr-publicaes (PRE)
Todos os artigos publicados em peridicos, anais e como captulos de livros.
Você também pode gostar
- 1 - Fundamentos de CatáliseDocumento3 páginas1 - Fundamentos de CatáliseMatheus AlcântaraAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios de Ligações, Termodinâmica e Oxidação-Redução (Recuperado)Documento5 páginasLista de Exercícios de Ligações, Termodinâmica e Oxidação-Redução (Recuperado)S.V.W.M ELÉTRICAAinda não há avaliações
- Apresentação Desativação de Catalisadores - Reatores IIDocumento34 páginasApresentação Desativação de Catalisadores - Reatores IIRomero Atala RhodaAinda não há avaliações
- Lista 3 Fisico-Químia UERJDocumento2 páginasLista 3 Fisico-Químia UERJGalenoAinda não há avaliações
- ApostilaCineticaQuimica PDFDocumento127 páginasApostilaCineticaQuimica PDFKadima SantosAinda não há avaliações
- Aulas 01 e 02 Fund. Catalise HeterogêneaDocumento15 páginasAulas 01 e 02 Fund. Catalise HeterogêneaGhoster MarcianoAinda não há avaliações
- PPC EnergiasDocumento159 páginasPPC EnergiasYsaac CerqueiraAinda não há avaliações
- Catálise Heterogênea1Documento121 páginasCatálise Heterogênea1Rebecca CamachoAinda não há avaliações
- Reatores Catalíticos HeterogêneosDocumento24 páginasReatores Catalíticos HeterogêneosGuilherme MoreiraAinda não há avaliações
- Apresentação Fisissorção de N2 - Isadora e RafaellaDocumento35 páginasApresentação Fisissorção de N2 - Isadora e RafaellaIsadora PereiraAinda não há avaliações
- Aula 2 Leila CINÉTICA E REATORES II PDFDocumento36 páginasAula 2 Leila CINÉTICA E REATORES II PDFFernando RochaAinda não há avaliações
- Tipos de CatalisadoresDocumento6 páginasTipos de CatalisadoresUlyssesFlorentinoAinda não há avaliações
- Introduçao À Catálise HeterogêneaDocumento19 páginasIntroduçao À Catálise HeterogêneaRicardo ThiesenAinda não há avaliações
- CAPITULO 2 - Catalise Heterogenea - 2020Documento116 páginasCAPITULO 2 - Catalise Heterogenea - 2020paulo salvadorAinda não há avaliações
- Modelos Nucleares2Documento33 páginasModelos Nucleares2Diego SalvadorAinda não há avaliações
- Catálise HeterogêneaDocumento45 páginasCatálise HeterogêneaIagoPachecoAinda não há avaliações
- Catalise e Reatores CataliticosDocumento44 páginasCatalise e Reatores CataliticosAndré Felipe Frahm AnjosAinda não há avaliações
- Aula 03 - Catálise e Catalisadores - Cálculo de Reatores II 2020 - 2Documento30 páginasAula 03 - Catálise e Catalisadores - Cálculo de Reatores II 2020 - 2Hebert SutilAinda não há avaliações
- Aula 5 Leila CINÉTICA E REATORES IIDocumento31 páginasAula 5 Leila CINÉTICA E REATORES IIFernando RochaAinda não há avaliações
- Apostila - EletroquímicaDocumento83 páginasApostila - EletroquímicaElizael GoncalvesAinda não há avaliações
- Patologias em Pavimentacao Unidade IVDocumento31 páginasPatologias em Pavimentacao Unidade IVCatia SouzaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À Pavimentação - Estruturas de PavimentosDocumento38 páginasAula 1 - Introdução À Pavimentação - Estruturas de PavimentosDouglas Roberto De QuadrosAinda não há avaliações
- SchrodingerDocumento42 páginasSchrodingerJOSE EVERALDO CHAVES DE BARROS JUNIORAinda não há avaliações
- Catálise HeterogeneaDocumento72 páginasCatálise HeterogeneaEduardo SousaAinda não há avaliações
- Aula 7Documento47 páginasAula 7Hellen NunesAinda não há avaliações
- Voltametria CiclicaDocumento29 páginasVoltametria CiclicaJanaina SehnemAinda não há avaliações
- Notação de Dirac WorkDocumento21 páginasNotação de Dirac WorkDanielAinda não há avaliações
- Capítulo 3.3 - Difusao InternaDocumento29 páginasCapítulo 3.3 - Difusao InternaInocêncioCollorMeloHorácioAinda não há avaliações
- Catálise QuímicaDocumento33 páginasCatálise QuímicaLeonardo MacielAinda não há avaliações
- Cinetica e Calculo de Reatores 1 Aula 01 (Salvo Automaticamente)Documento18 páginasCinetica e Calculo de Reatores 1 Aula 01 (Salvo Automaticamente)Alexssan MouraAinda não há avaliações
- Experimento1 2017 QG564Documento5 páginasExperimento1 2017 QG564marianaAinda não há avaliações
- Noções de Mecânica QuânticaDocumento163 páginasNoções de Mecânica QuânticaIan Carlos dos Santos Chagas TostaAinda não há avaliações
- Ciclo de Born HaberDocumento11 páginasCiclo de Born HaberSandro Branquinho MatosAinda não há avaliações
- Apontamentos Reação RedoxDocumento4 páginasApontamentos Reação Redoxsamira100% (1)
- Termodinamica e Cinética Dos Compostos de CoordenaçãoDocumento13 páginasTermodinamica e Cinética Dos Compostos de CoordenaçãoPerna Rodrigues0% (1)
- Catálise Heterogênea PDFDocumento21 páginasCatálise Heterogênea PDFTaiane AssisAinda não há avaliações
- Lab. Química - FATORES QUE INFLUENCIAM A VELOCIDADE DE UMA REAÇÃO QUÍMICADocumento7 páginasLab. Química - FATORES QUE INFLUENCIAM A VELOCIDADE DE UMA REAÇÃO QUÍMICABruno SenaAinda não há avaliações
- EstequiometriaDocumento49 páginasEstequiometriafernando AndradeAinda não há avaliações
- Introducao A Algebra LinearDocumento262 páginasIntroducao A Algebra LinearPEDRO LUCAS NUNES VIEIRAAinda não há avaliações
- Aula - Reações Múltiplas e ReversíveisDocumento18 páginasAula - Reações Múltiplas e ReversíveisFelipe CastroAinda não há avaliações
- Aula CineticaDocumento40 páginasAula CineticaOtavio NetoAinda não há avaliações
- Aula Eletrogravimetria 13e15 10 2020Documento59 páginasAula Eletrogravimetria 13e15 10 2020Antonio Morais NetoAinda não há avaliações
- Binômio de NewtonDocumento14 páginasBinômio de NewtonGabriel Costa SantosAinda não há avaliações
- CATÁLISE - 1 IntroduçãoDocumento31 páginasCATÁLISE - 1 Introduçãoragabiandrade15600% (1)
- Aplicações Da Volumetria de Oxirredução em Indústria - Passei DiretoDocumento10 páginasAplicações Da Volumetria de Oxirredução em Indústria - Passei DiretoProfa Vanessa Monteiro100% (1)
- aula01CQ049 PDFDocumento32 páginasaula01CQ049 PDFJuliana Mattos100% (1)
- Processos de Tratamento Do Gás NaturalDocumento13 páginasProcessos de Tratamento Do Gás NaturaleduryuAinda não há avaliações
- Química OrgânicaDocumento5 páginasQuímica OrgânicaJoel CezarAinda não há avaliações
- Livro Cinética e Reatores Schmal PDFDocumento108 páginasLivro Cinética e Reatores Schmal PDFBianca Duarte0% (3)
- TERMODINÂMICA QUÍMICA APLICADA - AULA - 2 - Conceitos Básicos Da TermodinâmicaDocumento17 páginasTERMODINÂMICA QUÍMICA APLICADA - AULA - 2 - Conceitos Básicos Da TermodinâmicaJamille Silva100% (1)
- Modulo Ii - 1 - Reações Quimicas PDFDocumento20 páginasModulo Ii - 1 - Reações Quimicas PDFAngélica Carlos100% (1)
- Aula Cinética QuímicaDocumento33 páginasAula Cinética QuímicaBixoFelipeGomesAinda não há avaliações
- 2013 Unidade 4 - Balancos em Bioprocessos 2013 - EnviadoDocumento21 páginas2013 Unidade 4 - Balancos em Bioprocessos 2013 - EnviadoBreno H. P. XavierAinda não há avaliações
- Sobre o (Não) Domínio da Linguagem Química e sua Influência na AprendizagemNo EverandSobre o (Não) Domínio da Linguagem Química e sua Influência na AprendizagemAinda não há avaliações
- 1529433780VALSUNGANA Pesquisa-LaborGeoDocumento77 páginas1529433780VALSUNGANA Pesquisa-LaborGeoFranco BaldiAinda não há avaliações
- Análise Instrumental EntregaDocumento19 páginasAnálise Instrumental EntregaRoberta SommerAinda não há avaliações
- Balanceamento de Equações Por Oxirredução.Documento4 páginasBalanceamento de Equações Por Oxirredução.sergiodelbiancofilhoAinda não há avaliações
- Processos Endotérmicos e Exotérmicos: Uma Visão Atômico-MolecularDocumento5 páginasProcessos Endotérmicos e Exotérmicos: Uma Visão Atômico-MolecularGUSTAVO KARSTENAinda não há avaliações
- Advecção DifusãoDocumento1 páginaAdvecção DifusãohalanlhAinda não há avaliações
- Evolução em Dois Mundos - Cap 15 Parte 1 Vampirismo EspiritualDocumento15 páginasEvolução em Dois Mundos - Cap 15 Parte 1 Vampirismo EspiritualEDUARDO BLANCOAinda não há avaliações
- Peso e Massa de Um CorpoDocumento13 páginasPeso e Massa de Um CorpoFilipe BogasAinda não há avaliações
- F. W. J. Schelling - Introdução À Filosofia Da Revelação (Tradução Murilo Resende Ferreira)Documento93 páginasF. W. J. Schelling - Introdução À Filosofia Da Revelação (Tradução Murilo Resende Ferreira)vitor duarte100% (1)
- Bataille - O Valor de Uso de DAF de SadeDocumento10 páginasBataille - O Valor de Uso de DAF de SadeCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Tarefa 3Documento8 páginasTarefa 3Renata VieiraAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do Direito 1 - Aula 1Documento10 páginasIntrodução Ao Estudo Do Direito 1 - Aula 1Alessandra KoriloAinda não há avaliações
- Prova de Fundações 2Documento5 páginasProva de Fundações 2Juliana SilvaAinda não há avaliações
- FDS PhostoxinDocumento14 páginasFDS PhostoxinLuís Carlos BarbosaAinda não há avaliações
- RELATÓRIO 2-G3-TermodinâmicaDocumento18 páginasRELATÓRIO 2-G3-TermodinâmicaJúlia Hartmann MozeticAinda não há avaliações
- Dimensão Social Do EsporteDocumento25 páginasDimensão Social Do Esportebrunasrm100% (1)
- Vviveiro Florestal Torna-Se Um Viveiro EducadorDocumento95 páginasVviveiro Florestal Torna-Se Um Viveiro EducadorPaulo FreitasAinda não há avaliações
- Bioclimatologia Aplicada A AviculturaDocumento36 páginasBioclimatologia Aplicada A AviculturaAline DinizAinda não há avaliações
- Uranografia GeralDocumento23 páginasUranografia GeralMilton Daniel Moutinho De AssunçãoAinda não há avaliações
- Experimento Cargas EletricasDocumento3 páginasExperimento Cargas EletricasKlebson Santos da SilvaAinda não há avaliações
- 1 Ficha Diagnostica CN7 2018-19Documento3 páginas1 Ficha Diagnostica CN7 2018-19MiguelAinda não há avaliações
- Chafariz de AmoniaDocumento5 páginasChafariz de AmoniaannaquimicaAinda não há avaliações
- A Natureza Do Homem em Karl MarxDocumento3 páginasA Natureza Do Homem em Karl MarxPéricles CostaAinda não há avaliações
- Etiquetas HerbarioDocumento9 páginasEtiquetas HerbariocarlbispAinda não há avaliações
- Piezo ResistividadeDocumento23 páginasPiezo ResistividadeJonathan André AlvesAinda não há avaliações
- FTL 1.2 - Teste de Chama - CorreçãoDocumento1 páginaFTL 1.2 - Teste de Chama - CorreçãoBRUNA BIANCA BIANCAAinda não há avaliações
- 2858 Processos de Mobilizacao Do Solo Versao ImpressaoDocumento30 páginas2858 Processos de Mobilizacao Do Solo Versao ImpressaoFátima Ribeiro100% (2)
- Tabelas de Saturação SHAPIRODocumento41 páginasTabelas de Saturação SHAPIRODenis SoaresAinda não há avaliações
- Engenheiro CivilDocumento7 páginasEngenheiro CivilCarolina SinhorelliAinda não há avaliações
- Bombeamento de Agua Subterranea 1 PDFDocumento31 páginasBombeamento de Agua Subterranea 1 PDFDavisson9Ainda não há avaliações
- Manual LZ 1600DDocumento6 páginasManual LZ 1600DAna Claudia Afonso NeuAinda não há avaliações
- Transf. Massa - Difusão e Lei de FickDocumento27 páginasTransf. Massa - Difusão e Lei de Fickfamaiaeletrica100% (1)