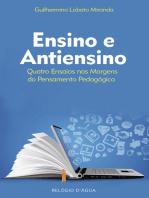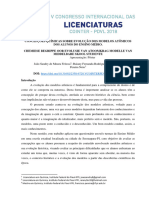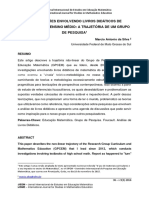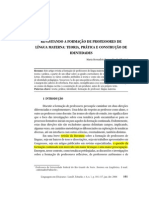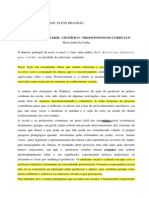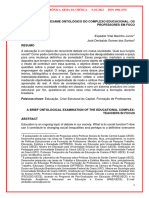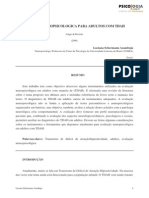Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
08 Pe 81 10
08 Pe 81 10
Enviado por
José Alfredo SouzaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
08 Pe 81 10
08 Pe 81 10
Enviado por
José Alfredo SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
112
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
PESQUISA NO ENSINO DE QUMICA
A seo Pesquisa no ensino de Qumica inclui investigaes sobre problemas no
ensino de Qumica, com explicitao dos fundamentos tericos e procedimentos
metodolgicos adotados na anlise de resultados.
Recebido em 04/10/2010, aceito em 15/10/2012
Marlene Rios Melo e Edmilson Gomes de Lima Neto
Estudos comprovam a importncia da concepo adequada do que seja modelo cientco. Na qumica,
trabalhamos com diversos modelos e os educandos elaboram modelos mentais que podem ou no se aproximar
dos modelos cientcos. Neste trabalho, apresentaremos a aplicao de texto e experimento por licenciandos
de qumica da Universidade Federal de Sergipe para uma turma de ensino mdio que j tinha sido exposta
ao desenvolvimento histrico de modelos atmicos. Nossa anlise se concentrou tanto na capacidade dos
alunos em utilizar a teoria apreendida em sala de aula no levantamento de hipteses para explicar fenmenos
cotidianos, quanto nas limitaes da mediao didtica das estratgias de ensino aplicadas pelos licenciandos
proponentes da pesquisa, limitaes essas analisadas por meio do tipo de Discurso do Professor (Villani e
Barolli, 2006) predominante na aplicao da pesquisa.
modelos atmicos; formao de professores; Discursos do Professor
Difculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos
Atmicos em Qumica
A
prender cincia signica tambm entender como se
elabora o conhecimento cientco, para tanto, im-
portante considerar que as teorias e leis que regem a
cincia no so descobertas feitas
a partir da observao minuciosa
da realidade, utilizando o cha-
mado mtodo cientco, mas sim
fruto da construo de modelos
e elaborao de leis que possam
dar sentido a realidade observada:
[...] a cincia no um discurso
sobre o real, mas um processo
socialmente denido de elaborao de modelos para inter-
pretar a realidade (Pozo e Crespo, 2006, p. 20).
A observao da natureza permite ao cientista criar
modelos e teorias que devem ser testados, por meio de
experimentos ou simulaes, para conhecer a extenso da
aplicabilidade da teoria desenvolvida. Portanto, a cincia
no algo neutro e acabado, mas construda socialmente
e em constante evoluo, j que alguns modelos tericos
se apresentam com determinadas limitaes na explicao
do observado macroscopicamente, exigindo que novos
modelos e leis sejam elaborados para explicar alm das
limitaes.
Especicamente no ensino de qumica, no h uma
preocupao com a discusso de
como os modelos cientcos so
construdos e sua importncia
na compreenso da construo
do conhecimento. No mximo,
percebe-se uma abordagem equi-
vocada quando da apresentao
de modelos atmicos. No entan-
to, tal discusso fundamental,
pois a qumica est baseada em modelos, no somente os
atmicos, mas tambm os moleculares, os de reaes, os
matemticos e essa ideia no contemplada pelo professor,
pela maioria dos livros didticos e, consequentemente,
pelo aluno. Nas escolas, temos o estudo de molculas, de
reaes, mas no de modelos de molculas, modelos de
reaes, cando a sensao de que os qumicos trabalham
com entidades palpveis e visveis, quando na verdade
so criaes humanas como elucidam Pimentel e Spratley
(1971, p. 112):
As partculas que mencionamos no podem ser vis-
tas. Os qumicos falam de tomos e molculas como
se eles tivessem inventado (e inventaram). Raramente
A observao da natureza permite ao
cientista criar modelos e teorias que devem
ser testados, por meio de experimentos ou
simulaes, para conhecer a extenso da
aplicabilidade da teoria desenvolvida.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
113
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
se menciona que tomos e molculas so apenas mo-
delos, criados e imaginados para serem similares s
experincias realizadas nos laboratrios.
Pozo e Crespo (2006) consideram que a concepo
inadequada de como o conhecimento cientco elaborado
interfere no avano da uma abordagem construtivista no
ensino de cincias:
A ideia de que os tomos, os ftons ou a energia
esto ai, fora de ns, existem realmente e esto
esperando que algum os descubra, frontalmente
oposta aos pressupostos epistemolgicos do cons-
trutivismo. (p. 21)
A concepo inadequada de modelo em sala de aula
observada tanto nos alunos (Maskill e Jesus, 1997), quanto
nos professores atuantes e em formao (Melo, 2002). Melo
(2002) constatou em sua pesquisa
que apenas 18% dos professores
entrevistados concebiam o tomo
como uma criao cientca, sen-
do que nesse percentual estavam
includos professores mestrandos
de uma universidade pblica de
So Paulo.
Em pesquisa feita com alunos
do ensino secundrio em esco-
las da regio de Aveiro, Portugal (Maskill e Jesus, 1997),
levantou-se concepes e questes apresentadas pelos estu-
dantes durante o estudo de modelos atmicos. As questes
mais relevantes foram:
Como as pessoas sabem que o tomo existe se elas
no podem v-lo ou senti-lo?
Como o tomo foi descoberto?
Sendo os tomos to pequenos, como foi possvel
para os fsicos descobri-los? (p. 133, traduo nossa)
Esses questionamentos, facilmente identicveis em nos-
sos alunos, demonstram a no compreenso do que modelo
atmico. O aluno entende que o tomo foi descoberto e ento
estudado, quando na verdade o tomo no foi descoberto,
mas sua teoria foi construda.
Uma das razes para as incompreenses de modelos
atmicos pode estar relacionada a como os livros didticos
abordam o conceito de modelo, pois esses livros so con-
siderados um dos mais importantes instrumentos didticos
utilizados nas escolas (Lopes, 1992), com consequente efeito
nas relaes de ensino e aprendizagem, j que a maioria
dos professores tem no livro didtico um referencial para a
elaborao de suas estratgias de ensino.
Os livros didticos (Feltre, 2005; Peruzzo e Canto, 1998;
2007; Carvalho e Souza, 2007; Nogueira Neto e Dias, 2005)
apresentam geralmente a mesma sequncia: primeiro um
captulo sobre modelos atmicos, seguido de tabela peridica
e, nalmente, ligaes qumicas. A experincia em sala de
aula demonstra que, como consequncia dessa fragmentao,
o aluno apresenta diculdade em estabelecer relaes entre
o modelo atmico, o molecular
e o comportamento da matria.
Em outras palavras, ele no sabe
utilizar um modelo conceitual
e abstrato para compreender fe-
nmenos macro (real e prtico)
(Maskill e Jesus, 1997), pois re-
lacionar modelo com fenmeno
no uma caracterstica marcante
dos livros didticos tradicionais.
A abordagem inadequada do termo modelo pode ser
percebida pelo texto que acompanha a Figura 1.
A associao dessa gura com o conceito de modelo faz
com que o aluno aceite o modelo atmico como real e no
como uma construo cientca e social sujeita a alteraes,
evidenciando o carter dinmico da cincia. Ressaltamos
que a gura apresentada fruto de uma interpretao gr-
ca, feita por um programa computacional em resposta aos
sinais emitidos pelo microscpio de tunelamento e no uma
foto dos tomos.
Essa abordagem pode reforar os modelos de sentido
comum trazidos pelos alunos para a sala de aula. Tais mo-
delos tm como base um realismo ingnuo, como explicita
Galagovsky e Adriz-Bravo (2001):
Os modelos de sentido comum se constroem idios-
sincrasicamente a partir da experincia coletiva no
mundo natural e das interaes sociais, so emi-
nentemente gurativos, quase pictricos. (p. 233,
traduo nossa)
Algumas possibilidades de modelos de sentido comum
so os de avies, miniaturas que reproduzem os avies de
tamanho real; bonecos como modelos de pessoas; as modelos
de passarela; e at mesmo algo no qual o estudante apoie
uma conduta (modelo de conduta). A forma como os modelos
so percebidos no cotidiano do aluno difere da forma como
estes so construdos em cincia. A maioria das concepes
Figura 1: Considera-se que acima so vistos, pelo microscpio
de tunelamento, tomos de iodo retidos sobre platina (Peruzzo
e Canto, 1998, p. 77).
Algumas possibilidades de modelos de
sentido comum so os de avies, miniaturas
que reproduzem os avies de tamanho
real; bonecos como modelos de pessoas;
as modelos de passarela; e at mesmo algo
no qual o estudante apoie uma conduta
(modelo de conduta).
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
114
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
de senso comum refere-se a algo concreto, real, que pode
ser at manuseado, enquanto que os modelos cientcos so
representaes da realidade como consideram Galagovsky
e Adriz-Bravo (2001, p. 233):
[...] os modelos cientcos se
constroem mediante a ao
conjunta de uma comunidade
cientca, que tem a disposi-
o de seus membros ferra-
mentas poderosas para repre-
sentar aspectos da realidade.
Para Bunge (1976, p. 12), o
modelo cientco pode ser entendido como uma construo
imaginria:
Um modelo uma construo imaginria de um
objeto(s) ou processo(s) que remete a um aspecto
de uma realidade a m de poder efetuar um estudo
terico por meio das teorias e leis usuais.
Entendemos que os modelos cientcos feitos sobre os
sistemas so abstraes da realidade. Consequentemente,
se no feita com os alunos uma discusso sobre o quanto
o modelo cientco difere dos seus modelos de sentido co-
mum, muito provavelmente prevalecer nas mentes destes
suas concepes cotidianas.
A abordagem histrica dos modelos atmicos feita nos
livros didticos tambm pode gerar incompreenses, no
s em relao ao conceito de modelo como tambm sobre a
razo da apresentao de alguns modelos atmicos seguindo
uma ordem cronolgica no problematizada. Para Chassot
(2001, p. 259), essa discusso histrica deveria permitir que
o aluno entendesse como evolui o pensamento cientco
perante uma mesma realidade:
[...] mudam os modelos, mas no a realidade. Temos
na verdade uma nova ideia de tomo, ou seja, um
novo tomo, para explicar uma realidade que no
mudou. A mudana que ocorre
no nosso conhecimento sobre
a realidade.
Novamente ressaltamos que
o modelo atmico no uma
descoberta, mas sim uma criao
cientca, que utilizada para ex-
plicar e prever o comportamento
macroscpico da matria. Todo
modelo, criao cientca, vem
apoiado em experimentos, simu-
laes e clculos matemticos
e, enquanto explicar e prever fenmenos, ele aceito. No
entanto, quando determinados fenmenos no forem mais
justicados ou previstos por um determinado modelo, faz-se
necessrio a adequao do modelo existente.
Percebemos, na maioria dos livros didticos, selees
de ocorrncias histricas nas quais as conexes necessrias
para justicar a discusso dos diversos modelos atmicos
no cam claras. A consequncia
desse recorte a concluso de
que um modelo substitui o outro,
sendo o anterior pior que o pos-
terior, fazendo o aluno questionar
o porqu de no se aprender ape-
nas o modelo correto ou modelo
padro.
Talvez fosse importante adotar
uma abordagem histrica na qual
o estudante percebesse que no h um modelo correto, mas
sim leituras diferentes dos mesmos fenmenos macroscpi-
cos, mostrando o carter dinmico da qumica.
Chassot (1996) considera que a escolha do modelo atmi-
co deve ser feita dependendo de como os tomos modelados
sero usados depois. necessrio ento ter muito claro como
sero abordadas ligaes qumicas e interaes eletrostticas
para que se possa avaliar o modelo mais adequado a ser
adotado. Necessariamente esse modelo no precisa ser o
mais atual nem nico, mas sim aquele(s) que permita(m) a
aprendizagem de maneira adequada, possibilitando a rela-
o entre o micro e o macro, entre o imaginado e o visvel
(Melo, 2002).
Os alunos do ensino mdio necessitam perceber que
os modelos so construes provisrias e suscetveis de
aperfeioamento. Os modelos avanaram para formas cada
vez mais poderosas, abrangentes e teis para explicar a
realidade ao longo da histria da cincia. Para o aluno, no
ca claro at que momento pode-se ou no trabalhar com um
determinado modelo, quando necessrio um conhecimento
maior e quais as necessidades reais que levaram elaborao
de um modelo mais aprimorado.
Alm das incompreenses de modelos atmicos, fru-
to de uma abordagem conceitual e histrica equivocada,
ao aluno, no dada a oportunidade de transformar seus
modelos mentais em modelos grcos para a composio
da matria. Estes poderiam ser
desenhos elaborados pelos alunos
que serviriam tanto para o profes-
sor perceber como o aluno cria
modelos para a matria a partir da
concepo de modelos atmicos,
como discutir sobre qual dos mo-
delos atmicos apresentados seria
mais adequado para criar modelos
para a matria, bem como as limi-
taes dessa escolha.
A consequncia da no elabo-
rao e discusso sobre modelos
para matria gera diculdade na compreenso do modelo
particulado desta, expressa pela no aceitao do vazio entre
as partculas que a compe.
A abordagem histrica dos modelos
atmicos feita nos livros didticos tambm
pode gerar incompreenses, no s em
relao ao conceito de modelo como
tambm sobre a razo da apresentao
de alguns modelos atmicos seguindo uma
ordem cronolgica no problematizada.
Os modelos avanaram para formas cada
vez mais poderosas, abrangentes e teis
para explicar a realidade ao longo da
histria da cincia. Para o aluno, no fica
claro at que momento pode-se ou no
trabalhar com um determinado modelo,
quando necessrio um conhecimento
maior e quais as necessidades reais que
levaram elaborao de um modelo mais
aprimorado.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
115
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
Maskill e Jesus (1997) relatam que os alunos tm especial
diculdade quando pensam sobre o corpo humano. Para
eles, muito difcil aceitar o corpo
humano feito de tomos, pois aos
seus olhos, o corpo contnuo e
no particulado. Essas questes
so relevantes e os professores
deveriam propiciar e provocar o
surgimento do questionamento
de como a matria se estrutura
a partir da compreenso de um
modelo atmico.
Outro fator que dificulta a
compreenso adequada da elaborao do conhecimento
cientco, quando da discusso sobre modelos atmicos,
a utilizao de analogias tanto pelos livros didticos quanto
pelos professores. As analogias so utilizadas para aproximar
modelos abstratos do mundo real do aluno. Um exemplo
comum o uso da analogia do pudim de passas para apro-
ximar o aluno do modelo atmico de Thomson. Souza, Justi
e Ferreira (2006, p. 22) demonstraram que nem sempre a
analogia utilizada de forma adequada, muito menos com-
preendida pelos alunos, pois a maioria deles:
[...] no reconhece as analogias como tal; no reco-
nhece as principais relaes analgicas existentes
em cada uma delas; no identica limitaes das
analogias; no percebe o papel das mesmas no
ensino; no entende que elas se referem a modelos
atmicos diferentes e no distingue e no caracteriza
corretamente esses modelos.
H ainda analogias que comparam o comportamento
do eltron ao das pessoas, como aquela que se utiliza de
desenho com vrias casas e seus respectivos andares e c-
modos. A analogia a seguinte:
cada casa representa o nmero
quntico principal ou nvel de
energia; cada andar representa o
nmero quntico secundrio ou
subnvel; e cada cmodo repre-
senta o nmero quntico tercirio
ou orbital (Garofalo, 1997). A
utilizao dessa analogia tam-
bm leva o aluno a acreditar
que o eltron se movimenta tal
qual uma pessoa e que uma
partcula slida, quando para o modelo em questo, o mo-
delo orbital, o eltron tem um comportamento dualstico
(partcula-onda).
O perigo da utilizao de analogias para a assimilao
de um modelo abstrato que o aluno tende a raciocinar em
termos macroscpicos, podendo levar essas analogias longe
demais ao ponto de considerar que o orbital uma regio
to bem denida quanto um apartamento ou que o compor-
tamento do eltron similar ao de uma pessoa.
Pela diculdade que os alunos tm em migrar do macros-
cpico para o imaginado, eles podem estabelecer relaes
analgicas incorretas quando os
limites de cada analogia no cam
bem denidos. Diferentemente,
o professor entende o que
modelo e capaz de migrar com
facilidade do macro para o micro,
estabelecendo, assim, limites para
as analogias e, por isso, acredita
erroneamente que o aluno tam-
bm tenha essa compreenso.
Chassot (1996) cita a Bblia ao
discutir sobre a diculdade de se fazer modelos adequados
para tomos [...] e dele no fars imagens!. O aluno do
ensino mdio, ao tomar conhecimento de analogias como
as citadas anteriormente, cria uma imagem e o tomo deixa
de ser um modelo para ser real, palpvel e similar imagem
que a analogia criou, fazendo com que a ideia principal do
modelo matemtico que deu origem a esse modelo atmico
seja distorcida.
Em funo dos problemas levantados quando da abor-
dagem de modelos atmicos em qumica, acreditamos que
os cursos de formao inicial e continuada de professores
devem favorecer discusses sobre as diculdades de ensino
e aprendizagem de modelos cientcos e a adequada com-
preenso de como o conhecimento cientco elaborado.
Essas discusses devem considerar:
a) as concepes alternativas e os modelos de senso
comum dos alunos no estabelecimento de estratgias de
ensino que possibilitem a construo de modelos mentais
cada vez mais elaborados e enriquecidos pelo conhecimento
cientco;
b) as limitaes dos livros didticos, tanto na conceitu-
ao de modelo quanto na abordagem histrica, pois no
explicitam que, dependendo do
fenmeno a ser interpretado, um
modelo pode ser mais adequado
que outro;
c) que o uso de analogias
envolve tambm a discusso das
limitaes destas;
d) a necessidade de propiciar a
expresso das compreenses dos
alunos sobre modelos atmicos
e para a matria. Dessa forma,
o professor poder estabelecer
estratgias que tornem possvel a ampliao da viso ma-
croscpica para o mundo invisvel da matria, construdo na
mente e invisvel aos olhos.
Contexto e questes da pesquisa
Em funo da necessidade de formar professores de
qumica que levassem em considerao a problemtica en-
volvendo modelos atmicos, iniciamos a disciplina Estgio
Outro fator que dificulta a compreenso
adequada da elaborao do conhecimento
cientfico, quando da discusso sobre
modelos atmicos, a utilizao de
analogias tanto pelos livros didticos
quanto pelos professores. As analogias
so utilizadas para aproximar modelos
abstratos do mundo real do aluno.
O aluno do ensino mdio, ao tomar
conhecimento de analogias como as
citadas anteriormente, cria uma imagem
e o tomo deixa de ser um modelo para
ser real, palpvel e similar imagem que
a analogia criou, fazendo com que a ideia
principal do modelo matemtico que
deu origem a esse modelo atmico seja
distorcida.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
116
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
Supervisionado em Ensino de Qumica II, do curso de li-
cenciatura em qumica na Universidade Federal de Sergipe
(UFS), discutindo com os licenciandos a importncia do
conceito de modelo cientco nas relaes de ensino e
aprendizagem de cincias, como bem esclarece Galagovsky
e Adriz-Bravo (2001, p. 234. traduo nossa):
Na verdade, o conceito de modelo est recebendo
uma maior ateno na epistemologia, seguido, entre
outras coisas, das investigaes especcas na psico-
logia da aprendizagem, cincia cognitiva e didtica
das cincias, que o identicaram como um conceito
poderoso para compreender a dinmica da repre-
sentao que tanto os cientistas como os estudantes
fazem do mundo.
Tal discusso surpreendeu os licenciandos que cursa-
vam a disciplina, pois estes concebiam o tomo como uma
entidade palpvel, visvel e no construda cienticamente.
Em resposta a essa discusso, dois licenciandos decidi-
ram elaborar e aplicar uma proposta de ensino envolvendo
modelos atmicos e utilizando experimentao. Nessa
proposta, os licenciandos tentariam fazer com que os alu-
nos produzissem hipteses, a partir dos seus modelos de
senso comum e/ou modelos da cincia erudita (Galagovsky
e Adriz-Bravo, 2001), na explicao de fatos cotidianos
como o selecionado: Como so produzidas as cores dos
fogos de artifcio?
As questes mais especcas de pesquisa passaram a ser:
a) os alunos de ensino mdio elaborariam modelos ex-
plicativos para o fato questionado pelos licenciandos
utilizando os conceitos ensinados em sala de aula,
sobre modelos atmicos, pelo professor responsvel
pela disciplina?
b) os alunos utilizariam as informaes de um texto e de
um experimento, ambos mediados pelos licenciandos,
para aprimorar suas explicaes cientcas sobre o
fenmeno cotidiano, estabelecendo uma relao entre
a criao cientca (modelos atmicos) e o macros-
cpico (cor dos fogos)?
c) os licenciandos consegui-
riam gerar questes para
produzir hipteses e fazer
com que os alunos do en-
sino mdio percebessem
os limites de aplicao dos
modelos atmicos, limites
esses discutidos durante a
disciplina Estgio Supervi-
sionado II?
d) quais as principais dicul-
dades que os licenciandos
encontrariam na aplicao
de uma proposta de ensino inovadora, aos olhos deles,
e como essa pesquisa melhoraria a prtica docente
desses licenciandos?
Metodologia de pesquisa
Partindo das questes anteriores, consideramos, como
objetivo geral de pesquisa, tentar entender avanos e di-
culdades envolvidos no processo de ensino e aprendizagem
de modelos atmicos a partir da proposta dos licenciandos
de qumica.
Nossa pesquisa seguiu uma abordagem predominante-
mente qualitativa, pois nossos dados foram obtidos a partir
tanto da fala dos licenciandos como da escrita dos alunos de
ensino mdio durante a aplicao da proposta de ensino em
sala de aula. A anlise dos dados coletados em sala de aula
foi feita utilizando nossos conhecimentos prvios sobre a
problemtica envolvida no processo de ensino e aprendiza-
gem de modelos atmicos e, tambm, os referenciais tericos
(Carvalho, 2006) descritos a seguir.
Nossos sujeitos de pesquisa foram dois licenciandos do
penltimo semestre do curso de Licenciatura em Qumica
da UFS, que elaboraram e aplicaram um projeto de ensino
envolvendo modelos atmicos e se dispuseram a rela-
tar, para seus colegas e professora da disciplina Estgio
Supervisionado em Ensino de Qumica II, sobre os avanos
e as diculdades na aplicao dessa proposta. Tambm
consideramos como sujeitos de pesquisa os 32 alunos de
ambos os sexos, com idade entre 14 e 18 anos, de uma
sala de aula da 1 srie do ensino mdio de uma escola
estadual localizada em Aracaju, durante nove encontros
de 45 minutos cada.
Referenciais tericos
Para anlise das respostas dos alunos de ensino mdio,
utilizaremos o conceito de modelo mental, pois essas repre-
sentaes mentais desempenham um papel explicativo sobre
os processos de ensino e aprendizagem como esclarecem
Greca e Moreira (2002, p. 32):
A potencialidade deste conceito para a pesquisa
em ensino de cincias radicaria, fundamentalmente,
na possibilidade de servir de referencial terico para
interpretar as concepes e os
modos de raciocnio dos estu-
dantes e, desta forma, abordar
com uma fundamentao mais
slida a didtica das cincias,
fundamentao esta nem sem-
pre presente ou pouco clara
tanto nas pesquisas sobre
concepes alternativas como
nas da mudana conceitual.
O conceito de modelo mental
no nico. Ns, em particular,
apoiar-nos-emos no adotado por Carrol e Olson (1988), no
qual o modelo mental uma estrutura rica e elaborada, que
possibilita ao aluno explicar o que um sistema em estudo
Nossos sujeitos de pesquisa foram dois
licenciandos do penltimo semestre do
curso de Licenciatura em Qumica da UFS,
que elaboraram e aplicaram um projeto
de ensino envolvendo modelos atmicos
e se dispuseram a relatar, para seus
colegas e professora da disciplina Estgio
Supervisionado em Ensino de Qumica
II, sobre os avanos e as dificuldades na
aplicao dessa proposta.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
117
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
contm, como funciona e por que ele funciona, permitindo
fazer previses, atravs de aes mentais, sobre o funcio-
namento do sistema, no nosso caso, um fenmeno qumico
(queima de fogos de artifcio).
Como esses modelos mentais so formados nas mentes
dos alunos, depende do evento observado. Alguns modelos
mentais podem ser formados a partir de processos envol-
vendo analogias com o mundo exterior. No nosso caso, a
formao de modelos mentais explicativos para o fenmeno
qumico em questo desenvolveu-se tambm a partir da
transmisso cultural ou ensino (Borges, 1997).
Embora a discusso sobre a conceituao de modelos
mentais seja ampla e nem sempre consensual, Borges (1997,
p. 210) ressalta o que parece ser comum s diferentes con-
cepes desse conceito:
O que parece fundamental nas vrias concepes
do conceito de modelo mental a nfase na ideia
de rodar o modelo na imaginao. Isso permite
ao usurio falar sobre situaes passadas e futuras,
permitindo que ele tome decises, faa previses e
faa inferncias sobre o comportamento futuro do
sistema representado.
Para identicar os modelos mentais dos alunos, os profes-
sores podem utilizar questes gerais, que permita aos alunos
expressarem o que observam, como explicam e quais suas
previses sobre um dado sistema em estudo (Borges, 1997).
Na nossa pesquisa, essas questes gerais foram expressas da
seguinte forma: Vocs saberiam dizer do que so feitos os
fogos de artifcio? O que produz cor nos fogos de artifcio?
Existe alguma relao entre a cor produzida pelos fogos e
os tomos que constituem a matria?
A identicao dos modelos mentais dos alunos utiliza-
dos para explicar por que os fogos de artifcio so coloridos, a
partir das informaes obtidas em sala de aula sobre modelos
atmicos, permitir identicar as compreenses desse tema
na explicao de um fenmeno, j que:
[...] os modelos mentais so
usados para caracterizar as
formas pelas quais as pessoas
compreendem os sistemas fsi-
cos com os quais interagem.
Eles servem para explicar o
comportamento do sistema,
fazer previses, localizar fa-
lhas e atribuir causalidade
aos eventos e fenmenos observados. (Borges, 1997,
p. 209)
A importncia dessa identicao inclui o fato de que
aprender cincias implica em assumir modelos mentais
cada vez mais elaborados e consistentes sobre fenmenos
do cotidiano.
Para anlise da atuao dos licenciandos, utilizaremos
como referencial os Discursos do Professor (Villani e Barolli,
2006). A categoria na qual o discurso classicado depende
da relao entre o professor (agente) e o aluno (o outro), ou
seja, no unilateral:
[...] todo discurso pressupe um agente que fala
a partir de sua verdade e um outro -, a quem se
destina o discurso, que na estrutura discursiva ir,
eventualmente, produzir algo, de acordo com aquilo
que o agente lhe demandar. (Villani e Barolli, 2006,
p. 157)
E ainda,
[...] o tipo de discurso, bem como seu efeito, depen-
der de como se congura a relao entre o agente
e o outro. (Villani e Barolli, 2006, p. 157)
Os Discursos do Professor podem ser explicitados pela
compreenso de quatro categorias fundamentais:
a) Discurso do mestre caracterizado por uma relao
de domnio do professor sobre o saber em jogo nas vertentes
cientca, pedaggica e/ou disciplinar. Ele no presta conta
ao Outro nem h possibilidade de contestao por parte dos
alunos. Sua posio de autoridade. Tambm h pouco es-
pao para escuta. O efeito uma captura ou a manuteno
do aluno para um novo tipo de atuao ou de cultura.
Nesse caso o signicante que ocupa o lugar de
agente fala da posio de quem tudo sabe; o discur-
so de quem no presta conta a ningum e determina
que o outro trabalhe para ele, para produzir aquilo
que ele quer. (Villani e Barolli, 2006, p. 158)
Um exemplo do predomnio desse tipo de discurso
quando o professor demonstra para seus alunos que existe
o mtodo que propiciar uma aprendizagem adequada do
conhecimento cientco.
b) Discurso da universidade o professor, quando adota
esse tipo de discurso, passa a ser
o mediador entre o aluno e algum
tipo de conhecimento produzido
pelos especialistas. O professor,
na perspectiva desse conhecimen-
to, desempenha o papel de guar-
dio para que a verdade do Outro
(no caso a Cincia ou Didtica ou
at a Burocracia) torne-se a lei do
aluno. O efeito desse discurso introduzir no aluno uma
insatisfao ou, ao menos, um confronto com algo perfeito.
[...] o agente encarna um saber, cuja verdade re-
calcada a Lei, ou seja, algo que assim, sem
justicativa. Isso signica que esse discurso a mera
racionalizao a servio de uma Lei ou de um Dogma.
(Villani e Barolli, 2006, p. 159)
Para identificar os modelos mentais dos
alunos, os professores podem utilizar
questes gerais, que permita aos alunos
expressarem o que observam, como
explicam e quais suas previses sobre um
dado sistema em estudo (Borges, 1997).
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
118
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
Cabe aqui ressaltar a diferena entre o discurso do mestre
e o da universidade. No primeiro, o agente (professor) no
presta conta a ningum, de tal forma a no considerar se quer
as concepes prvias dos alunos. No da universidade, o
professor se compromete com o conhecimento cientco e/ou
didtico-pedaggico, sendo esse
comprometimento to evidente
que esse conhecimento passa a ser
o agente mediado pelo professor.
c) Discurso da histrica ca-
racterizado pela insatisfao do
professor em relao situao
atual e por sua tendncia pro-
vocao contnua no campo cien-
tco, pedaggico ou dialgico
para uma aproximao a um ideal.
Podemos identicar essa posio
como a de um provocador, cujo efeito no aluno um avano
no saber. Por exemplo, uma estratgia que explora os con-
itos dos alunos para produzir mudanas uma forma de
discurso da histrica nas situaes em que atinge o aluno.
O professor sinaliza para os alunos que algo est faltando
para a maestria e estes se sentem desaados.
Se o que est em jogo o ensino do conhecimento
cientco e o professor opera a partir desse discurso,
ele ir colocar em questo o aluno, para que ele pro-
duza algo para alm de seus conhecimentos prvios,
o que at ento lhe bastava. (Villani e Barolli, 2006,
p. 168)
No nosso caso, a predominncia desse discurso deveria
ocorrer quando se desejasse provocar os alunos para que
estes fossem alm da memorizao dos modelos atmicos
discutidos em sala de aula, sendo capazes de produzir expli-
caes sobre o fenmeno observado por meio da elaborao
de modelos mentais que contemplassem aqueles modelos
atmicos.
d) Discurso do analista caracteriza-se por procurar
favorecer a escolha de uma aprendizagem autnoma por
parte do aluno. Podemos identicar sua posio como a de
um assessor disponvel para orientar e sustentar os alunos
em suas iniciativas.
A situao mais simples na qual pode ser encon-
trado este tipo de discurso quando o aprendiz j
amadureceu em seu processo de aprendizagem e
toma a iniciativa de propor ao formador novas situ-
aes que este no domina completamente. (Villani
e Barolli, p. 170, 2006, grifo nosso)
Coleta e anlise dos dados
No primeiro encontro, os licenciandos aplicaram um
questionrio aos alunos da escola pblica a m de conhecer
dados pessoais como idade, localizao de moradia, tempo
de estudo, dados das condies econmicas bsicas da fam-
lia. No entanto, essas informaes no foram consideradas
na anlise dos dados.
No segundo contato, foi feita a vericao dos conheci-
mentos prvios dos alunos. A turma foi dividida aleatoria-
mente em quatro grupos, sendo
estes repetidos durante todo o
projeto. O grupo era composto
por oito alunos. O objetivo dessa
diviso era promover a interao
e o trabalho em equipe, embora
as respostas fossem tomadas de
forma individual. Ainda nesse dia,
foi feito o seguinte questionamen-
to: o que voc entende por tomo?
Os alunos primeiro discutiram
com os componentes do seu grupo
e, em seguida, cada um exps sua ideia em um pedao de
papel entregue aos licenciandos no nal do encontro.
Como a demanda dos licenciandos era a produo por
parte dos alunos de seus modelos mentais para o conceito de
tomo, criado cienticamente e fundamental para a compre-
enso da qumica, conclumos que o discurso predominante
foi o da universidade, pois os licenciandos eram guardies
de um conhecimento na rea pedaggica que contempla um
modelo de ensino que leva em considerao as concepes
prvias como fundamentais na construo do conhecimento.
Em outras palavras, o predomnio do discurso da uni-
versidade deveria provocar um confrontamento com o saber
dos alunos (sujeito) sobre modelos atmicos, levando-os a
perceber que havia algo a ser buscado:
[...] a produo de uma diviso no sujeito que pode
ter a funo de acordar o sujeito de suas iluses de
saber, confrontando-o com a realidade de sua igno-
rncia em relao ao saber pretendido. (Villani e
Barolli, 2006, p. 167)
No segundo encontro, os pedaos de papis contendo
as respostas foram devolvidos aos alunos para uma melhor
discusso com o grupo na elaborao de suas respostas indi-
viduais, resultando nas concepes explicitadas na Tabela 1.
A maioria dos alunos (62%) comparou tomos a bolinhas
e 38% utilizaram o termo partcula. Conclumos, a partir
desses dados, que o modelo predominante na mente dos
Tabela 1: Concepes dos estudantes sobre o que tomo.
CONCEPES
PORCENTAGEM
DE ALUNOS
uma massa em forma de bolinhas 27%
Pequena partcula de um indivduo 15%
Bolinhas de massa muito pequena 35%
Menor partcula da matria 23%
No segundo contato, foi feita a verificao
dos conhecimentos prvios dos alunos.
A turma foi dividida aleatoriamente em
quatro grupos, sendo estes repetidos
durante todo o projeto. O grupo era
composto por oito alunos. O objetivo
dessa diviso era promover a interao e o
trabalho em equipe, embora as respostas
fossem tomadas de forma individual.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
119
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
alunos era o de Dalton, independentemente de terem sido
expostos s explicaes dos modelos atmicos de Thomson,
Rutherford e Bohr durante suas aulas de qumica.
Percebemos que os alunos no concebiam o tomo como
uma construo cientca, pois no estabeleciam limites para
o uso de cada modelo e consideravam o tomo como uma
unidade slida e real. Essa percepo baseou-se no fato de
eles no questionarem para explicao de qual fenmeno os
licenciandos desejavam a utilizao do modelo atmico, pois
a escolha do modelo deve ser feita dependendo de como os
tomos modelados sero usados. Os alunos consideraram o
tomo como uma unidade real e palpvel e no um modelo
construdo cienticamente e com limitaes estabelecidas
pelo fenmeno a ser justicado.
No terceiro encontro, os licenciandos questionaram os
alunos sobre o que estes entendiam por partcula, e as res-
postas se limitavam ao uso de termo bolinha.
Os licenciandos argumentaram que os alunos no conse-
guiram expressar alm do que j haviam feito. No entanto,
no perceberam suas diculdades em fazer predominar o
discurso da histrica, pois este os colocaria na condio de
agentes provocadores de uma insatisfao com o modelo
apreendido pelos alunos, para que estes se aproximassem de
um ideal, ou seja, compreender que o modelo uma entidade
construda cienticamente, abstrata e no palpvel.
No quarto encontro, os licenciandos tentaram sistema-
tizar na lousa as informaes que os alunos tinham sobre
modelo atmico de Dalton, Thomson e Bohr, na tentativa de
faz-los perceber que: cada modelo apresenta limitaes na
explicao de um dado fenmeno; uma construo histrica
mais adequada; a compreenso de como o conhecimento
cientco construdo e serem capazes de pormenorizar
modelos diferentes do de Dalton.
No entanto, nessa sistematizao, os licenciandos
migraram predominantemente para o discurso do mestre
sobre os saberes referentes aos modelos atmicos, pois
apresentaram os modelos cientcos novamente, acredi-
tando que a forma como abordavam seria mais bem assi-
milada. Entretanto, a exposio
desse contedo foi feita como se
um modelo tivesse sido substi-
tudo por outro sem considerar
os limites de cada um e, ainda,
desconsideraram as concepes
dos alunos na exposio dos con-
tedos, ou seja, no conseguiram
colocar em prtica as propostas
levantadas nas aulas da disciplina
estgio supervisionado.
A funo de provocadores no
foi exercida mesmo aps constata-
rem, durante a disciplina de estgio, as limitaes em relao
compreenso de modelos atmicos e modelos cientcos.
A mediao do conhecimento no contemplou formas
contundentes de incomodar o saber dos alunos, levando-
-os a um novo pensar. O que ocorreu foi uma explanao e
abordagem histrica tradicional dos modelos atmicos com
ausncia de questes que propiciassem discusses, ou seja,
reproduziram um modelo de ensino contemplado durante
toda a sua vida escolar.
Durante o quinto encontro com a turma, foram feitas as
seguintes perguntas:
O que produz cor nos fogos de artifcio? Existe alguma
relao entre a cor e os tomos que constituem a matria?
O discurso implcito nessa pergunta era o de provocar
algum tipo de conito em relao ao modelo atmico de
Dalton, no qual o tomo a menor parte indivisvel da mat-
ria. Esse modelo seria insuciente para justicar o fenmeno
da produo de luz colorida quando da queima de fogos de
artifcio, ou seja, os licenciandos tinham em mente a prtica
predominante do discurso da histrica.
Os alunos discutiram a questo em grupo, resultando
nos dados coletados com respostas individuais e resumidas
na Tabela 2.
A partir das respostas acima, percebemos que 91% dos
alunos vincularam a colorao emitida quando da queima de
fogos de artifcio existncia de corantes, ou seja, os alunos
no justicaram a cor por meio da utilizao de modelos
cientcos, no caso o atmico, pois acreditavam que a cor
emitida estava relacionada com a cor das substncias que
compunham o material combustvel desses fogos. O conhe-
cimento escolar no foi utilizado
para justicar um fenmeno do
cotidiano do aluno, conrman-
do uma viso substancialista
(Mortimer, 1995) da matria.
Os licenciandos no enten-
deram porque mesmo aps a
explanao, feita por eles no
quarto encontro, sobre modelos
atmicos, esse elo entre o fen-
meno e os modelos cientficos
no foi estabelecido. Eles no
perceberam que, durante essa
explanao, muito faltou para o predomnio do discurso
da histrica, mas sim o discurso da universidade, praticado
tambm pelas professoras desses alunos. Os licenciandos
acreditavam que as questes, formuladas por eles durante o
quinto encontro, seriam sucientes para gerar um conito,
Tabela 2: Concepes sobre causas das cores nos fogos de
artifcio.
RESPOSTAS
PORCENTAGEM
DOS ALUNOS
O que produz as cores so os quisu-
ques (suco de frutas em p colorido)
28%
Corantes 53%
Substncias quaisquer 9%
Plvora colorida 10%
A mediao do conhecimento no
contemplou formas contundentes de
incomodar o saber dos alunos, levando-
os a um novo pensar. O que ocorreu foi
uma explanao e abordagem histrica
tradicional dos modelos atmicos com
ausncia de questes que propiciassem
discusses, ou seja, reproduziram um
modelo de ensino contemplado durante
toda a sua vida escolar.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
120
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
novas questes e um avano no saber. No entanto, os alunos
no foram atingidos e se utilizaram de suas concepes
simplistas e no cientcas para justicar o fenmeno sobre
o qual foram questionados.
No sexto encontro, os licenciandos propuseram a seguinte
questo:
Vocs saberiam dizer de que so feitos os fogos de
artifcio?
Novamente, os licenciandos tentaram praticar o discurso
da histrica com essa questo na tentativa de incomodar o
saber assumido pelos alunos.
Os dados obtidos a partir das respostas individuais dos
alunos, mas fruto de uma discusso em grupo, foram resu-
midos na Tabela 3.
Comparando a Tabela 2 com a 3, os licenciandos con-
rmaram que os alunos se detiveram nas caractersticas
macroscpicas e no utilizaram os modelos atmicos apre-
sentados em sala de aula e rediscutidos pelos licenciandos.
As explicaes dos alunos continuavam apoiadas no feno-
menolgico, no visvel e no nos modelos cientcos, no
abstrato.
No stimo encontro, foi utilizado um texto e este foi
lido pargrafo por pargrafo pelos alunos e explicitados
pelos licenciandos quando questionados sobre termos nele
utilizados. Aps a mediao da leitura, os licenciandos
solicitaram nova leitura individual com posterior discusso
entre os elementos do grupo.
Selecionamos uma parte do texto que fazia meno ao
modelo de Bohr e que, na opinio dos licenciandos, poderia
ser utilizado pelos alunos para justicar a cor dos fogos de
artifcio:
FOGOS DE ARTIFCIO: BONITO PARA OS OLHOS, UM
PERIGO PARA AS MOS!
[...] As cores produzidas em um show de fogos de arti-
fcio podem ser produzidas a partir de dois fenmenos: a
incandescncia e a luminescncia.
A incandescncia a luz produzida pelo aquecimento de
substncias. Quando se aquece um metal, por exemplo, ele
passa a emitir radiao infravermelha, que vai se modi-
cando at se tornar radiao visvel na cor branca. Isso ir
depender de qual temperatura atingida. Um exemplo de
incandescncia so as lmpadas, onde existe um lamento
Tabela 3: Concepes sobre a composio dos fogos de
artifcio.
RESPOSTAS
PORCENTAGEM
DOS ALUNOS
Plvora, bambu, cordo e quisuque,
palito de fsforo
30%
Corante, plvora, cordo e areia 50%
Plvora, corante ou plvora colorida,
areia, papel crepom e palito de fsforo.
20%
de tungstnio que aquecido e passa a produzir luz, a partir
da incandescncia.
A luminescncia a luz produzida a partir da emisso
de energia, na forma de luz, por um eltron excitado, que
volta para o nvel de energia menos energtico de um tomo.
Esta uma caracterstica de cada elemento qumico. Ou
seja, sais de sdio quando aquecidos, emitem luz amarela,
j os sais de estrncio e ltio produzem luz vermelha, os de
brios produzem luz verde e assim por diante. Os fogos de
artifcio utilizam deste fenmeno e desta variedade, uma vez
que h fogos das mais diversas cores. [...]
A utilizao do texto tinha como objetivo vericar se
ocorreria alguma evoluo conceitual no sentido da utili-
zao do modelo particulado da matria para justicar um
fenmeno. Os licenciandos rezeram a pergunta: O que
produz as cores nos fogos de artifcio? Existe alguma rela-
o entre a cor e os tomos que constituem a matria? As
respostas obtidas foram sintetizadas na Tabela 4.
Os licenciandos perceberam que 75% dos alunos
retiraram termos cientcos do texto para responder ao
questionamento, mas tais termos no foram utilizados da
maneira desejada, pois continuaram atribuindo substncia
a colorao e no aos elementos que a compem em funo
da excitao eletrnica, o que nos remete ao escrito por
Galagovsky e Adriz-Bravo (2001, p. 232, traduo nossa):
[...] muitas vezes vericamos a declamao de tex-
tos memorizados, porm com o passar do tempo
aprendizagens aparentemente corretas se desfazem,
aparecendo novamente ideias errneas, no corres-
pondentes ao modelo cientco apropriado.
De fato, embora os alunos tenham utilizado termos como
incandescncia e luminescncia, a justicativa, que consta
no texto em funo da excitao eletrnica, associada ao
modelo atmico de Bohr, no foi utilizada como hiptese
para justicar a cor.
Novamente os licenciandos tentaram se apoderar do dis-
curso da histrica, pois utilizaram um texto na tentativa de
Tabela 4: Concepes sobre colorao dos fogos aps leitura
do texto.
CONCEPES
PORCENTAGEM
DOS ALUNOS
Produz cor devido a dois fenmenos: in-
candescncia e luminescncia causadas
por uma substncia.
30%
Produz cor porque tem alguma substn-
cia nela que d origem a incandescncia
e luminescncia.
45%
porque sem energia os fogos no iam
produzir cor, pois tem algum composto
que produz essa cor.
25%
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
121
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
provocar uma insatisfao com a justicativa macroscpica
sobre a colorao, ou seja, a cor dos fogos est associada
cor da substncia. No entanto, a forma como mediaram o tex-
to, comum entre professores em formao, demonstra uma
expectativa de que a simples leitura do texto permitiria que
os alunos chegassem s concluses desejadas. Entretanto, a
leitura deveria ter sido mediada com novas questes e novas
provocaes para uma melhor compreenso dos signicados
cientcos contidos no texto.
Os licenciandos, de um modo geral, queixaram-se da
diculdade em saber qual questo fazer aps uma resposta
considerada inadequada aos seus propsitos. No foram
capazes de produzir um retorno com uma nova questo para
produzir uma nova hiptese e sentiram-se despreparados para
a mediao da leitura.
Nos dois ltimos encontros, os licenciandos tentaram
fazer nova provocao por meio da utilizao de um expe-
rimento. Pretendiam que os alunos
produzissem hipteses nas quais
os modelos atmicos fossem uti-
lizados na justicava da colorao
nas luzes emitidas pelos fogos de
artifcio. O discurso da histrica
foi planejado, mas s ser conside-
rado efetivo se produzir um avano
no saber do aluno.
Resumiremos o procedimento experimental: colocou-se
lcool anidro em um cadinho e este foi queimado, produzindo
uma chama uniforme. Foram utilizadas trs solues: con-
tendo gua e sal de cloreto de brio; gua e sal de cloreto de
cromo; e gua e sal de cloreto de estrncio. Essas solues
foram colocadas em trs borrifadores cobertos com papel
fosco. Em seguida, as solues foram borrifadas em direo
a chama, uma por uma. Cada soluo produziu uma cor
caracterstica, ou seja, a soluo de cloreto de brio emitiu
chama de colorao rosa, j a soluo de cloreto de cromo
formou chama de colorao verde e nalmente a soluo de
cloreto de estrncio emitiu a cor vermelha.
Os licenciandos zeram a seguinte questo aos alunos:
Por que as chamas de diferentes sais produziam cores distin-
tas? Novamente os alunos associaram a colorao da chama
com a cor da soluo. Eles acreditavam, por exemplo, que
se a soluo de sal brio emitiu uma colorao rosada, ento
o sal de brio apresentaria essa cor tambm.
Os licenciandos mostraram aos alunos que as solues
eram todas incolores. Solicitaram aos alunos a formao
de uma nova hiptese para a colorao da chama, mas os
alunos, percebendo que erraram, caram aguardando dos
licenciandos a resposta correta, caracterizando a prtica do
discurso do mestre, pois nele o professor o detentor do
conhecimento sem possibilidade de contestao por parte do
aluno e, de fato, foi o discurso praticado pelos licenciandos.
Quando questionados, durante a disciplina de estgio
supervisionado da razo de no terem gerado novas pro-
vocaes, os licenciandos disseram no saber mais o que
fazer para que os alunos entendessem. Consequentemente,
justicaram as diferentes coloraes das chamas utilizando
partes do texto que relacionavam a cor da chama com a ex-
citao eletrnica. Os alunos no contestaram e aceitaram
aquilo como verdade.
Os licenciandos, por falta de tempo, no tiveram a oportu-
nidade de saber se houve uma captura desse discurso perce-
bida por meio de uma atuao nova perante situao similar.
Consideraes nais
Percebemos que quando o aluno questionado sobre o
que o tomo, o modelo mental que prevalece o modelo
de Dalton, embora o aluno no tenha a concepo de que
modelo uma criao cientca e no uma entidade real.
Esse modelo no utilizado para pensar a matria como um
modelo particulado, pois as explicaes para a colorao dos
fogos de artifcio foram sempre baseadas no que os sentidos
humanos podem perceber, ou
seja, a colorao da chama foi
associada colorao dos sais,
independentemente dos esforos
dos licenciandos para a utilizao
dos modelos atmicos para expli-
citar esse fenmeno.
Nossa hiptese de que,
como os modelos atmicos so
inseridos em uma unidade estanque e no conectada para
estabelecer modelos para a matria e, portanto, para as
substncias, os alunos no conseguiram utilizar os modelos
criados para os tomos para fornecer explicaes atomistas
para um fenmeno cotidiano, ou, ainda, a forma como os
conceitos foram abordados no lhes permitiu entender como
se constri cincia e que esta est em constante modicao.
Uma alternativa, talvez, mais profcua seria iniciar o
ensino de qumica pela explicao de como os modelos cien-
tcos se constituem historicamente como criaes mentais
de um mundo invisvel. Dessa forma, acreditamos que os
alunos melhorariam seus modelos mentais (Borges, 1997)
sobre a matria a partir de modelos atmicos.
Por outro lado, os licenciandos idealizadores da pesquisa
aplicada, embora pretendessem agir como provocadores,
permitiram a predominncia dos discursos da universidade
e do mestre, resultando em pouco avano no saber por parte
do aluno, pois:
[...] os efeitos no muito favorveis associados tanto
ao Discurso do Mestre como ao da Universidade
devem ser entendidos como resultado do domnio
prolongado destes discursos sobre a cena escolar.
Quando estabelecidos de maneira eventual ou res-
pondendo a uma situao especca, eles podem,
por meio de diferentes efeitos, contribuir para que o
aprendiz se mobilize para aprender. (Villani e Barolli,
2006, p. 167)
Os licenciandos no conseguiram estruturar questes e
Percebemos que quando o aluno
questionado sobre o que o tomo, o
modelo mental que prevalece o modelo
de Dalton, embora o aluno no tenha a
concepo de que modelo uma criao
cientfica e no uma entidade real.
Diculdades de Ensino e Aprendizagem dos Modelos Atmicos QUMICA NOVA NA ESCOLA
122
Vol. 35, N 2, p. 112-122, MAIO 2013
mediaes pedaggicas que permitissem a expresso dos
modelos mentais dos alunos sobre a matria a partir do que
lhes foi ensinado na sala de aula. A pesquisa sobre a prpria
prtica os fez reetir sobre aquilo que consideravam solu-
o para uma problemtica to delicada, como o ensino de
modelo por meio do uso da experimentao, instigando-os
a novas tentativas futuras, talvez mais profcuas e menos
idealizadoras.
Os licenciandos perceberam que a elaborao de mode-
los mentais pelos alunos na explicitao de um fenmeno
qumico no ocorre de uma forma abrupta, com uma questo
problematizadora, um experimento ou um texto, necessrio
elaborar novas questes, pensar novas formas de mediar e
persistir no estudo das diculdades dos alunos, como bem
consideram Greca e Moreira (2002, p. 36):
[...] as diculdades conceituais enfrentadas pelos
estudantes em relao a um determinado campo con-
Referncias
BORGES, A.T. Um estudo de modelos mentais. Rev. Investi-
gaes em Ensino de Cincias, v. 2, n. 3, 1997.
BUNGE, M. La investigacion cientica. Barcelona: Ariel,
1976.
CARVALHO, G.C. e SOUZA, C.L. Qumica: de olho no mundo
do trabalho. So Paulo: Scipione, 2007.
CARVALHO, A.M.P. Uma metodologia de pesquisa para ana-
lisar os processos de ensino e aprendizagem em salas de aula. In.
GRECA, I.M. e SANTOS, F.M.T. Pesquisa em ensino de cincias
no Brasil e suas metodologias. Iju: Ed. Uniju, 2006.
CARROL, J.M. e OLSON, J.R. Mental models in human-
computer interaction. In. HELANDER, M. (Org.). Handbook of
human-computer interaction. Amsterdam: Elsevier, 1988.
CHASSOT, A. Alfabetizao cientca. Iju: Ed. Uniju, 2001.
______. Sobre provveis modelos de tomos. Qumica Nova
na Escola, n. 3, maio 1996.
FELTRE, R. Fundamentos da qumica qumica, tecnologia
e sociedade. 4. ed. So Paulo: Moderna, 2005.
GALAGOVSKY, L. e ADRIZ-BRAVO, A. Modelos e ana-
logas en la enseanza de las ciencias naturales. El concepto de
modelo didctico e analgico. Enseanza de Las Ciencias, v. 19,
n. 2, p. 231-242, 2001.
GAROFALO, A. Housing electrons: relating quantum numbers,
energy levels, and electron conguration. Journal Chemical
Education, v. 74, n. 6, p. 709, 1997.
GRECA, I.M. e MOREIRA, M.A. Alm da deteco de
modelos mentais dos estudantes uma proposta representacional
integradora. Rev. Investigaes em Ensino de Cincias, v. 7, n.
1, p. 31-53, 2002.
LOPES, A.C. Livros didticos: obstculos ao aprendizado da
cincia qumica. Qumica Nova, v. 1, n. 3, p. 254-261, 1992.
MELO, M.R. Estrutura atmica e ligaes qumica uma
abordagem para o ensino mdio. 2002. Dissertao (Mestrado)
- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.
MASKILL, R. e JESUS, H.P. Asking model questions. Educa-
tion in Chemistry, v. 32, n. 5, p. 132-134, 1997.
MORTIMER, E.F. Concepes atomistas dos estudantes.
Qumica Nova na Escola, v. 1, maio 1995.
NAKHLEH, M.B. Why some students dont learn chemistry.
Journal of Chemical Education, v. 69, n. 3, mar. 1992.
NOGUEIRA NETO, A.C. e DIAS, J.R.G. Qumica para o
ensino mdio. 2. ed. So Paulo: IBEP, 2005.
PERUZZO, F.M. e CANTO, E.L. Qumica na abordagem do
cotidiano; v. 1. 2. ed. So Paulo: Moderna, 1998.
______. Qumica na abordagem do cotidiano; v. nico. 3. ed.
So Paulo: Moderna, 2007.
PIMENTEL, G.C. e SPRATLEY, R.D. Understanding chem-
istry. London: Holden-Day, 1971.
POZO, J.I. e CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de
cincias do conhecimento cotidiano ao conhecimento cientco.
5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
SOUZA, V.C.A.; JUSTI, R. e FERREIRA, P.F.M. Analogias
utilizadas no ensino dos modelos atmicos de Thomson e Bohr:
uma anlise crtica sobre o que os alunos pensam a partir delas.
Rev. Investigaes em Ensino de cincias, v. 2, n. 1, p. 7-28, 2006.
VILLANI, A. e BAROLLI, E. Os discursos do professor e o
ensino de cincias. Pro-Posies, v. 17, n. 1, jan./abr./2006.
Abstract: Teaching and Learning Difculties about Atomic Models in Chemistry. Studies show the importance of adequate conception of what is scientic
model. In chemistry we work with several models and learners elaborate mental models that may or may not approach the scientic models. In this paper, we
present the application of text and experiment a group of high school, which had been exposed to the historical development of atomic models to evaluate the
students ability to use the theory in the classroom captured in the survey of hypotheses to explain everyday phenomena. We try to lift the limitations of the
strategies applied by both proponents of undergraduate research required on teacher training course of UFS, as assessed by the mediation of the didactic type
of Speeches of the teacher (Villani e Barolli, 2006) prevalent in the application of research.
Key words: atomic models; training of teachers; Speeches of the teacher.
ceitual no podem ser contornadas de golpe algo
assim como tentar a mudana conceitual a partir de
uma nica situao insatisfatria seno que elas
seriam superadas progressiva e lentamente.
Essa avaliao crtica e reexiva s foi possvel a partir
da pesquisa da prpria prtica, auxiliada pela docente orien-
tadora e seus colegas de licenciatura, permitindo uma viso
mais realista sobre a atuao docente desses licenciandos.
Marlene Rios Melo (marlenemelo@terra.com.br), bacharel em Qumica e Qumica
tecnolgica pela Universidade de So Paulo (USP); licenciada em Qumica pela
Faculdade Oswaldo Cruz, mestre em Qumica Inorgnica, com linha de pesquisa em
Ensino de Qumica, pela Unicamp; doutora em Ensino de Cincias e Matemtica
pela USP, professora adjunto do Departamento de Qumica e vinculada ao Ncleo
de Ps-Graduao em Ensino de Cincias e Matemtica da UFS. So Cristovo,
SE BR. Edmilson Gomes de Lima Neto (netoquim_88@hotmail.com), licenciado
em Qumica pela UFS, professor de Qumica em escola particular de ensino
mdio de Aracaju. Aracaju, SE BR.
Você também pode gostar
- Emoções e SentimentosDocumento6 páginasEmoções e SentimentosCleber Max Vieira GasquesAinda não há avaliações
- Processo de Luto TCCDocumento4 páginasProcesso de Luto TCCNayara S. Nunes100% (2)
- Jogos QuímicaDocumento44 páginasJogos QuímicaAdriano Costa100% (1)
- Analogias Utilizadas No Ensino Dos Modelos Atômicos de Thomson e BohrDocumento22 páginasAnalogias Utilizadas No Ensino Dos Modelos Atômicos de Thomson e BohrrobsonssoutoAinda não há avaliações
- Artigo para AD EF9Documento18 páginasArtigo para AD EF9Elton RodriguesAinda não há avaliações
- Texto 2 - Recursos Didáticos UnBDocumento9 páginasTexto 2 - Recursos Didáticos UnBLuis Henrique Oliveira Da CostaAinda não há avaliações
- Artigo Cientifico Modelo AtomicoDocumento6 páginasArtigo Cientifico Modelo Atomiconathanquintanilha2017Ainda não há avaliações
- 2789 Eletiva 2024Documento10 páginas2789 Eletiva 2024Alane LimaAinda não há avaliações
- Modelos AtomicosDocumento12 páginasModelos AtomicosEdivandoAlvesAinda não há avaliações
- A Importância Da Experimentação No Ensino de QuímicaDocumento24 páginasA Importância Da Experimentação No Ensino de QuímicaKagarro UtakataAinda não há avaliações
- Trabalho Ev127 MD1 Sa16 Id9729 26092019205816Documento8 páginasTrabalho Ev127 MD1 Sa16 Id9729 26092019205816silvania sousaAinda não há avaliações
- Anti-Projecto Seminario 2015Documento12 páginasAnti-Projecto Seminario 2015antonio assunção afonso AfonnsoAinda não há avaliações
- Educação PassivaDocumento11 páginasEducação Passivametamorfose_23Ainda não há avaliações
- Dialnet ModeloDeDrudeEAInteracaoDaLuzComAMateria 8085581Documento28 páginasDialnet ModeloDeDrudeEAInteracaoDaLuzComAMateria 8085581gysmouraAinda não há avaliações
- QNEsc Analogias No Ensino de QuimicaDocumento10 páginasQNEsc Analogias No Ensino de QuimicaDiego NascimentoAinda não há avaliações
- 23 4Documento21 páginas23 4perla6009Ainda não há avaliações
- Lima, Silva, 1997Documento5 páginasLima, Silva, 1997Jeniffer ToledoAinda não há avaliações
- Silva e Catelli - Os Modelos Na CiênciaDocumento9 páginasSilva e Catelli - Os Modelos Na CiênciaAna CarneiroAinda não há avaliações
- SínteseDocumento16 páginasSínteseasdasd sadAinda não há avaliações
- Narrativa Reflexiva - Instrumento Que Favorece A Formação de Professores de QuímicaDocumento9 páginasNarrativa Reflexiva - Instrumento Que Favorece A Formação de Professores de QuímicasicodaAinda não há avaliações
- (Re) Significando Concepções de Ciências de Futuros Professores de QuímicaDocumento10 páginas(Re) Significando Concepções de Ciências de Futuros Professores de QuímicaMacilene AraujoAinda não há avaliações
- Oficina Temática Uma Proposta Metodológica para o Ensino Do Modelo Atômico de BohrDocumento15 páginasOficina Temática Uma Proposta Metodológica para o Ensino Do Modelo Atômico de BohrGiovanna StefanelloAinda não há avaliações
- Laburú e Gouveia - A Aprendizagem Da Representação Dos Circuitos ElétricosDocumento11 páginasLaburú e Gouveia - A Aprendizagem Da Representação Dos Circuitos ElétricosRaian SânderAinda não há avaliações
- 03 - A Experimentação No Ensino de Química e CiênciasDocumento6 páginas03 - A Experimentação No Ensino de Química e Ciênciasgalindo2105Ainda não há avaliações
- Investigações Envolvendo Livros Didáticos de Matemática Do Ensino Médio: A Trajetória de Um Grupo de PesquisaDocumento19 páginasInvestigações Envolvendo Livros Didáticos de Matemática Do Ensino Médio: A Trajetória de Um Grupo de PesquisaJosé LorranAinda não há avaliações
- Construção de Modelos Moleculares Com Material Alternativo eDocumento14 páginasConstrução de Modelos Moleculares Com Material Alternativo eLucasHenriqueAinda não há avaliações
- Ensino de Fisica Moderna No Ensino Medio Uma PropoDocumento17 páginasEnsino de Fisica Moderna No Ensino Medio Uma PropoSilva CorreaAinda não há avaliações
- Artigo Bioética ModelosDocumento13 páginasArtigo Bioética ModelosMarciano SantosAinda não há avaliações
- SKOVSMOSE - Desafios Da Reflexão em Educação Matemática CríticaDocumento7 páginasSKOVSMOSE - Desafios Da Reflexão em Educação Matemática CríticaPatric MenezesAinda não há avaliações
- Banner Juscelino PDFDocumento1 páginaBanner Juscelino PDFSimoneHelenDrumondAinda não há avaliações
- Texto 1 - Analogias e Metáforas No Cotidiano de ProfessorDocumento13 páginasTexto 1 - Analogias e Metáforas No Cotidiano de ProfessorsamteiAinda não há avaliações
- ATIVIDADE 4 - Esquema (Mapa Conceitual) e ResumoDocumento2 páginasATIVIDADE 4 - Esquema (Mapa Conceitual) e ResumoVictor Firmino de AraújoAinda não há avaliações
- EquilibrioDocumento13 páginasEquilibrioanon-355055100% (1)
- Modelagem MatemáticaDocumento12 páginasModelagem Matemáticagersonfn5656Ainda não há avaliações
- Cópia de 9 CIENCIASDocumento22 páginasCópia de 9 CIENCIASAline Vanessa Silva SantosAinda não há avaliações
- Maria Bernadete OliveiraDocumento17 páginasMaria Bernadete OliveiraFranciela ZamariamAinda não há avaliações
- Modelos Didáticos para o Ensino de CiênciasDocumento11 páginasModelos Didáticos para o Ensino de CiênciasTati AlvesAinda não há avaliações
- Slide GEMATEC - Apresentação Do Multiverso - Final (2017)Documento29 páginasSlide GEMATEC - Apresentação Do Multiverso - Final (2017)jonhAinda não há avaliações
- Reações de Combustão e Impacto AmbientalDocumento7 páginasReações de Combustão e Impacto AmbientalAdriana Ferreira BarbosaAinda não há avaliações
- 000593450 (1)Documento178 páginas000593450 (1)imperador.luizAinda não há avaliações
- Anexo 1 - A Didatica Da MatematicaDocumento9 páginasAnexo 1 - A Didatica Da MatematicaAlessandra PachecoAinda não há avaliações
- 054adm - Teorias e Modelos Nas Ciências AdmDocumento9 páginas054adm - Teorias e Modelos Nas Ciências AdmLuis Julio Carlos PiresAinda não há avaliações
- 10783-Texto Do Artigo-36208-1-10-20130502Documento22 páginas10783-Texto Do Artigo-36208-1-10-20130502Artur CoelhoAinda não há avaliações
- Resumo - Thomas KuhnDocumento2 páginasResumo - Thomas KuhnLeonardo SantosAinda não há avaliações
- 945 7740 1 PBDocumento12 páginas945 7740 1 PBTiempox YZAinda não há avaliações
- Quimica - e - Arte - para - A - Antigopdf PT-BRDocumento7 páginasQuimica - e - Arte - para - A - Antigopdf PT-BRMaria Bento MariaAinda não há avaliações
- Saber Científico Vs Saber EscolarDocumento12 páginasSaber Científico Vs Saber EscolarOscar VelezAinda não há avaliações
- Lig Quimica JustiDocumento11 páginasLig Quimica JustiAnalice de Almeida LimaAinda não há avaliações
- 4437 27903 1 PBDocumento4 páginas4437 27903 1 PBLucia HelenaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro de NardiDocumento8 páginasFichamento Do Livro de NardiIldema AragãoAinda não há avaliações
- A Radioatividade e o Ensino de Quimica em Tema para DebateDocumento5 páginasA Radioatividade e o Ensino de Quimica em Tema para DebateBrunoAinda não há avaliações
- Saber Escolar e Saber CientíficoDocumento12 páginasSaber Escolar e Saber CientíficoOscar VelezAinda não há avaliações
- 01 - Breve Exame Ontologico Do Complexo Educacional Os Professores em FocoDocumento22 páginas01 - Breve Exame Ontologico Do Complexo Educacional Os Professores em FocojlopezAinda não há avaliações
- A Dialética No Método de Ensino Jurídico - Uma Imagem Autopoiética Da Sala de AulaDocumento27 páginasA Dialética No Método de Ensino Jurídico - Uma Imagem Autopoiética Da Sala de AulaBeto PaesAinda não há avaliações
- Jonei Cerqueira Barbosa 3Documento8 páginasJonei Cerqueira Barbosa 3giselefernanda_1Ainda não há avaliações
- ART3 Vol4 N3 PDFDocumento12 páginasART3 Vol4 N3 PDFPaulo DembiAinda não há avaliações
- A Obra de Francisco Varela Como Uma Teoria de AprendizagemDocumento13 páginasA Obra de Francisco Varela Como Uma Teoria de AprendizagemMariana VivasAinda não há avaliações
- Teorias Da Aprendizagem As Emocoes HumanasDocumento17 páginasTeorias Da Aprendizagem As Emocoes HumanasLeonardo Pereira da CostaAinda não há avaliações
- Analogias Estruturalmente Mapeadas para o Ensino de QuímicaNo EverandAnalogias Estruturalmente Mapeadas para o Ensino de QuímicaAinda não há avaliações
- Revendo A Coordenação e A Subordinação Nas Gramáticas e No Ensino Do Português PDFDocumento11 páginasRevendo A Coordenação e A Subordinação Nas Gramáticas e No Ensino Do Português PDFrsebrian100% (1)
- Paper Estagio Educação InfantilDocumento17 páginasPaper Estagio Educação InfantilCamila100% (3)
- Transtornos de AprendizagemDocumento87 páginasTranstornos de AprendizagemRH SiebertAinda não há avaliações
- Cópia de Libras Com GabaritoDocumento5 páginasCópia de Libras Com GabaritoSchleger C. LeleAinda não há avaliações
- CatitimiaDocumento1 páginaCatitimiaJosé Mayer0% (2)
- (Final) Referencial Organizador Da EjaDocumento246 páginas(Final) Referencial Organizador Da EjaAlisson Costa LisboaAinda não há avaliações
- Mapa Mental Do Livro ExecuçãoDocumento11 páginasMapa Mental Do Livro ExecuçãoFrederico MunizAinda não há avaliações
- As Três Ondas Na Terapia ComportamentalDocumento30 páginasAs Três Ondas Na Terapia ComportamentalMaria Estela Martins SilvaAinda não há avaliações
- 7 - AprendizagemDocumento29 páginas7 - AprendizagemRômulo BauthAinda não há avaliações
- Entre Sopros e Assombros Estetica e Expe PDFDocumento316 páginasEntre Sopros e Assombros Estetica e Expe PDFLeonardo Carbonieri CampoyAinda não há avaliações
- Fernandopestana Portugues Questoescespe Modulo06 001Documento29 páginasFernandopestana Portugues Questoescespe Modulo06 001Cludiney GomesAinda não há avaliações
- PSICOLOGIA (S) - SINGULAR OU PLURAL, Fabio TháDocumento12 páginasPSICOLOGIA (S) - SINGULAR OU PLURAL, Fabio TháNathália RodriguesAinda não há avaliações
- BORGES NETO - Historia Da Linguistica No BrasilDocumento10 páginasBORGES NETO - Historia Da Linguistica No Brasilfabio_mesqAinda não há avaliações
- 3 Husserl-Intencionalidade e FenomenologiaDocumento9 páginas3 Husserl-Intencionalidade e FenomenologiaAntonio CavalcanteAinda não há avaliações
- 7 Pilares para o Mentalismo 1 PDFDocumento28 páginas7 Pilares para o Mentalismo 1 PDFRodrigo Santos100% (1)
- Teorias e Técnicas ΨDocumento13 páginasTeorias e Técnicas Ψlarissa Alves100% (1)
- Metafora Na LibrasDocumento21 páginasMetafora Na LibrasJeamille De Lima CostaAinda não há avaliações
- Representação Social: Transformando o "Estranho" em "Familiar"Documento30 páginasRepresentação Social: Transformando o "Estranho" em "Familiar"Roger e Nessa FernandesAinda não há avaliações
- 5º Gabarito 1º DiaDocumento95 páginas5º Gabarito 1º DiaDanilo SalesAinda não há avaliações
- Programa Aprendizagens Essenciais PDFDocumento9 páginasPrograma Aprendizagens Essenciais PDFlagoa1972Ainda não há avaliações
- 3 - DDS - 1 Á 17 Assuntos A Serem AbordadosDocumento6 páginas3 - DDS - 1 Á 17 Assuntos A Serem AbordadosJorge Dorr100% (1)
- Questões de Exame - FilosofiaDocumento21 páginasQuestões de Exame - FilosofiaDiogo Esteves100% (1)
- TCC - Projeto - Rafaela Carvalho Atualizado 30.05Documento9 páginasTCC - Projeto - Rafaela Carvalho Atualizado 30.05Rafaela CarvalhoAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Let - Prática de Ensino Da Língua Inglesa i - 52-2024Documento8 páginasAtividade 2 - Let - Prática de Ensino Da Língua Inglesa i - 52-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- CategoriaDocumento11 páginasCategoriaAlexandre EsmeraldoAinda não há avaliações
- Proposta Curricular Pedagogica Anos Iniciais-2019-ColatinaDocumento432 páginasProposta Curricular Pedagogica Anos Iniciais-2019-ColatinaETEVALDO OLIVEIRA LIMA0% (1)
- Bateria Neuropsicologica para Adultos Com TdahDocumento7 páginasBateria Neuropsicologica para Adultos Com TdahDiogenes Carlos100% (1)