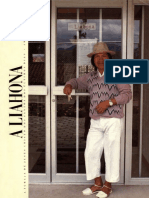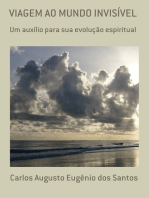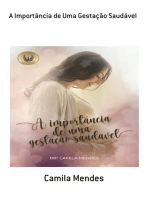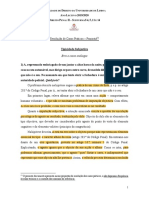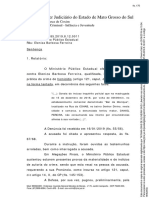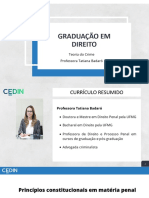Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Prisão - Ressocializar para Não Reincidir
Prisão - Ressocializar para Não Reincidir
Enviado por
Anonymous xvEXgpxK0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações60 páginasTítulo original
Prisão - Ressocializar Para Não Reincidir
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações60 páginasPrisão - Ressocializar para Não Reincidir
Prisão - Ressocializar para Não Reincidir
Enviado por
Anonymous xvEXgpxKDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 60
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN
PRISO : RESSOCIALIZAR PARA NO
REINCIDIR
JOS DE RIBAMAR DA SILVA
CURITIBA 2003
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN
JOSE DE RIBAMAR DA SILVA
PRISO : RESSOCIALIZAR PARA NO
REINCIDIR
Monografia submetida Universidade Federal do
Paran, como parte dos requisitos necessrios para a
obteno do Ttulo de Especializao Modalidade de
Tratamento Penal em Gesto Prisional - UFPr.
APROVADA POR:
Eu sou o bom pastor. O bom pastor expe a sua vida
pelas suas ovelhas. O mercenrio, porm, que no pastor, a
quem no pertence as ovelhas, quando v que o lbo vem
vindo, abandona as ovelhas e foge; o lbo rouba e dispersa
as ovelhas. O mercenrio, porm, foge porque mercenrio e
no se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheo as minha ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem
a mim, como meu Pai me conhece e eu conheo o Pai. Dou a
minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas
que no so deste aprisco. Preciso conduzi-las tambm, e
ouviro a minha voz, e haver um s rebanho e um s
pastor. (JOO, Cap. 10 v. 11 16).
Agradecimentos:
Ao Arquiteto do Universo por me ofertar e manter a vida, a
sade e as seqenciais conquistas.
Aos meus pais por me mostrarem
o caminho a ser seguido.
Aos doutores ngelo Roncall de Ramos Barros e Raimundo
Marcondes B. Damasceno, o primeiro pela incessante batalha
com o fito de tornar real a existncia dessa especializao e
o segundo por me indicar para participar e dado o devido
apoio para a concluso dessa jornada.
A professora Doutora Alejandra Pascual e demais
professores, alunos e funcionrios pela orientao,
colaborao, amizade e ateno.
Aos amigos e colegas da
Subsecretaria do Sistema Penitencirio do Distrito Federal.
Goianilde, Rayssa, Matheus e outras pessoas, as quais
direta ou indiretamente contriburam de foram amvel,
incentivando e dispensando imensurvel apoio e que por
algum motivo no foram explicitamente mencionadas, aceitem
as minhas sinceras escusas e saibam que tudo o que fizeram
no foi desprezvel.
SUMRIO
INTRODUO 8
1. A EVOLUO DAS PENAS 9
1.1. PENAS NAS SUAS ORI GENS. 10
1.1.1. FASES DA VI NGANA PRI VADA 10
1.1.2. VI NGANA DI VI NA: "A REPRESSO AO CRI ME SATI SFAO DOS
DEUSES" . 10
1.1.3. VI NGANA PBLI CA: 11
1.2. PER ODO HUMANI TRI O: "O HOMEM DEVE CONHECER A JUSTI A". 12
A) O DI REI TO PENAL E A "FI LOSOFI A DAS LUZES". 12
B) BECCARI A: " FI LHO ESPI RI TUAL DOS ENCI CLOPEDI STAS FRANCESES". 12
C) O DI REI TO NATURAL E SUA I NFLUNCI A. 13
D) ESCOLA CLSSI CA 14
1.3. PER ODO CI ENT FI CO OU CRI MI NOLGI CO 15
1.3.1. LOMBROSO, FERRI E GARFALO. 15
2. A EVOLUO DA PRISO 18
2.1. SURGI MENTO DAS PRI SES 18
2.2. EVOLUO DA PRI SO NO BRASI L 21
2.3. A EVOLUO DA PENA DE PRI SO NO BRASI L 26
2.3.1. ORDENAES AFONSI NAS 26
2.3.2. ORDENAES MANUELI NAS 26
2.3.3. ORDENAES FI LI PI NAS 26
3. RESSOCIALIZAR PARA NO REINCIDIR. 30
3.1. AS RA ZES DA FRI A 30
3.1.1. A HUMI LHAO E A ANI QU I LAO 31
3.1.2. A CONDENAO, UMA OUTRA PENA 32
3.2. RECUPERAR PARA O CONV VI O SOCI AL - O DEBATE DA RESSOCI ALI ZAO 36
3.3. A NECESSI DADE DA I NCLUSO 41
3.4. CRI AR AS CONDI ES ESTRUTURAI S PARA VI ABI LI ZAR A
RESSOCI ALI ZAO DO PRESO. 43
3.4.1. A PREVENO ESPEC FI CA 46
CONCLUSO 51
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS 54
ANEXO I - 58
Jos de Ribamar da Silva
7
INTRODUO
A pena no mais que um ato de
poder, e a teorizao da mesma no
deixa de ser uma tentativa legitimante
de todo o exerccio de poder do sistema
penal. Eugnio Ral Zafforoni: Em
busca das penas perdidas.
Com o presente trabalho pretende-se mostrar a evoluo
da pena de priso e a distoro do real escopo dessa reprimenda, ao
tempo em que se oferece alternativa para diminuir a deficincia do
Estado e, consequentemente, amenizar os vilipndios dos direitos dos
encarcerados que so retirados do meio social no intuito de proteger a
sociedade e peparar esses indivduos para a sua reintegrao social.
Inicialmente ser apresentada uma breve evoluo das
penas privativas de liberdade e das prises desde a sua criao at os
di as atuai s. Sero consi derados os perodos Humanitrios e Ci entificos
com a abordagem das suas fases, influncias e evolues. No captulo
seguinte, a pesquisa apresenta o Histrico da Pena e da Priso no
Brasil.
Finalmente, sero considerados os fatores inerentes
ressocializao dos encarcerados. Ser tratada a necessidade de
reformulao do sistema, uma vez que sua crise tornou-se
insustentvel como atestam a realidade dos fatos. Tambm se far o
devido debate sobre a ressocializao e a necessidade de incluso dos
apenados, e sobre a necessidade de criar as condies estruturais para
que a norma j estabelecida seja efetivada e possa cumprir sua
determinao de ressocilizao.
A metodologia adotada para este trabalho foi
bibliogrfica, em peridicos, livros e outros, alm de pesquisa na
Internet; por sua vez, foram colhidos dados em estabelecimentos
Jos de Ribamar da Silva
8
prisionais e na Vara de Execues Criminais do Distrito Federal. O
mtodo adotado foi o histrico evolutivo.
Jos de Ribamar da Silva
9
1. A EVOLUO DAS PENAS
Para este estudo adotaremos o conceito de pena dada por
FERREIRA, para o qual entende que pena :
...a punio imposta ao contraventor ou delinqente, em
processo judicial de instruo contraditria, em decorrncia de
crime ou contraveno que tenha cometido com o fim de
exempl-lo e evitar a prtica de novas infraes.
(FERREIRA, 1989, p.1070)
As penas j comearam a ser aplicadas durante os
tempos primitivos, nas origens da humanidade. Pode-se dizer que
i ni ci a-se com o perodo da vingana privada que prolongou-se at o
sculo XVIII. Naquele perodo no se poderia admitir a existncia de
um sistema orgnico de princpios gerais, j que grupos sociais dessa
poca eram envoltos em ambiente mgico e religioso. Fenmenos
naturais como a peste, a seca, e erupes vulcnicas eram
considerados castigos divinos, pela prtica de fatos que exigiam
reparao. (COSTA, 1999, p. 15)
Pode-se distinguir diversas fases de evoluo da
vingana penal, tais como: da vingana privada, da vingana divina e
da vingana pblica. Entretanto, essas fases no se sucedem umas s
outras. Uma fase convive com a outra por largo perodo, at constituir
ori entao prevalente para em seguida, passar a conviver com a que
lhe segue. Assim, a diviso cronolgica meramente secundria, j
que a separao feita por idias.
Deve ser observado, ainda, o perodo humanitrio, que
transcorreu durante o lapso de tempo compreendido entre 1750 e 1850,
perodo este marcado pela atuao dos pensadores que contestavam
os ideais absolutistas. E caracteriza-se como uma reao
arbitrariedade da administrao da justia penal e contra o carter
atroz das penas. Em seguida temos o perodo cientfico, tambm
Jos de Ribamar da Silva
10
conhecido como perodo criminolgico, uma fase caracterizada por
um notvel entusiasmo cientfico.
1. 1. Penas nas suas origens.
1.1.1. Fases da Vi ngana Pri vada
Na denominada fase da vingana privada, cometido um
crime, ocorria a reao da vtima, dos parentes e at do grupo social
(tribo), que agiam sem proporo ofensa, atingindo no s o ofensor,
como todo o seu grupo. A inexistncia de um limite (falta de
proporcionalidade) no revide agresso, bem como a vingana de
sangue foi um dos perodos em que a vingana privada constituiu-se a
mais freqente forma de punio, adotada pelos povos primitivos. A
vingana privada constitua uma reao natural e instintiva, por isso,
foi apenas uma realidade sociolgica, no uma instituio jurdica.
A vingana privada, com o evoluir dos tempos, produziu
duas grandes regulamentaes: o talio e a composio. Apesar de se
dizer comumente pena de talio, no se tratava propriamente de uma
pena, mas de um instrumento moderador da pena. Consistia em aplicar
no delinqente ou ofensor o mal que ele causou ao ofendido, na mesma
proporo. (CANTO, 2000, p. 8).
Atravs da composio, o ofensor comprava sua
liberdade, com dinheiro, gado, armas, etc. Adotada, tambm, pelo
Cdigo de Hamurabi (Babilnia 2.300 a.C.) e de Manu (ndia 2.300
a.C.), foi largamente aceita pelo Direito Germnico, sendo a origem
remota das indenizaes cveis e das multas penais. (OLIVEIRA, 2001,
p. 21)
1.1.2. Vi ngana Di vi na: "A represso ao cri me sati sfao dos deuses".
Aqui, a religio atinge influncia decisiva na vida dos
povos antigos. A represso ao delinqente nessa fase tinha por placar
Jos de Ribamar da Silva
11
a "ira" da divindade ofendida pelo crime, bem como castigar ao infrator.
A administrao da sano penal ficava a cargo dos sacerdotes que,
como mandatrios dos deuses, encarregavam-se da justia. Aplicavam-
se penas cruis, severas, desumanas. A "vis corpolis" era usada como
meio de intimidao. (CANTO, 2000, p. 12).
No Antigo Oriente, pode-se afirmar que a religio
confundia-se com o Direito, e, assim, os preceitos de cunho meramente
religioso ou moral, tornavam-se leis em vigor. Legislao tpica dessa
fase o Cdigo de Manu, mas esses princpios foram adotados na
Babilnia, no Egito (Cinco Livros), na China (Livro das Cinco Penas),
na Prsia (Avesta) e pelo povo de Israel. (CANTO, 2000, p. 12).
1.1.3. Vi ngana Pbl i ca:
Com uma maior organizao social, especialmente com o
desenvolvimento do poder poltico, surge, no seio das comunidades, a
figura do chefe ou da assemblia. A pena, portanto, perde sua ndole
sacra para transformar-se em um sano imposta em nome de uma
autoridade pblica, representativa dos interesses da comunidade. No
era mais o ofendido ou mesmo os sacerdotes os agentes responsveis
pela punio, e sim o soberano (Rei, Prncipe e/ou Regente). Este
exercia sua autoridade em nome de Deus e cometia inmeras
arbitrariedades. (COSTA, 1999, p. 15)
A pena de morte era uma sano largamente difundida e
aplicada por motivos que hoje so considerados insignificantes. Usava-
se mutilar o condenado, confiscar seus bens e extrapolar a pena at os
familiares do infrator. Embora a criatura humana vivesse aterrorizada
nessa poca, devido falta de segurana jurdica, verifica-se avano
no fato de a pena no ser mais aplicada por terceiros, e sim pelo
Estado. Tempo de desespero, noite de trevas para a humanidade, idade
mdia do Direito Penal... Vai raiar o sol do Humanismo. (LINS e SILVA,
2001. P.13)
Jos de Ribamar da Silva
12
1. 2. Perodo Humanitrio: "O homem deve conhecer a justia".
a) O Di rei to Penal e a "Fi l osofi a das Luzes".
Os pensadores iluministas, em geral, defendiam uma
ampla reforma do ensino, criticavam duramente a interveno do
Estado na economia e achincalhavam a Igreja e os poderosos. Nem
mesmo Deus escapou s discusses da poca. O Deus iluminista,
racional, era o "grande relojoeiro" nas palavras de Voltaire. Deus foi
encarado como expresso mxima da razo, legislador do Universo,
respeitador dos direitos universais do homem, da liberdade de pensar e
se exprimir. Era tambm o criador da "lei", e lei no sentido expresso
pelo filsofo iluminista Montesquieu: "relao necessria que decorre
da natureza das coisas".(LINS e SILVA, 2001. P.14)
Foram, os escritos de Montesquieu, Voltaire, Russeau e
DAlembert que prepararam o advento do humanismo e o incio da
radical transformao liberal e humanista do Direito Penal. (LINS e
SILVA, 2001. P.14)
Os pensadores iluministas, em seus escritos,
fundamentaram uma nova ideologia, o pensamento moderno, que
repercutiria at mesmo na aplicao da justia: arbitrariedade se
contraps a razo, determinao caprichosa dos delitos e das penas
se ps a fixao legal das condutas delitivas e das penas. Os povos
clamavam pelo fim de tanto barbarismo disfarado. (LINS e SILVA,
2001. P.14)
b) Beccari a: "fi l ho espi ri tual dos enci cl opedi stas franceses".
Em 1764, imbudo dos princpios iluministas, Cesar
Bonesana Marqus de Beccaria, faz publicar a obra "Dei Delitti e Delle
Pene", que, posteriormente, foi chamado de "pequeno grande livro", por
ter se tornado o smbolo da reao liberal ao desumano panorama
penal ento vigente. (OLIVEIRA, 1996, p. 41)
Jos de Ribamar da Silva
13
Os princpios bsicos pregados pelo jovem aristocrata de
Milo firmaram o alicerce do Direito Penal moderno, e muitos desses
princpios foram, at mesmo, adotados pela declarao dos Direitos do
homem, da revoluo Francesa. Segundo ele, deveria ser vedado ao
magistrado aplicar penas no previstas em lei. (OLIVEIRA, 1996, p. 41)
A lei seria obra exclusiva do legislador ordinrio, que
"representa toda a sociedade ligada por um contrato social". Quanto a
crueldade das penas afirmava que era de todo intil, odiosa e contrria
justia. Sobre as prises de seu tempo dizia que "eram a horrvel
manso do desespero e da fome", faltando dentro delas a piedade e a
humanidade. No foi toa que alguns autores o chamaram apstolo do
Direito: O jovem marqus de Beccaria revolucionou o Direito Penal e
sua obra significou um largo passo na evoluo do regime punitivo.
(OLIVEIRA, 1996, p. 41)
c) O Di rei to Natural e sua i nfl unci a.
Entre os sculos XVI e XVIII, na chamada fase
racionalista surgia a chamada Escola do Direito Natural, de Hugo
Grcio, Hobbes, Spinoza, Puffendorf, Wolf, Rousseau e Kant. Sua
doutrina apresentava os seguintes pontos bsicos: a natureza humana
como fundamento do Direito; o estado de natureza como suposto
racional para explicar a sociedade; o contrato social e os direitos
naturais inatos. De contedo humanitrio e influenciada pela filosofia
racionalista, a Escola concebeu o Direito Natural como eterno, imutvel
e universal. (OLIVEIRA, 2001, p 22)
Se por um lado a Escola do Direito Natural teve uma certa
durao, a corrente que se formou, ou seja, o jusnaturalismo
prolongou-se at a atualidade. Romagnosi, um dos iniciadores da
Escola Clssica, fundamentou sua obra, "Gnesis do Direito Penal",
concebendo o Direito Penal como um direito natural, imutvel e anterior
s convenes humanas. Embora ainda sob uma pseudo-compreenso
Jos de Ribamar da Silva
14
de alguns juristas, o Direito Natural tem sobrevivido e mostrado que
no se trata de idia metafsica ou princpio de fundo simplesmente
religioso. (OLIVEIRA, 2001, p 22)
O jusnaturalismo atual constitui um conjunto de amplos
princpios, a partir dos quais o legislador dever compor a ordem
jurdica. Os princpios mais apontados referem-se ao direito vida,
liberdade, participao na vida social, segurana, etc. evidente a
correlao que existiu e ainda existe entre Direito Natural e Direito
Penal: os princpios abordados pelo jusnaturalismo, especialmente os
correspondentes aos direitos naturais inativos, esto devidamente
enquadrados no rol dos bens jurdicos assegurados pelo Direito Penal.
Assim, o jusnaturalismo e seus princpios no deixaram de influenciar o
perodo Humanitrio, no qual buscava-se os direitos individuais e a
valorizao dos direitos intocveis dos delinqentes e a conseqente
dulcificao das sanes criminais. (OLIVEIRA, 2001, p. 25)
d) Escol a Cl ssi ca
Trs grandes jurisconsultos podem ser considerados
como iniciadores da Escola Clssica: Gian Domenico Romagnosi, na
Itlia. Jeremias Bentham, na Inglaterra e Anselmo Von Feuerbach na
Alemanha. (LINS e SILVA, 2001, p. 14)
Romagnosi concebe o Direito Penal como um direito
natural, imutvel e anterior s convenes humanas, que deve ser
exercido mediante a punio dos delitos passados para impedir o
perigo dos crimes futuros. J, Jeremias Bentham considerava que a
pena se justificava por sua utilidade: impedir que o ru cometa novos
crimes, emend-lo, intimid-lo, protegendo, assim a coletividade. E
finalmente, Anselmo Von Feuerbach opina que o fim do Estado a
convivncia dos homens conforme as leis jurdicas. A pena segundo
ele, coagiria fsica e psicologicamente para punir e evitar o crime. No
Jos de Ribamar da Silva
15
que tange finalidade da pena, havia no mago da Escola Clssica,
trs teorias:
Absoluta que entendia a pena como exigncia de justia.
Relativa que assinalava a ela um fim prtico, de preveno
geral e especial;
Mista que, resultando da fuso de ambas, mostrava a pena
como utilidade e ao mesmo tempo como exigncia de justia.
(S, 1996, p. 84)
Na Escola Clssica, dois grandes perodos se
distinguiram: o filsofo ou terico e o jurdico ou prtico. No primeiro,
destaca-se a incontestvel figura de Beccaria. J no segundo, aparece
o mestre de Pisa, Francisco Carrara, que tornou-se o maior vulto da
Escola Clssica. Carrara defende a concepo do delito como ente
jurdico, constitudo por duas foras: a fsica (movimento corpreo e
dano causado pelo crime) e a moral (vontade livre e consciente do
delinqente). (LINS e SILVA, 2001, p. 15)
Carrara, define o cri me como sendo "a infrao da lei do
Estado, promulgada para proteger a segurana dos cidados,
resultante de um ato externo do homem, positivo ou negativo,
moralmente imputvel e politicamente danoso". (LINS e SILVA, 2001, p.
15)
1. 3. Perodo Cientfico ou Criminolgico
1.3.1. Lombroso, Ferri e Garfalo.
Foi Csar Lombroso, autor do livro Luomo Delinquente,
quem apontou os novos rumos do Direito Penal aps o perodo
humanitrio, atravs do estudo do delinqente e a explicao causal do
delito. O ponto nuclear de seu pensamento a considerao do delito
como fenmeno biolgico e o uso do mtodo experimental para estud-
lo. Foi o criador da "Antropologia Criminal". A seu lado surgem Ferri,
com a "Sociologia Criminal", e Garofalo, no campo jurdico, com sua
Jos de Ribamar da Silva
16
obra "Cri minologia", podendo os trs serem considerados os
fundadores da Escola positiva. (LINS e SILVA, 2001, p. 16)
Lombroso afirmava a existncia de um criminosos nato,
caracterizado por determinados estigmas somato-psquicos e cujo
destino indeclinvel era deli nqir, sempre que determinadas condies
ambientais se apresentassem. (LINS e SILVA, 2001, p. 17)
Discpulo dissidente de Lombroso, Henrique Ferri,
ressaltou a importncia de um trinmio causal do delito: os fatores
antropolgicos, sociais e fsicos. Divi diu os criminosos em cinco
categorias: o nato, o louco, o habitual, o ocasional e o passional.
Dividiu, ainda, as paixes em: soci ai s (amor, piedade, nacionalismo,
etc.) e anti -soci ai s (dio, inveja, avareza, etc.).
Outro vulto da trade Rafael Garofalo, o primeiro a usar
a denominao "Criminologia" para as Cincias Penais. Fez estudos
sobre o delito, o delinqente e a pena. Afirmava essa trade de
vigorosos pensadores que a pena no tem um fim puramente
retributivo, mas tambm uma finalidade de proteo social que se
realiza atravs dos meios de correo, intimidao e / ou eliminao.
O movimento naturalista do sculo XVIII, que pregava a
supremacia da investigao experimental em oposio indagao
puramente racional, influenciou o Direito Penal. Numa poca de franco
domnio do pensamento positivista no campo da filosofia (Augusto
Comte) e das teorias evolucionistas de Darwin e Lamark, das idias de
John Stuart e Spencer, surgiu a chamada Escola Positiva. (S, 1996, p
88)
Essa nova Escola proclamava outra concepo do Direito.
Enquanto para a Clssica ele preexistia ao Homem (era transcendental,
visto que lhe fora dado pelo criador, para poder cumprir seus destinos),
para os positivistas, ele o resultado da vida em sociedade e sujeito a
Jos de Ribamar da Silva
17
variaes no tempo e no espao, consoante a lei da evoluo. Seu
pioneiro foi o mdico psiquiatra Csar Lombroso, segundo o qual a
criminalidade apresenta, fundamentalmente, causa biolgica. de
Lombroso a descrio do criminoso nato. Ei-la:
assimetria craniana, fronte fugida, zigomas salientes, face
ampla e larga, cabelos abundantes e barba escassa.
criminoso nato insensvel fisicamente, resistente ao
traumatismo, canhoto ou ambidestro, moralmente impulsivo,
insensvel, vaidoso e preguioso.
Embora o autor tenha cometido alguns exageros na
definio do criminosos nato, a idia de uma tendncia para o crime
no foi sepultada com Lombroso. Estudos feitos por geneticistas tem
levado concluso de que elementos recebidos por herana biolgica,
embora possam no condicionar um "modus vivendi" no sentido de
tornar o homem predestinado em qualquer direo, influem no modo de
ser do indivduo (S, 1996, p. 89).
Jos de Ribamar da Silva
18
2. A EVOLUO DA PRISO
Agamenon Bento do Amaral , com propri edade, consi gnou
o seguinte conceito jurdico de priso:
No sentido penal, a priso constitui instrumento coercitivo
estatal decorrente da aplicao de uma sano penal
transitada em julgado.
E no sentido processual, a priso constitui instrumento
cautelar de que se vale o juiz no processo para impedir novos
delitos pelo acusado, aplicar a sano penal ou para evitar a
fuga do processado, alm de outros motivos e circunstncias
ocorrentes em cada caso concreto. (CANTO, 2000 p. 12)
2. 1. Surgimento das prises
As instituies penais originaram-se por exigncia do
prprio homem, pela necessidade de um ordenamento coercitivo que
assegurasse a paz e a tranqilidade em sua convivncia com os demais
seres humanos. Trata-se de uma imposio do prprio relacionamento
inerente ao contrato social. (CANTO, 2000 p. 12)
Nas primeiras prises e casas de fora a pena era
aplicada como deteno perptua e solitria em celas muradas.
Contudo, no sculo XVII, a pena privativa de liberdade foi reconhecida
como substituta da pena de morte e, at o sculo XVIII, grande nmero
de casas de deteno surgiu.
Odete Maria de Oliveira retratou, com percucincia, os
principais sistemas prisionais, de cuja obra extrai-se, em sntese.
Sistema panptico
O Panptismo a rigor um mtodo de controle, originado
no sculo XVII objetivando o controle da peste, quando foi adotado o
isolamento da populao doente. um princpio que tem por base um
conjunto de idias fundamentais do "utilitarismo", que tem na
observao e controle o elemento fundamental de intimidao.
Jos de Ribamar da Silva
19
Como constatou Foucault ultrapassou a rea penal, se
introduziu em diversos outros sistemas, sendo utilizado hoje por
exemplo atravs do controle eletrnico visual que observamos no
comrcio, no sistema bancrio e na cidade de um modo geral:
"Bentham no diz se inspirou, em seu projeto, no Zoolgico
que Le Vaux construra em Versalhes: primeiro zoolgico
cujos elementos no esto como tradicionalmente, espalhados
em um parque: no centro, um pavilho octogonal que, no
primeiro andar, s comportava uma pea, o salo do rei; todos
os lados se abriam com largas janelas sobre sete jaulas ( o
oitava lado estava reservado para janela onde estavam
encerrada diversas espcies de animais. Na poca de
Bentham esse zoolgico desaparecera. Mas encontramos no
programa do panptico a preocupao anloga da observao
individualizante, da caracterizao e da classificao, da
organizao analtica da espcie. O panptico um zoolgico
real; o animal e substitudo pelo homem, a distribuio
individual pelo grupamento especifico e o rei pela maquinaria
de um poder furtivo". (FOUCAULT, 2002, p.168)
O Panptismo constitudo da priso celular, de forma
radial, construda pela primeira vez nos Estados Unidos da Amrica do
Norte, em 1800. Por este sistema, uma nica pessoa, prostrada num
ponto estrategicamente construdo, fazia a vigilncia da totalidade das
celas, que eram individuais. (CANTO, 2000 p. 13)
A arquitetura radial foi uma revoluo, se comparada
masmorra, esta era escura, escondida e escondendo o preso. A
arquitetura panptica transparente e exposta, tranca e expe o
sentenciado, mantendo-o sob olhar ininterrupto. O panptismo se
constitui e se difundiu com a passagem do suplicio para a penitenciaria
e desta para a vigilncia do olhar. (S, 1996, p.100)
b) Sistema de Filadlfia
Por influncia catlica dos crceres monacais da Idade
Mdia, desponta um novo regime de recluso em Filadlfia, no ano de
1790, com as seguintes particularidades: freqente leitura da Bblia;
proibio do trabalho e de receber visitas; isolamento absoluto e
Jos de Ribamar da Silva
20
constante do condenado; trabalho da conscincia para que a punio
fosse temida. (CANTO, 2000 p. 13)
c) Sistema de Auburn
Nova Iorque, 1821: os prisioneiros podiam manter
comunicao pessoal apenas durante o dia, pois noite eram mantidos
em completo isolamento. As regras de silncio eram aplicadas com
severidade e o trabalho e a disciplina eram condicionados aos
apenados com a finalidade de ressocializao e, via de conseqncia,
de preparao para o retorno ao meio social. (CANTO, 2000 p. 13)
d) Sistema de Montesinos
Idealizado por Manoel Montesinos y Molina, na Espanha,
aplicava o tratamento penal humanitrio, objetivando a regenerao do
recluso. J por este sistema foram suprimidos, definitivamente, os
castigos corporais e os presos tinham seu trabalho remunerado.
Montesinos foi o primeiro sistema progressivo a aparecer. (CANTO,
2000 p. 13)
e) Sistema progressivo ingls
Inglaterra, 1846: restou estabelecido aos apenados o
esquema de vales. Detalhe importante refere-se durao da pena,
que no era fixada pelo juiz na sentena condenatria, mas obedecia a
trs etapas distintas: de prova; de trabalho durante todo o dia e de
isolamento celular noturno. (CANTO, 2000 p. 14)
f) Sistema progressivo irlands
Sistema de vales e preparao para a vida em liberdade.
Os presos eram deslocados as prises intermedirias, semelhante a um
mtodo progressivo de regime, sendo abolido o uso de uniformes. Por
outro lado, foi admitido o trabalho no campo, com autorizao para
Jos de Ribamar da Silva
21
conversao, objetivando o fomento para o retorno sociedade.
(CANTO, 2000 p. 14)
O Brasil adotou este sistema, excludo o uso de marcas
ou vales, mas acrescentando a observao, o trabalho com isolamento
noturno, o regime semi -aberto ou colnia agrcola e a liberdade
condicional. (CANTO, 2000 p. 14)
2. 2. Evoluo da Priso no Brasil
Em 1551, j se mencionava a existncia na Bahia, de uma
cadeia muito boa e bem acabada com casa de audincia e cmara em
cima [...] tudo de pedra e barro, rebocadas de cal, e telhado com telha
( Russell-wood, 81, p. 39). Nas cidades e vilas, as prises se
localizavam no andar trreo das cmaras municipais e faziam parte
constitutivas do poder local e serviam para recolher desordeiros,
escravos fugitivos e criminosos espera de julgamento e punio. No
eram cercados, e os presos mantinham contato com transeuntes,
atravs das grades; recebiam esmolas, alimentos, informaes (Salla,
99, p.41). Tambm alocavam-se em prdios militares e fortificaes.
O Aljube, antigo crcere eclesistico do Rio de Janeiro,
usado para a punio de religiosos, foi cedido pela Igreja para servir de
priso comum aps a chegada da Famlia Real. Em 1829, uma
comisso de inspeo nomeada pela Cmara Municipal afirmaria: O
aspecto dos presos nos faz tremer de horror; eram 390 detentos, e
cada um dispunha de uma rea aproximada de 0,6 por 1,2 m. Em
1831, o nmero de presos passaria de 500. Em 1856, o Aljube foi
desativado. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 38)
Um decreto de 1821, firmado pelo prncipe regente D.
Pedro, marca o incio da preocupao das autoridades com o estado
das prises: ningum ser lanado em masmorra estreita, escura ou
Jos de Ribamar da Silva
22
infecta porque a priso deve s servir para guardar as pessoas e
nunca para as adoecer e flagelar (Salla, 99, p. 43).
A Constituio Imperial de 1824, reafirmando a mesma
preocupao, determinava:
as cadeias sero seguras, limpas e bem arejadas, havendo
diversas casas para a separao dos rus, conforme suas
circunstncias e natureza dos seus crimes. (Constituio de
1824, p. 34)
A pena de morte, na forca, ficou reservada para casos de
homicdios, latrocnios e insurreio de escravos. No regime anterior,
esta pena estava prevista para mais de 70 infraes (DOTTI, 98, p. 52).
Em 1835, como reao ao levante de negros muulmanos ocorridos na
Bahia, uma lei ampliaria a hiptese de pena Capital para escravos que
ferissem gravemente, matassem ou tentasse matar o senhor ou feitor.
Foi mantida a pena de gals que significava fazer
trabalhos forados em obras pblicas. A principal novidade do Cdigo
Cri mi nal de 1830, foi o surgimento das penas de priso com trabalho (o
condenado tinha a obrigao de trabalhar diariamente dentro do recinto
dos presdios). Pena que em alguns casos podia ser perptua ou de
priso simples, que consistia na recluso pelo tempo marcado na
sentena, a ser cumprida nas prises pblicas que oferecerem maior
comodidade e segurana e na maior proximidade que for possvel dos
lugares dos delitos. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 38)
As cadeias, porm no eram adequadas. O cdigo
determinava que, at a construo de novos estabelecimentos, a priso
com trabalho se converteria em pri so si mpl es, com o acrscimo de
mais um sexto na durao da pena.
Dois estabelecimentos foram projetados para suprir a
lacuna, um no Rio de Janeiro e outro em So Paulo. Eram as casas de
correo inauguradas respectivamente em 1850 e 1852. Pode-se dizer
Jos de Ribamar da Silva
23
que elas simbolizam a entrada do pas na era da modernidade punitiva.
Contavam com oficinas de trabalho, ptios e celas individuais.
Buscavam a regenerao do condenado por intermdio de
regulamentos inspirados no sistema de Auburn. (CARVALHO FILHO,
2002, p. 38)
Possuam tambm um recinto especial, o calabouo,
destinado a abrigar escravos fugitivos e entregues pelos proprietrios
autoridade pblica, em depsito, ou para que recebessem a pena de
aoite. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 38)
O Cdigo Criminal determinava que o escravo que
cometesse um crime pelo qual no fosse condenado morte ou s
gals, fosse condenado ao aoite. O nmero de chibatadas, a ser
determinado pela sentena judicial, estava limitada a 50 por dia.
(CARVALHO FILHO, 2002, p. 39)
Depois de cumprida a deciso, o escravo era devolvido a
seu senhor, que obrigava a traze-lo com um ferro pelo tempo que o
juiz designar. S em 1886, o aoite seria abolido para os escravos.
(CARVALHO FILHO, 2002, p. 39)
Ao longo do Imprio, comea a se forma no pas uma
cultura sobre o assunto. Juristas e funcionrios viajam ao exterior para
conhecer sistemas penitencirios. debatida a criao de colnias
penais martimas, agrcolas e industriais. Nasce a preocupao com o
estudo cientfico da personalidade do delinqente. O criminoso passa a
ser visto como um doente, a pena como um remdio e a priso como
um hospital. (Salla, 1999, p. 134)
Com a Repblica desapareceram do cenrio punitivo a
forca e o gals. Ficou estabelecido, ainda, o carter temporrio das
penas restritivas da liberdade individual. No poderiam exceder a 30
Jos de Ribamar da Silva
24
anos princpio que prevalece at a atualidade. (CARVALHO FILHO,
2002, p. 43)
A base do sistema de penas adotado pelo novo Cdigo
era priso celular, prevista para grande maioria de condutas
criminosas. Deveria ser cumprida em estabelecimento especial. O
preso teria um perodo de isolamento na cela (Filadlfia) e depois
passaria ao regime de trabalho obrigatrio em comum, segregao
noturna e silencio diurno (Aurburn) o condenado a pena superior a seis
anos, com bom comportamento e depois de cumprida a metade da
sentena, poderia ser transferido para alguma penitenciria agrcola.
Mantido o bom comportamento, faltando dois anos para o fim da pena,
teria a perspectiva do comportamento condicional. (CARVALHO FILHO,
2002, p. 43)
Em 1920, inaugurada a penitenciria de So Paulo, no
bairro do Carandiru. Projeto Ramos de Azevedo, foi saudada como um
marco na evoluo das prises e era visitada por juristas e estudiosos
do Brasil e do mundo, como instituto de regenerao modelar.
Construda para 1.200 presos, oferecia o que havia de mais moderno
em matria de priso: oficinas, enfermarias, escola, corpo tcnico,
acomodaes adequadas, segurana. Tudo parecia perfeito.
(CARVALHO FILHO, 2002, p. 43)
O crcere a espinha dorsal do sistema criado em 1940.
Cerca de 300 infraes definidas no Cdigo Penal so punidas em tese
com pena privativa de liberdade (recluso e deteno). A lei de
Contravenes Penais, de 1941, definiu 69 infraes de gravidade
menor e previu 50 vezes a pena de priso simples, a ser cumprida sem
rigor penitencirio (Dotti, 1998, p. 68 e 90).
Outro smbolo da histria das prises brasileiras a Casa
de Deteno de So Paulo, tambm no Carandiru, que chegou a
hospedar mais de 8 mil homens, apesar de s Ter 3.250 vagas.
Jos de Ribamar da Silva
25
Inaugurada em 1956 para presos espera de julgamento, sua
finalidade se corrompeu ao longo dos anos, pois a Casa de Deteno
passou a abrigar tambm condenados. O Governo Estadual ao
desativa-la em 2002. Batizou a iniciativa de fim de inferno e prometeu
remover mais de 7 mil presos para 11 novos presdios, menores e
longnquos. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 44)
A Casa de Deteno, cidade murada e dantesca, ficou
mundialmente conhecida pela misria de seu interior e pela extensa
coleo de motins, fugas e episdios de desmandos e violncia,
sobretudo o massacre dos 111 presos em 1992, pela Policia Militar.
(CARVALHO FILHO, 2002, p. 44)
Com a reforma parcial do Cdigo Penal em 1977,
comeou a prevalecer, pelo menos entre especialistas, o entendimento
de que a priso deveria ser reservada para crimes mais graves e
delinqentes perigosos. A superlotao carcerria j preocupava as
autoridades. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 44)
A lei ampliou os casos de sursis, instituiu a priso
albergue e estabeleceu os atuais regimes de cumprimento da pena de
priso (fechado, semi -aberto e aberto). (CARVALHO FILHO, 2002, p.
44)
O movimento se acentuou com mais uma reforma parcial
em 1984, que, entre outras medidas, criou as penas alternativas.
(CARVALHO FILHO, 2002, p. 44)
Em contrapartida, nas duas ltimas dcadas, os ndices
crescentes de criminalidade, os episdios marcantes de violncia e o
sentimento de impunidade tem incentivado retrocessos legislativos
capazes de levar para prises pessoas que, objetivamente, nelas no
precisam estar. (CARVALHO FILHO, 2002, p. 44)
Jos de Ribamar da Silva
26
2. 3. A evoluo da pena de priso no Brasil
Nos primrdios da colonizao o sistema penal brasileiro
estava contido nas ordenaes Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. Elas
consagravam a desigualdade de classes perante o crime, devendo o
juiz aplicar a pena de acordo com a gravidade do caso e a qualidade da
pessoa. Os nobres, em regra, eram punidos com multa; aos pees
ficavam reservados os castigos mais pesados e humilhantes. (TELES,
1999, p. 59)
2.3.1. Ordenaes Afonsinas
Lei promulgada por Dom Afonso V, em 1446. Vigorou at
1521. Serviu de modelo para as ordenaes posteriores, mas nenhuma
aplicao teve no Brasil. (TELES, 1999, p. 59)
2.3.2. Ordenaes Manuelinas
As Ordenaes Manuelinas continham as disposies do
Direito Medieval, elaborado pelos prticos, e confundiam religio, moral
e direito. Vigoraram no Brasil entre 1521 e 1603, ou seja, somente
aps o incio da explorao Portuguesa, no chegando a ser
verdadeiramente aplicadas porque a justia era realizada pelos
donatrios. (TELES, 1999, p. 60)
2.3.3. Ordenaes Filipinas
As Ordenaes Filipinas vieram a ser aplicadas
efetivamente no Brasil, sob a administrao direta do Reino. Tiveram
vigncia a partir de 1603, findando em 1830 com o advento do Cdigo
do Imprio. (TELES, 1999, p. 61)
A matria penal estava contida no Livro 5, denominado o
Famigerado. As penas fundavam-se na crueldade e no terror.
Distinguiam-se pela dureza das punies. A pena de morte era aplicada
Jos de Ribamar da Silva
27
com freqncia e sua execuo realizava-se com peculiares
caractersticas, como a morte pelo fogo at ser reduzido a p e a morte
cruel marcada por tormentos, mutilaes, marca de fogo, aoites,
penas infamantes, degredos e confiscaes. (TELES, 1999, p. 59)
Com o advento da independncia, a Assemblia
Constituinte de 1823 decretou a aplicao provisria da Legislao do
Reino; continuaram, assim, a vigorar as Ordenaes Filipinas, at que
com a Constituio de 1824 foram revogadas parcialmente. Naquele
mesmo ano de 1823 foram encarregados de elaborar um Cdigo Penal
os parlamentares Jos Clemente Pereira e Bernardo Pereira de
Vasconcelos. Tendo cada um apresentado seu projeto, preferiu-se o de
Bernardo, que sofreu alteraes e veio a constituir o Cdigo de 1830.
Nele manteve-se, ainda, a pena de morte, que acabou sendo
tacitamente revogada por D. Pedro II quando do episdio da execuo
de Mota Coqueiro, no Estado do Rio, que, acusado injustamente,
depois de morto teve provada sua inocncia. (CANTO, 2000 p. 15)
O Cdigo de 1830, sofreu influncias do Cdigo Francs
de 1810 e da Baviera de 1813, tendo, por sua vez, influenciado o
Espanhol de 1848, que foi a base do de 1870 e que, por sua vez, veio a
se constituir em modelo para os demais cdigos de lngua espanhola.
V-se, assim, a importncia de nosso Cdigo do Imprio. Apesar disso
recebeu severas crticas, porque foi considerado liberal, estabeleceu a
imprescritibilidade das penas, considerou a religio com primazia
incriminao dos delitos religiosos como mais importantes e manteve
a pena de morte. (CANTO, 2000 p. 15)
Ao Cdigo Penal seguiu-se o Cdigo de Processo Penal,
editado em 1832. Desde ento, at o advento da Repblica, vrias leis
foram publicadas. Com a Repblica foi promulgado novo Cdigo Penal,
pelo Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, baseado no projeto de
Batista Pereira, em que foram adotados os princpios da escola
clssica (1. da reserva legal; 2. Diviso dicotmica da infrao penal;
Jos de Ribamar da Silva
28
3. Penas: priso celular, banimento e recluso). Mas continuava a
edio de inmeras leis. Em 1932, Vicente Piragibe faz uma
compilao das leis vigentes que, sob a denominao de Consolidao
das Leis Penais, passa a vigorar por fora do Decreto 22.213, de 14 de
dezembro de 1932. (CANTO, 2000 p. 15)
Sobreveio a Revoluo de 1937. O Presidente Getlio
Vargas, pretendendo fazer reformas legislativas, mandou que o Ministro
da Justia, Francisco Campos, designasse Alcntara Machado para
elaborar o novo Cdigo. Foi editado, ento, o Decreto n. 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, que comeou a vigorar somente em 1 de janeiro de
1942, a fim de que pudesse tornar-se conhecido. (CANTO, 2000 p. 15)
Ressalta-se que no Cdigo de 1940, proveniente de um
projeto preparado durante um perodo revolucionrio, quando o Estado
era a fora maior, deu-se maior importncia figura humana
predomnio dos direitos individuais , relegando os crimes contra o
Estado ao ltimo lugar da lista. Tratava-se de um cdigo ecltico, poi s
no se filiou a nenhuma escola. Principais caractersticas: pena e
medida de segurana; individualizao da pena; tecnicamente moderno.
(CANTO, 2000 p. 15)
A seguir foram editados o Cdigo de Processo Penal
(Decreto n. 3.689, de 3/10/1941), a Lei das Contravenes Penais
(Decreto n. 3.688, tambm de 3/10/1941), a Lei de Introduo ao
Cdigo Penal (9/12/1941) e o Cdigo Penal Militar (Decreto n. 6.227,
de 24/1/1944). (CANTO, 2000 p. 15)
Em 1962, Nelson Hungria ficou encarregado de elaborar
um novo projeto de Cdigo. Em 1964 foi designada uma comisso para
a reviso do projeto final, composta pelo prprio Nelson Hungria,
Anbal Bruno e Heleno C. Fragoso. Em 1969 o projeto foi promulgado
pelo Decreto-Lei n. 1.004, de 21 de outubro, mas restou revogado sem
ter vigncia. (CANTO, 2000 p. 15)
Jos de Ribamar da Silva
29
O Cdigo Penal, como j dissemos, foi institudo pelo
Decreto-Lei n. 2.848/40, nos termos do art. 180 da Constituio de
1937. Da em diante sofreu vrias alteraes, como as de 1977 e 1984,
pelas Leis n. 6.416 e 7.209, respectivamente. Esta ltima, de 13/07/84,
com eficcia a partir de 12/01/85, trata-se do nosso efetivo Cdigo
Penal. (CANTO, 2000 p. 15)
O Cdigo Penal de 1984 alterou substancialmente certos
aspectos contidos no ordenamento anterior. Dentre as modificaes,
podemos citar, como relevantes, a figura do arrependimento posterior,
a criao de um artigo prprio para a reabilitao e o desaparecimento
das penas acessrias. (CANTO, 2000 p. 16)
Os principais colaboradores do projeto do Cdigo Penal
de 1984 foram Ariel Ditti, Francisco de Assis Toledo, Hlio Fonseca,
Miguel Reale Jnior, Ricardo Antunes Andreucci e Rogrio Lauria
Tucci. (CANTO, 2000 p. 16)
Pretende-se apresentar a seguir a realizao da
ressocializao ou reitegrao. Ressalte-se que a discusso sobre o
modelo ressocializador no pode ser considerada uma polmica vazia
meramente acadmica. Pelo contrrio, deve ser vista como um
apontamento interessante para o Direito e para as outras reas
(Servio Social, Psicologia, etc.) que atuem na justia criminal,
obrigando-a a repensarem a funo e as reais condies de efetivao
do modelo ressocializador, porm cabe aos operadores do sistema
penitencirio implementar este modelo, mesmo com suas limitaes.
(CANTO, 2000 p. 16)
Jos de Ribamar da Silva
30
3. RESSOCIALIZAR PARA NO REINCIDIR.
O sistema Penitencirio Brasileiro adota a
progressividade da execuo da pena, consagrada pelo Cdigo PenaI
de 1940, e suas importantes transformaes, sendo essa forma
observada de acordo com critrios objetivos e subjetivos, fazendo com
que o condenado inicie o cumprimento de sua pena em determinado
regramento carcerrio, progredindo, do mais rigoroso ao mais brando
(pelos regimes fechados, semi -aberto e aberto).
Deste modo, o condenado que ingressa numa
penitenciria para o incio do cumprimento de sua pena, o faz no
regime fechado, ou na colnia agrcola ou industrial, no regime semi -
aberto, para ao final passar ao regime aberto, transferindo-se para a
casa do albergado.
O mecanismo bsico para a progresso encaminhando o
condenado ou condenada a um regime menos severo, reside em ter
cumprido um sexto da pena (requisito objetivo) quando primrio
1
. E
quando gozando de bom comportamento (elemento subjetivo), aps
avaliao da comisso tcnica de classificao.
3. 1. As razes da fria
No Brasi l como em toda Amrica Latina ainda vigoram muitos
elementos do sistema inquisitorial de fazer justia. A
confisso do acusado continua sendo mais importante do que
a evidncia conseguida mediante investigao. Da a prtica
constante das torturas em delegacias e quartis. A isso se
chama inqurito. Na fase posterior, na maior parte das
vezes, os processos judiciais continuam secretos. As
sentenas, dadas por escrito, continuam sem a audincia
pblica e aberta das vrias partes envolvidas. As provas
chegam at o juiz pelos policiais que no so controlados pelo
Ministrio Pblico, nem inquiridos em sesso aberta ao
1
Ressalvadas as excees legais: Crime Hediondos Lei n 8.072/90. Neste caso a progresso de regime
vedada restando ao sentenciado o livramento condicional aps o cumprimento de 2/3 de sua reprimenda, se
no trata-se de reincidente especfico, neste caso a lei determina que seja cumprindointegralmente no
regime fechado.
Jos de Ribamar da Silva
31
pblico para que todos possam apreciar a veracidade das
provas por eles arroladas contra os acusados
( ZALUAR,
1996, p. 35-36).
O nosso Sistema Penitencirio apresenta-se bastante
complexo, no que se refere estrutura fsica, uma vez que envolve
variados modelos de unidades prisionais, isto , como unidades
penitencirias e extra-penitencirias, pois para cada uma delas deve-se
verificar sua distino, tendo o legislador definido os estabelecimentos
do Sistema, destinando cada qual a um fim (DUrso, 1996, p. 44-45).
A crise do sistema penitencirio brasileiro no uma
contingncia da atualidade e sim uma continuidade fruto de um longo
processo histrico impermeado pelo escravismo do perodo colonial,
mas que agrava-se com a falncia gerencial.
Segundo COELHO (2003, p.1):
a nossa realidade arcaica, os estabelecimentos prisionais,
na sua grande maioria, representam para os reclusos um
verdadeiro inferno em vida, onde o preso se amontoa a outros
em celas (seria melhor dizer em jaulas) sujas, midas, anti-
higinicas e super lotadas, de tal forma que, em no raros
exemplos, o preso deve dormir sentado, enquanto outros
revezam em p.
3.1.1. A humilhao e a aniquilao
Embora o pensamento que orientou a construo da Casa
de Correo parecia elevado, pois pretendia-se proteger os escravos
da perversidade dos seus proprietrios, como afirma o observador
frans (DABADIE 1848, p.47)
No estabelecimento da Casa de Correo, ningum tinha
direito de bater em seu escravo, e uma lei foi votada nesse
sentido que, bem aplicada, colocaria um termo a esses abusos
gritantes. Mas essa lei uma palavra v, e o dio contra os
africanos to inveterado no Brasil, que se leva bem pouco
em conta.
Jos de Ribamar da Silva
32
Relata ALMEIDA VALLE, em seu Relatrio de 1875,
(apud MORAES, 1923, p. 18-19)
Em 1875, na Casa de Correo, ainda havia gals, submetidos
quelas argolas de ferro, chamada calceta, que a lei manda
aplicar, produz o efeito de um ferro em brasa que,
cauterizando profundamente, faz cair em mortificaes alguma
parte do senso moral, que ainda conserva at o momento de
receb-la. Os gals eram obrigados a empregar-se nos
trabalhos pblicos, com a calceta e a corrente de ferro, que
produz o efeito imediato da humilhao e acarreta o
aniquilamento dos bons sentimentos. Humilhao e
aniquilamento parecem ser temas recorrentes das prises
brasileiras.
Com a Repblica abolida a pena de gals, considerado,
como expresso no Relatrio do Ministro da Justia do Governo
Provisrio de 1891, (apud Moraes, 1823. p. 29 e 48),
que as penas cruis, infamantes ou inutilmente no se
compadecem como os princpios de humanidade em que, no
tempo presente se inspiram a Cincia e a Justia Social, no
contribuindo para a reparao da ofensa, segurana pblica
ou regenerao do criminoso, conforme rezava o Decreto n
774, de 20 de setembro de 1890. Reparao da ofensa,
segurana pblicas e regenerao so objetivos antigos e
conflitantes. O Cdigo Penal da Repblica lana as bases do
sistema penitencirio que, ao Governo, pareceu mais
conveniente adotar.
Como se observa, pelo exposto, a base do sistema era a
priso celular
2
, aplicada generalidade dos crimes.
3.1.2. A Condenao, uma outra pena
Como nos versos do poeta, entre a inteno e o gesto
ocorre um profundo divrcio entre planos, resolues, cdigos e a
amarga realidade do Sistema Penitencirio. Humilhaes e
Aniquilaes so as vias privilegiadas para a reparao de ofensa da
2
A priso celular eclesistica originou-se no perdo criminolgico e consistia na solido e silncio, favorecendo
a penitncia, inspirada em princpios morais: visava a remio dos pecados pela dor, remorso e
arrependimento que se alcanava atravs da solido, meditao e da prece.
Jos de Ribamar da Silva
33
segurana pblica. A regenerao no Sistema Penitencirio Nacional,
apesar de todas as reformas que praticamente nascem junto com a
priso, sempre foi uma dissimulao justificada.
Ao invs de ser uma instituio destinada a reeducar o
criminoso e prepar-lo para o retorno social a priso uma casa dos
horrores, para no dizer de tormentos fsicos e morais, infligindo ao
encarcerado ou encarcerada os mais terrveis e perversos castigos.
Antes de ser a instituio ressocializadora, a priso tornou-se uma
industria do crime, onde os presos altamente perigosos, tornam-se
criminosos profissionais, frios, calculistas e incapazes de conviverem
fora do presdio.
Hoje os juizes sentenciam, condenam o acusado ou
acusada a uma pena. E sem se dar conta, condenam os rus a outra
pena muito mais grave. No despojamento frio do texto do Cdigo, a
sentena aparece como uma privao da liberdade. Na realidade,
muitas so cumpridas com requisitos da Casa de Correo Imperi al .
A distncia entre a determinao da Lei n 7.210, de 11
julho de 1984, (Lei de Execuo Penal) e a execuo prtica do
cumprimento da pena est enormemente acentuada, sobretudo se
atentar-se expresso de Roberto Lyra, (apud CASTILHO, 1988, p.67)
que escreveu na Justi fi cao do Anteproj eto do Cdi go das Execues
Penai s, em 1963
Pela Constituio Federal, o juiz no pode aplicar pena,
ainda pecuniria ou acessoria, que lei anterior no cominou,
mas o carcereiro (ou seu substituto ) cria, aplica e executa
penas ou agrava-as extremamente; inuma homens em
solitrias ( priso dentro da priso); condena-os fome e
sede, priva-os de visitas e tambm de correspondncia;
confi sca-lhes, indiretamente, o peclio e o salrio; explora seu
trabalho; isola-os em ilhas; concentra, em instantes de
castigo, a perpetuidade da dor, da revolta e da vergonha. A
Constituio probe que a pena passe da pessoa do criminoso.
Entretanto, a famlia dele, a mais das vtimas, sofre todas as
humilhaes at a perdio e a misria. O Poder Executivo,
por meio do carcereiro e de seus subordinados, como que
Jos de Ribamar da Silva
34
irroga penas, de plano e secretamente, ofendendo, mais do
que os direitos constitucionais, os direitos Humanos.
Na realidade crua do Sistema Penitencirio, a maioria das
vezes os prisioneiros ou prisioneiras esto inteira disposio dos
guardas de presdios, um tribunal interno sem regras fixas, sem defesa
que, condena os internos ao isolamento ou a castigos diversos. As
penas so aplicadas sem nenhum controle do Judicirio, por um
conjunto de funcionrios geralmente mal remunerados, com baixa
formao, em condies precrias de trabalho e submetidos ao medo
de ameaas do crime organizado.
Ao condenar o acusado a um perodo determinado de
recluso, o juiz acaba por impor uma condenao bem maior no seu
contedo discrio da administrao penitenciria. O senso comum
ao debater contra a lenincia dos julgados, raramente se leva em conta
esse detalhe cruel.
A execuo das penas no Brasil deve ser explicitada e
particularmente no momento em que todos esto ou melhor parecem
estar preocupados com o crime na sociedade, fruto do medo que assola
a populao. Pois os reclusos, em geral, no so de m ndole. Na sua
maioria so primrios, as condies prisionais que os torna cruis.
O cumprimento da pena, pelo menos do ponto de vista
legal, est muito longe de ser imposio de penas que estabeleciam
proporcionalidade entre a ao e a reao, ol ho por ol ho dente por
dente. Ainda hoje, com freqncia, a opinio das pessoas ligadas s
vtimas, desejam a reparao do mal causando um outro mal ao autor
da ato reprovado.
Nos crimes contra os costumes, tornou-se prtica corrente
entre policiais e agentes penitencirios colocar os presos, quando
chegam nos presdios, justamente na celas dos chamados tarados, e
Jos de Ribamar da Silva
35
ainda avisam que est chegando um 213
3
ou 214
4
, identificando desta
forma, aquele que acaba de chegar pelo artigo do Cdigo Penal a que
foi incurso, ou ainda no linguajar do preso: est chegando um menino,
noivinha e outros" - denominao que sofre variao regional. Este ,
assim, o aviso para atacar. Assim sendo, ainda vigora a Lei de Tai l o.
Em termos jurdicos e institucionais, o Estado j no se
d ao prazer explicito de punir, pois o punido tambm um cidado e
como tal deve ser respeitado, de modo que o Estado no mais submete
o condenado punio fsica de outrora com aplicao de castigos
aflitivos relatados na obra Dos delitos e das Penas, de autoria de
BECCARIA (1999) propulsora da renovao e do abrandamento do
Sistema Penal.
Entretanto, a forma como o Estado vem mantendo as
prises, provavelmente seja uma situao mais humilhante que a
aplicao dos castigos corporais que ocorriam na fase anterior do
perodo Humanitrio, misturando os presos primrios com outros
reincidentes e os que praticaram crimes leves com presos de alta
peri culosidade, em celas superlotadas, nas quais os espaos
construdos para seis abriga vinte e nas quais se encontram doentes
misturados com indivduos sos, todos mantidos na ociosidade e, sem
as mnimas condies de higiene, entregues prpria sorte,
submetidos a toda modalidade de explorao pelos inescrupulosos,
quando o mais fraco ou pobre torna-se objeto da satisfao do desejo
sexual do mais forte.
Bem representativo desta situao o desabafo do Juiz
da 1 Vara Criminal de Florianpolis, Corregedor dos Presdios:
... de trinta em trinta dias, depara-se com as mesmas
avaliaes: falta de higiene, preso comum misturado aos
reincidentes, mulheres convivendo com os homens...J sou
3
O art. 213 refere-se ao crime de estupro
4
O art. 214 refere-se ao crime de atentado violento ao pudor
Jos de Ribamar da Silva
36
recebido de mau grado pelo Diretor da Cadeia, que me faz
cara feia. Esses dias, fui obrigado a interditar o funcionamento
de duas celas solitrias escuras, que, segundo o Diretor, eram
necessrias para castigar os presos mal comportados. Mas
que castigo esse? Quem vive em uma cela pequena, com
mais de cinco, ir para uma, sozinho, presente. A nica coisa
ruim a falta de ventilao e a falta de luz. (CASTILHO,
1988, P.126)
A promiscuidade interna tamanha que com o tempo leva
o preso, a perder o sentido de dignidade e honra que ainda lhe resta;
isto , em vez do Estado, vi a cumprimento da pena, nortear a sua
reintegrao ao meio social, dotando o encarcerado de capacidade
tica, profissional e de honra, age de forma inversa, inserindo o
condenado num sistema que segundo OLIVEIRA (apud COELHO 2003,
p.1):
nada mais do que um aparelho destruidor de sua
personalidade, pelo qual no serve para o que diz servir,
neutraliza a formao ou o desenvolvimento de valores;
estigmatiza o ser humano; funciona como mquina de
reproduo da carreira no crime; introduz na personalidade a
prisionizao da nefasta cultura carcerria; estimula o
processo de despersonalizaro; legitima o desrespeito aos
direitos humanos.
Nota-se, portanto, que o desrespeito ao preso no atinge
apenas os seus direitos, agridem a sua prpria condio de ser
humano, rebaixando-os situao de animais insignificantes.
3.2. Recuperar para o Convvio Social - o debate da
ressocializao
A ressocializao tem como objetivo a humanizao da
passagem do detento na instituio carcerria, implicando sua essncia
terica, numa orientao humanista, passando a focalizar a pessoa que
delinqiu como o centro da reflexo cientfica.
A pena de priso determina nova finalidade, com um
modelo que aponta que no basta castigar o indivduo, mas orient-lo
Jos de Ribamar da Silva
37
dentro da priso para que ele possa ser reintegrado sociedade de
maneira efetiva, evitando com isso a reincidncia.
O decisivo, acredita-se, no castigar implacavelmente o
culpado (castigar por castigar , em ltima instncia, um
dogmatismo ou uma crueldade), seno orientar o cumprimento
e a execuo do castigo de maneira tal que possa conferir-lhe
alguma utilidade. (MOLINA, 1998, p. 381).
Damsio de Jesus refere-se ao modelo ressocializador
como sistema reabilitador, que indica a idia de preveno especial
pena privativa de liberdade, devendo consistir em medida que vise
ressocializar a pessoa em conflito com a lei. Nesse sistema, a priso
no um instrumento de vingana, mas sim um meio de reinsero
mais humanitria do indivduo na sociedade.
Esse modelo tem como caracterstica a reinsero social
da pessoa que cometeu a infrao; onde a posio da vtima
secundria; admite progresso na execuo da pena de acordo com o
comportamento do condenado, iniciando-se no regime mais rigoroso at
chegar ao regime mais ameno, sendo os regimes fechado; semi -aberto;
e, aberto, no necessariamente, o sentenciado inicia-se no regime
fechado.
O modelo ressocializador destaca-se por seu realismo,
pois no lhe importam os fins ideais da pena, muito menos o
delinqente abstrato, seno o impacto real do castigo, tal como
cumprido no condenado concreto do nosso tempo; no lhe importa a
pena nominal que contemplam os cdigos, seno a que realmente se
executa nas penitencirias hoje. Importa sim, o sujeito histrico,
concreto, em suas condies particulares de ser e de existir.
O realismo considera a ponderao rigorosa das
investigaes empricas em torno da pena privativa de liberdade
convencional, que ressaltam o seu efeito estigmatizante, destrutivo e,
com freqncia, irreparvel, irreversvel.
Jos de Ribamar da Silva
38
O modelo ressocializador assume a natureza social do
problema criminal, constitudo nos princpios de co-responsabilidade e
de solidariedade social, entre o infrator e as normas do Estado (social)
contemporneo.
Num Estado Soci al o casti go deve ser til para a pessoa
que cometeu o crime, o mais humano em termos de tratamento, no
podendo tapar os olhos para os efeitos nocivos da pena, caminhando
contra o efeito dissuasrio preventivo (repressivo), que prefere ignorar
os reais efeitos da pena.
O modelo ressocializador propugna, portanto, pela
neutralizao, na medida do possvel, dos efeitos nocivos
inerentes ao castigo, por meio de uma melhora substancial ao
seu regime de cumprimento e de execuo e, sobretudo,
sugere uma interveno positiva no condenado que, longe de
esti gmati z-lo com uma marca indelvel, o habilite para
integrar-se e participar da sociedade, de forma digna e ativa,
sem traumas, limitaes ou condicionamentos especiais. (
MOLINA, 1998, p.383)
Vale salientar que BARATTA defende o uso do conceito
de reintegrao social ao invs de ressocializao, pois para ele esse
conceito (ressocializao) representa um papel passivo por parte da
pessoa em conflito com a lei e, o outro, ativo por parte das instituies,
que traz restos da velha criminologia positivista, que definia o
condenado como um indivduo anormal e inferior que deveria ser
readaptado sociedade, considerando esta como boa e o condenado
como mau. (BARATTA, 1997, p.76).
J o conceito de reintegrao social, para o autor, abriria
um processo de comunicao e interao entre a priso e a sociedade,
onde as pessoas presas se identificariam na sociedade e a sociedade
se reconheceria no preso.
Para BITTENCOURT (1996, p.24), a ressocializao no
pode ser viabilizada numa instituio carcerria, pois essas convertem-
Jos de Ribamar da Silva
39
se num microcosmo no qual reproduzem-se e agravam-se as
contradies que existem no sistema social.
Segundo MOLINA (1998, p.383):
A idia de ressocializao como a de tratamento,
radicalmente alheia aos postulados e dogmas do direito penal
clssico, que professa um retribucionismo incompatvel com
aquela. de fato, sua legitimidade (a do ideal
ressocializador) questionada desde as mais diversas
orientaes cientficas, progressistas ou pseudoprogressi stas,
tais como a criminologia critica, determinados setores da
psicologia e da psicanlise, certas correntes funcionalistas,
neomarxistas e interacionistas.
Alguns desses setores chegam a afirmar que o ideal
ressocializador uma mera utopia, um engano, apenas discurso, ou
simplesmente uma declarao ideolgica. O descrdito em relao
ressocializao d-se por que esta aparece apenas nas normatizaes
(Lei de Execuo Penal, Regras de Tquio, Declarao de Direitos
Humanos), deixando a desejar no que tange prtica aplicada nas
instituies carcerrias. Nestas acontecem, de fato, abusos repressivos
e violentos aos direitos dos presos, onde o acompanhamento social,
psicolgico, jurdico ainda geralmente precrio, insuficiente,
obstruindo qualquer forma efetiva de ressocializao e reinsero do
preso soci edade.
BARATTA (1997, p.71), ressalta que na atualidade o
modelo ressocializador demonstrou ser ineficaz, sendo provada a sua
falncia atravs de investigaes empricas que identificaram as
di ficuldades estruturais e os escassos resultados conseguidos pelo
sistema carcerrio, em relao ao objetivo ressocializador.
Sem embargo, uma parte do discurso oficial e inclusive
algumas reformas recentes (pense-se na nova lei penitenciria
i tal i ana de 1987) demonstram que a teoria do tratamento e da
ressocializao no foi de todo abandonado. Como mostra a
atual realidade carcerria, os requisitos necessrios para o
cumprimento de funes de ressocializao, unidos aos
estudos dos efeitos do crcere sobre a carreira criminal
Jos de Ribamar da Silva
40
pense-se na alta cota de reincidncia -, tm invalidado
amplamente a hiptese de ressocializao do delinqente
atravs do crcere. (BARATTA, 1997, p.75).
Porm, BITTENCOURT (1996, p.25), ressalta que a
ressocializao no o nico e nem o principal objetivo da pena, mas
sim, uma das finalidades que deve ser perseguida na medida do
possvel. Salienta tambm que no se pode atribuir s disciplinas
penais a responsabilidade de conseguir a completa ressocializao do
delinqente, ignorando a existncia de outros programas e meios de
controle social atravs dos quais o Estado e a sociedade podem dispor
para cumprir o objetivo socializador, como a famlia, a escola, a igreja,
etc.
A Criminologia Critica coloca que no h possibilidade de
ressocializar a pessoa em conflito com a lei dentro de uma sociedade
capitalista. Tem como um dos argumentos que respalda essa convico
a prpria priso criada como instrumento de controle e manuteno
eficaz do sistema capitalista, cuja verdadeira funo e natureza esto
condicionadas a sua origem histrica de instrumento assegurador da
desigualdade social.
Um segundo argumento ressaltado, nascido da
Criminologia Critica, seria o sistema penal, no qual insere-se a priso.
O sistema penal possibili ta a manuteno de um sistema social que,
proporciona a manuteno das desigualdades sociais e da
marginalidade. Pois, segundo BITTENCOURT (1996, p. 28):
O sistema Penal permite a manuteno da estrutura vertical
da sociedade, impedindo a integrao das classes baixas,
submetendo-as a um processo de marginalizao.
A marginalizao social gerada por um processo
discriminatrio que o sistema penal impe, pois o etiquetamento e
estigmatizao que a pessoa sofre ao ser condenado, tornam muito
Jos de Ribamar da Silva
41
pouco provvel sua reabilitao novamente na sociedade. (MIRABETE,
1997 p 88).
O processo de marginalizao agrava-se ainda mais no
momento da execuo da pena, ficando impossvel a reabilitao da
pessoa durante a pena privativa de liberdade, pois existe uma relao
de excluso entre a priso e sociedade.
Para BITTENCOURT (1996, p.35):
Os objetivos que orientam o sistema capitalista
(especialmente a acumulao de riquezas), exigem a
manuteno de um setor marginalizado da sociedade,
podendo afirmar que sua lgica incompatvel com o objetivo
ressocializador.
Portanto, sem a transformao da sociedade capitalista,
no poderemos vislumbrar algum tipo de reabilitao da pessoa que
cometeu um delito punido pelo Cdigo Penal. Para a Criminologia
Crtica, qualquer mudana que se faa no mbito das penitencirias
no surtir grandes efeitos, visto que mantendo-se a mesma estrutura
do sistema, a priso manter sua funo repressiva e estigmatizadora.
3. 3. A necessidade da Incluso
Embora no se deva pensar o processo de
ressocializao apenas a partir do trabalho penitencirio, este sem
dvida pode cumprir algumas das funes que o Estado deixou de
fazer, contribuindo para o ato do detido, onde o trabalho poderia se
constituir num instrumento de reinsero social.
Ao falar em reinsero social, segue-se o conceito
elaborado por Rodrigues (1987), de acordo com o qual se tem em vista
a possibilidade de facultamento dos meios necessrios e adequados
para que, assim, o preso tenha condies de reinsirir-se na sociedade.
Jos de Ribamar da Silva
42
Os meios necessrios no diferem dos da sociedade
externa priso. Assim, enfoca-se o trabalho como um fator
determinante de segurana, de estabilidade, de estruturao individual
e social; fator determinante de incluso / excluso (insero e de
reinsero ); fator que clarifica, conforme conceito de Yazbek (1996), o
constituir-se classe subalterna, tendo a vivncia da pobreza, da
subalternidade e da excluso.
Os presos se configuram como trabalhadores que se
encontram, em sua grande maioria, ociosos, trabalhadores
necessitados de polticas que supram suas necessidades bsicas, bem
como, de suas famlias, e que precisam nesse perodo de vida, - de
extrema fragilidade existencial - ter, na penitenciria, um espao de
redescoberta de seu potencial enquanto ser humano, um espao de
educao pelo trabalho.(MIRABETE, 1997, p. 99)
Assim, ao se falar de reinsero social, admite-se,
inequivocamente, uma atuao sobre o indivduo-delinqente que, nem
por isso, se deixa encarar como um problema que polariza em si
precisamente as tenses entre a reforma do indivduo e da sociedade
(RODRIGUES, 1982, p. 27).
O Direto Penal assume a funo de proteo da
sociedade, sem, entretanto, modific-la ou alter-la, clarificando, desta
forma, a concepo de resocializao que pressupe repassar ao preso
o mnimo tico indispensvel convivncia em sociedade. Por outro
lado, a maioria dos criminosos sofre de transtorno de personalidade.
So pessoas com personalidade imaturas ou dissociais, que no
receberam noes a respeito do prximo. (MIRABETE, 1997, p. 63)
O crime, nessa perspectiva, tido como um dficit de
socializao. Ento, a priso deve ser o espao onde haja um
programa de ressocializao
Jos de Ribamar da Silva
43
que visa integrar o indivduo no mundo dos seus
concidados, sobretudo nas coletividades sociais bsicas
como, por exemplo, a famlia, a escola ou o trabalho,
proporcionando o auxlio necessrio que o faa ultrapassar a
situao de defasamento social em que se encontra
(RODRIGUES, 1982, p. 29).
A priso moderna , segundo Foucault, uma empresa de
modificar indivduos (2002, p. 208), tendo, portanto, duas obviedades
fundamentais na forma simples da privao de liberdade sendo no
papel, suposto ou exigido, um aparelho transformador de indivduos.
Neste sentido, a priso representa, um aparelho
disciplinar, exaustivo: um reformatrio integral que prescreve princpios
de isolamento em relao ao mundo exterior unidade penal, aos
motivos que o levaram infrao, conduzindo-o, atravs desse a
isolamento, reflexo, ao remorso e submisso total, ao
reconhecimento do preso sobre o poder que a ele se impe; de um tipo
de trabalho que tem por objetivo regular, acabar com a agitao, impor
hierarquia, vigiar, constituindo, assim, uma relao de poder. uma
espcie de priso que extrapola a simples privao de liberdade ao
tornar-se um instrumento de modulao da pena.
3. 4. Criar as Condies Estruturais para Viabilizar a
Ressocializao do Preso.
Os custos crescentes do encarceramento e a falta de
investimentos no setor por parte da administrao pblica que geram a
conseqente superlotao das prises, esto, na base das dificuldades
do nosso sistema penitencirio, onde decorrem problemas como a falta
de condies necessrias sobrevivncia (falta de higiene, regime
alimentar deficiente, falta de leitos); deficincias no servio mdico;
elevado ndice de consumo de drogas; corrupo; reiterados abusos
sexuais; ambiente propcio violncia; quase ausncia de perspectivas
de reintegrao social; e inexistncia de uma poltica ampla e
inteligente para o setor.
Jos de Ribamar da Silva
44
Como afirmava FOUCAULT:
aquilo que, no incio do sculo XIX, e com outras palavras
criticava-se em relao priso (constituir uma populao
marginal de delinqentes) tomado hoje como fatalidade.
No somente aceito como um fato, como tambm
constitudo como dado primordial (FUCAULT, 2002, p. 31)
A finalidade da priso de ressocializar a pessoa presa,
nas situaes atuais, tarefa impossvel. Como j evidenciou Denise
de Roure
5
falar em reabilitao quase o mesmo que falar em fantasia,
pois hoje fato comprovado que as penitencirias em vez de
recuperar os presos os tornam piores e menos propensos a se
reintegrarem ao meio social.
Embora o Legislador Ordinrio ao editar a Lei 7.210/84, -
- Lei de Execuo Penal (L.E.P.) o tenha feito com bastante
sapincia, no entanto, o Poder Executivo no se aparelhou para
executar com maestria os comandos insculpidos nos seus 204 artigos,
os quais se fossem bem executados certamente poderiam ter impedido
que o sistema penitencirio apresentasse o caos atual.
A finalidade da pena, por sua vez, no teria tomado o
rumo que tomou, ou seja, ao invs de ressocializar e preparar para o
convvio social, vem provocando a marginalizaro, resultando em
crimes geralmente de maior gravidade que aquele inicialmente
praticado pelo indivduo no seu primeiro encarceramento.
A Lei de Execuo Penal (L.E.P) determina, no seu
artigo 5, que os presos ao ingressarem no sistema penitencirio,
sejam classificados, segundo os seus antecedentes e personalidades,
para orientar a individualizao da execuo penal.
5
ROURE, Denise de. Panorama dos Processos de Reabilitao de presos. Revista CONSULEX.
Ano III, n 20, Ago. 1998, p. 15-17.
Jos de Ribamar da Silva
45
O artigo 6 da (L.E.P), por sua vez, ordena que as
classificaes desses apenados devero ser feitas por intermdio de
uma Comisso Tcnica de Classificao - CTC, comisso que dever
elaborar um programa individualizador. Acrescenta o mesmo comando
que essa Comisso acompanhe a execuo dessas penas privativas de
liberdade e restritivas de direito.
J no artigo seguinte, ou seja, o 7 (stimo), da L.E.P.
descreve a composio dessa Comisso Tcnica de Classificao -
CTC, ao preconizar que a Comisso Tcnica de Classificao ser
presidida pelo diretor do estabelecimento prisional e composta por dois
chefes de servio, um psiquiatra, um psiclogo e um assistente social,
sendo a composio mnima de seis membros.
Todavia, em muitos dos Estados da federao, nem
mesmo existe essa comisso, como no caso do Distrito Federal, onde
atenuada essa deficincia com o remanejamento de agentes
penitencirios para suprir essa carncia; no entanto, o prprio quadro
de agentes para a atividade fim j deficitrio.
Ressalte-se, que para o ingresso ao quadro de agente
penitencirio do Distrito Federal necessrio que o candidato possua o
terceiro grau completo, diferente da maioria dos outros Estados
membros em que nem mesmo existe a carreira de agente penitencirio,
obrigando os governantes contratar por perodo determinado e a baixo
custo, pessoas de pouca qualificao para desenvolver essa atividade.
Consequentemente o que se tem visto so jornais estamparem nas
suas primeiras pginas nomes de funcionrios prisionais envolvidos
nas mais diversas formas de corrupo.
Para atingir o seu fim, a pena privativa de liberdade tem
que atuar em dois campos preventivos, denominados de preveno
geral e especfica, esta ltima tambm chamada de preveno
especial.
Jos de Ribamar da Silva
46
3.4.1. A preveno especfica
A preveno especfica aparece com a retirada do meio
social daquele indivduo que acabara de cometer determinado crime ou
que tenha sido descoberta a sua autoria, isto de imediato. Por outro
lado, a preveno geral, atua incutindo medo aos propensos
delinqentes, fazendo com que estes no venham cometer qualquer ato
de infrao, pois caso venham comet-lo sabero que o Estado poder
agir de forma rpida e efi caz, igual que nos outros casos anteriores,
para puni -los.
Quando o detento j tenha cometido um crime ensejador
de uma pena privativa de liberdade, demonstra por si s sua
periculosidade; independente da gravidade da mesma, no entanto,
necessri o se faz uma reeducao ou educao do recluso e/ou interno
e neste intuito necessrio realizar o traado do perfil do delinqente,
no instante em que ingressar no sistema penitencirio atravs de
exame efetuado pela Comisso Tcnica de Classificao (C.T.C),
buscando os motivos que o influenciaram no cometimento do delito.
De posse desse relatrio psicolgico a prpria CTC ir
elaborar um programa pedaggico para a ressocializao do apenado,
atravs de trabalho, estudo e orientao psicossocial, programa este
que ser acompanhado por profissionais qualificados, pois sabe-se que
os meios de tratamento penitencirio devem atingir duas classes, para
serem eficazes:
Uma classe que atende conservao da vida e da
sade do recluso nas modalidades de alimentao,
assistncia mdica, educao fsica, tendo como
finalidade evitar a ao corruptora das prises;
A segunda classe que pretende influir positivamente
sobre a personalidade do recluso e model-la.
Jos de Ribamar da Silva
47
So os clssicos meios de: instruo; educao;
formao profissional; assistncia psiquitrica; assistncia religiosa;
postos sob a tnica de tcnicas e diretrizes mais recentes.
Porm, na maioria dos Estados, quando contam com
quadros tcnicos capacitados, no em nmero suficiente para atender
toda a massa carcerria e, dessa forma, o tratamento ceifado por
pura falta de efetivos nas respectivas reas.
Nelson Azevedo Jobim,
6
transcrito por Cesar Barros Leal,
comprova essa deficincia ao dizer:
Com efeito, as Regras Mnimas do Brasil do nimo tarefa
de disciplinar o relacionamento jurdico-penal do estado com o
preso, procurando garantir a este a plenitude de seus direitos
no atingidos pela lei ou pela sentena, direitos esses to
fortemente vilipendiados por uma pratica que ultrapassa os
limites do poder dever de punir e que frusta o propsito de
reinsero social do condenado. (LEAL, 1988, p. 80)
notrio que nas prises brasileiras pouco se recupera e
isto ocorre em razo do baixo nmero de profissionais capacitados para
traar o perfil do preso e para indicar para ele o tratamento penal de
acordo com o perfil deste condenado, atravs da subjetividade,
observando os motivos e as circunstncias que o levaram a cometer o
delito.
Portanto, prope-se, para minimizar essa distoro, a
obrigatoriedade de criao em todos os estabelecimentos prisionais de
quadros tcnicos, como almejou o legislador ao lapidar a Lei de
Execuo Penal, sendo esse quadro composto por profissionais do
ramos de direito, psicologia, servio social, medicina, profissionais com
treinamento direcionado para atuao dentro do sistema penitencirio.
Busca-se, com essa medida, valorizar o sujeito delinqente ao tempo
em que implanta-se uma poltica de preveno dentro dos presdios,
6
Ex-Mi ni stro de Estado da Justi a.
Jos de Ribamar da Silva
48
ganhando, assim, o Estado, sociedade e o prpri o infrator, pois este
ter mais possibilidade de reabilitao e consequentemente no ir
reincidir, dado que com o quadro suprido haver maior possibilidade de
dispensar um tratamento de acordo com o perfil de cada apenado como
preconiza a Lei 7.210/84 L.E.P.
O Sistema Penitencirio do Distrito Federal, no
diferente dos demais Estados da Federao, ao passar por um
aumento populacional com as conseqncia verificadas no processo
histrico das prises.
Alm de que Braslia, j conta com o esvaziamento das
delegacia de polcia e isso contribui como outros fatores
preponderantes para a superlotao. E em contrapartida,
lamentavelmente o Estado no se aparelhou para adotar a atual viso
ressocializadora da pena.
O Distrito Federal encontra-se com difi culdade em
atender de forma plena a real finalidade da pena privativa de liberdade
e assim vem ocorrendo uma distoro no verdadeiro escopo da pena,
cujo fito a ressocializao. Porm, o que se percebe um deposito
de pessoas sem um projeto que vise a reintegrao do apenado ao
meio social. No entanto, ainda no foi possvel pr em prtica a
inteno do Legislador Ordinrio ao esculpir a Lei de Execuo Penal
que traz em seus artigos comandos humanizadores. Toda via, no
momento, o que seria para recuperar o indivduo est se tornando um
lugar onde pequenos delinqentes convivem junto aos profissionais do
crime e em razo dessa convivncia, transforma-se infratores
ocasionais em verdadeiros criminosos, s custas do errio pblico.
Neste sentido, preocupante a situao de pessoas que,
uma vez submetidas a uma pena privativa de liberdade, permanecem
presas por longos perodos em estabelecimentos prisionais, com
perspectivas cada vez menores de retorno sociedade, eis que no
Jos de Ribamar da Silva
49
dado um tratamento penal como busca curativa em forma de
atendimento.
As experincias confirmam que necessrio a aplicao
de novos mtodos de tratamento penal que tenham cunho a reabilitao
do ser humano ao convvio social e ao retornar no venham engrossar
o rol dos delinqentes que ainda no tiveram a oportunidade de serem
presos e submetidos a um verdadeiro tratamento, pois temos que
afastar a idia que a priso tem apenas a funo de preveno geral,
ou seja, o incutimento do medo aos propensos infratores.
Por derradeiro, fao uso das palavras de Divonsir Taborda
Mafra,
7
que afirmou:
A pena restritiva de liberdade, imposta pela justia, tem como
finalidade precpua a reabilitao social do condenado. No
acreditar na ressocializao negar que o homem seja um ser
racional, negar que a sociedade seja capaz de perdoar
Mesmo constatando que a realidade sempre foi cruel e
intolerante para com os romnticos, e os espaos para os sonhadores
reduzidos, ainda assim, os sonhos de aventura e conquistas dos
cavaleiros andantes continuam a motivar muitos, ainda quando aqueles
que permanecem fies a seus princpios perecem de forma trgica e
quase sempre solitria, de forma no podemos nos render realidade
dos fatos, necessrio agir para modific-los.
7
Coordenador Geral do Departamento Penitencirio do Paran - DEPEN/PR
Publ i cado no i nformati vo da Escol a Peni tenci ri a do Paran n 02
Jos de Ribamar da Silva
50
Concluses
Conclui -se este trabalho, na quarta-feira que precede os
feriados de pscoa, no momento em que o Senado Federal aprova
legislao que visa reforar o combate criminalidade, como a que
impe penas mais duras para crimes como homicdio e leso corporal,
quando cometidos contra agentes pblicas no exerccio da funo.
Enquanto isso, o nosso sistema penitencirio ao mesmo
tempo que permite uma srie de privilgios para criminosos como "os
Fernadinhos beira-mar" no garante ao detento o direito ao trabalho
penitencirio, da mesma forma que lhe nega outros direitos
elementares.
As distores permitem que o senso comum esteja cada
vez mais propenso a teses como da pena de morte. O tema sempre
vem tona quando ocorrem fugas ou rebelies. Uma coisa certa, o
que no se pode desprezar uma real alternativa de soluo, ou pelo
menos moderao da atual crise, pois o sistema prisional brasileiro
atingiu o seu limite.
No entanto, esperar que a administrao pblica encontre
sozinha a soluo e invista no setor, no a melhor alternativa. O
Estado no poder resolver esse problema que de toda a sociedade,
sem a efetiva participao de todos. Deve a sociedade ao menos no
olhar ex-presidirio pelo quadrante preconceituoso, etiquetado pelo seu
passado, devendo inclusive, oferecer oportunidade para manter
reincerido na sociedade, onde esse indivduo tambm parte,
oferecendo trabalho lcito, contribuindo assim, para uma verdadeira
ressocializao. As questes referentes viabilidade de um processo
de ressocializao no podem ser esquecidas e precisam ser
minuciosamente analisado, caso contrrio os encarcerados
permaneceram no esquecimento, vivendo, ou melhor, sobrevivendo em
Jos de Ribamar da Silva
51
condies desumanas e inaceitveis e ao trmino de sua reprimenda
no ter outra alternativa alm da reincidncia.
Mas podemos citar como exemplo positivo o Centro de
Progresso Penitenciria - CPP, uma das cinco unidades prisionais do
sistema penitencirio do DF, sendo esta onde abriga em mdia 320
presos, todos em regimes semi -aberto e que na sua maioria prestam
servios remunerados nas administraes regionais do Distrito
Federal, assim como, em empresas pblicas e privadas, atravs de
convnio firmado entre os respectivos rgos, e a Fundao de Amparo
ao Trabalhador Preso (FUNAP).
Vale lembrar, que no Distrito Federal no existe a figura
do patronato, esta inexistncia esta sendo suprida em parte pela
FUNAP que tem por fito fazer o intercmbio entre a unidade prisional e
o possvel empregador, bem como acompanhar o egresso visando
diminuir as seqelas conseqentes de seu encarceramento.
Os presos recolhidos no Centro de Progresso
Penitenciria - C P P, gozam na sua quase totalidade alm do regime
semi -aberto, autorizao para sadas temporrias e permisso para o
trabalho externo. E aos que trabalham fora do estabelecimento
realizado um controle sobre os horrios em que devem permanecer
nos locais de trabalho. Evitando a prtica de atos ilcitos nesse perodo
e com isso vai se incutindo o hbito do labor de forma responsvel,
hbito este que ser utilizado quando em vida livre.
Por outro lado, aos reclusos em que no tenham
concludo o ensino fundamental, obrigatria a freqncia s aulas
oferecidas na unidade prisional no horrio noturno. Sendo obrigados a
freqent-las naquela unidade.
A freqncia ser computada na ordem de a cada 18hs
aula ministradas diminui -se um dia da pena, as quais so computadas
Jos de Ribamar da Silva
52
em acmulo com os dias trabalhados. Estes, por sua vez, tambm
esto includos no instituto de remio o qual determina que para
cada trs dias trabalhado ser subtrado um dia de reprimenda,
instituto este, fundado na brilhante Portaria n 005/2002/VEC, datada
de 05 de abril de 2002, lapidada pelo Excelentssimo Senhor Juiz da
Vara de Execues Criminais, o Doutor Eduardo Henrique Rosas .
Estes so exemplos que nos indicam a possibilidade de aes no
sentido da ressocializao.
Pois, sem a valorizao como ser humano, o
encarceramento termina por ter efeito diverso do pretendido, em vez de
tratar esfacela a vida daquele que por algum motivo j tinha o "seu eu"
inadequado para os moldes da sociedade em que vivia. Ao moldar o
barro o oleiro precisa conhec-lo, determinando a sua textura para
determinar o tipo de pea possvel de esculpir.
Da mesma forma ao receber o sentenciado, o Sistema
Penitencirio dever caracteriz-lo determinando seu perfil psquico,
suas possibilidades e capacidades intrnsecas pois, como o ser
humano, parece ser um produto inacabado, possvel de modelao,
tambm os presos, como humanos que so experimentam este
"estgio" de barro em permanente mutao, e para reitegr-los o
Sistema Penitencirio, necessita de um plano mnimo comum que
permita a individualizao do preso penetrando no seu "ser" para
determinar as motivaes que levaram ao ato pelo qual foi puni do.
Neste diapaso, a subjetividade no tratamento penal
fundamental para uma verdadeira reparao do indivduo, pois a ele
expedido uma guia de recolhimento, documento executrio remetido ao
estabelecimento prisional, constando a durao da pena, regime, bem
como, os demais elementos indispensveis para a individualizao da
pena e agregado a essa guia, dever ser efetuado o exame
criminolgico para fornecer subsdios e fundamentar o incio do
tratamento penal a ser dispensado ao mesmo, buscando os motivos,
Jos de Ribamar da Silva
53
impulsos e as causas que podem ter levado o indivduo a agir daquela
forma, conscientemente ou no.
Para adicionar ao tratamento penal a subjetividade
necessrio a caracterizao do perfil do apenado, por outro, esta ser
de fato realizada numa unidade com uma populao reduzida, de no
mximo 240 indivduos e necessariamente acompanhados pela
Comisso Tcnica de Classificao especifica para cada unidade
prisional atuando de maneira interdisciplinar com os demais rgos
envolvidos no tratamento penal.
Desta forma ser possvel fazer o acompanhamento do
apenado, permitindo no apenas um melhor controle sobre os
indivduos com maior ou menor grau de periculosidade como tambm,
um melhor direcionamento na aquisio ou recapacitao daquelas
habilidades que este j possui ou tenha aptido para absorver. Desta
forma at o mais recalcitrante poder ser ressocializao.
Diante do exposto, necessrio a reavaliao urgente do
Sistema Penitencirio Brasileiro e consequentemente implantar um
tratamento penal atravs da subjetividade com o escopo de incutir no
encarcerado novos conceitos de condutas, de valores, de famlias e
outros, com maior brevidade possvel, e ainda, desenvolver uma
poltica de conscientizao da sociedade para participar sem
preconceito, acreditando que o ser humano capaz de se reabilitar,
caso contrrio estaremos em pouco assistindo a um colapso na
segurana nacional.
Jos de Ribamar da Silva
54
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ADORNO, S. Cidadania e Administrao da Justia Criminal. In:
Revista do Conselho Nacional de Poltica Criminal e Penitenciria.
Vol. 1, n. 6, Braslia, jul./dez. 1995.
______. Homens Persistentes, instituies obstinadas: a reincidncia
na penitenciria de So Paulo. Temas, IMESC Soc. Dir. Sade, So
Paulo, 1989.
______. Reincidncia e Reincidentes Penitencirios em So Paulo,
1974- 1985. In: Revista Brasileira de Cincias Sociais, n. 9, vol. 3,
So Paulo, 1986.
BECARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Traduzido
Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa So Paulo: Martins Fontes, 1999.
BULFUNCH, Thomas. O Livro de Ouro da Mitologia. Histrias de
Deuses e Heris. Traduo de David Jardim Jnior. 8 Edio. Rio de
Janeiro: Ediouro, 1999.
CANTO, Dilton vila. Regime Inicial de Cumprimento de Pena
Reclusiva ao Reincidente. (2000). Dissertao (Mestrado em Direito).
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis (SC).
CARVALHO FILHO, Luiz Francisco. A priso. So Paulo: Publifolha,
2002.
CASTILHO, Ela Wiecko V . de. Controle da Legalidade na Execuo
Penal : reflexes em torno da jurisdicionalizao. Porto Alegre :
Fabri s, 1988.
COELHO, Daniel Vasconcelos. A crise no sistema penitencirio
brasileiro. [on line]. Disponvel em: <http:.neofito.com.br/artigos/ penal
134.htm>. Acesso em: 2 fevereiro 2003.
Jos de Ribamar da Silva
55
COSTA, Alexandre Mariano. O trabalho prisional e a reintegrao do
detento. Florianpolis : Insular, 1999. 104p.: Il. (Coleo teses)
COSTA JNIOR, Paulo Jos da. Curso de Direito Penal Volume. I.
Parte Geral. So Paulo: Saraiva. 2000.
DABADIE, F. A. Travers LAmrique du Sul. Paris: Ferdinand Sartoirius
Editeur, 1958.
DOTTI, Ren Ariel. Bases e Alternativas Para o Sistema de Penas.
So Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
DURSO, Luiz Flvio Borges, A privatizao dos presdios
(terceirizao). 1996. Di ssertao (Mestrado em Direito), Faculdade de
Direito da Universidade de So Paulo, So Paulo(SP).
Enciclopdia Barsa. Volume 6. Enciclopdia Britnica do Brasil
Publicaes Ltda.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Dicionrio Bsico de Lngua
Portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
FOUCAULT, Michel. - Resumo dos cursos do Collge de France
(1970-1982). Rio de Janeiro: Zahar; 2000
______. Vigiar e Punir. Traduzido por Raquel Ramalhete; 25 edio.
Petrpolis: Vozes, 2002
JORGE, Willian Wanderley. Curso de Direto Penal. S.P, Saraiva,
2000.
JUNIOR, Joo Farias. Manual de Criminologia, 3 ed., Curitiba: Juru,
2001.
Jos de Ribamar da Silva
56
LEAL, Csar Barros. Priso: Crspulo de uma era. Belo Horizonte,
DelRey, 1998.
LINS e SILVA, Eduardo. A histria da pena a histria de sua abolio.
REVISTA CONSULEX ANO V N 104 15 de maio/2001. Braslia
DF.
MIRABETE, Jlio Fabrine, Execuo Penal, 9 ed. So Paulo: Atlas
2000.
MORAES, Evaristo de. Prises e Instituies Penitenciria no Brasil.
Rio de Janeiro : Livraria Editora Conselheiro Cndido de Oliveira, 1923.
NADER, Paulo. Introduo ao Estudo do Direito. So Paulo. Forense,
2000.
NORONHA, E. Magalhes. Direito Penal Volume 1 (Introduo e
Parte Geral). So Paulo: Saraiva 2000.
OLIVEIRA, Eduardo. Direitos Humanos - A luta contra o arbtrio numa
viso global. REVISTA CONSULEX ANO V N 100 15 de maio/2001,
Braslia DF.
OLIVEIRA, Odete Maria de. Priso : Um Paradoxo Social.
Florianpolis: Ed da UFSC, 1996.
PIERANGELLI, Jos Henrique. (Coord.) Cdigos Penais do Brasil.
Evoluo Histrica. Bauru: Jalovi, 1980.
PINHO, Ruy Rebello. Histria do direito penal brasileiro: perodo
colonial. So Paulo : Jos Bushatsky, 1973.
SALLA, Fernando. As Prises em So Paulo: 1822-1940. So Paulo:
Annablume, 1999.
Jos de Ribamar da Silva
57
S, Geraldo Ri bei ro de. A PRISO DOS EXCLUDOS origens e
reflexes sobre a pena privativa de liberdade. Rio de Janeiro:
Diadorin, 1996.
RODRIGUES, Anabela Miranda. Reinsero Social: Uma Definio do
Conceito. In: Revista do Direito Penal e Criminologia, Vol 34, Rio de
Janeiro: Forense, junho/dezembro, 1982.
ROSA, Jos Miguel Feu. Direito Penal. 1 ed. So Paulo : Revista dos
Tribunais, 1995.
ROURE, Denise de. Panorama dos Processos de Reabilitao de
presos. REVISTA CONSULEX. Ano III, n 20, Ago. 1998.
RUSSEL-WOOD. A . J. R. Fidalgos e Filantropos: a Santa Casa de
Misecrdia da Bahia,1550-1755. Trad. Srgio Duarte. Braslia: Ed. Da
UnB, 1981.
TELES, Ney Moura. Direito Penal; Parte Geral I. 1 ed. So Paulo:
Editora de Dereito, 1999.
THOPSON, Augusto. A questo Penitenciria. 4 ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1993.
ZAFFORONi, Eugnio Ral. Em busca das penas perdidas: a perda
de legitimidade do sistema penal. Traduo Vania Romano Pedrosa e
Amir Lopez Conceio. 5 edio. Rio de Janeiro: Revan, 2001.
ZALUAR, A. Da Revolta ao Crime. So Paulo: Polmica, 1996.
Jos de Ribamar da Silva
58
ANEXO I -
Portaria n 005/2002 VEC/DF
TTULO: EXPEDIENTE DO DIA 05 DE ABRIL DE 2002
Juiz de Direito Substituto: Eduardo Henrique Rosas
Juiz de Direito Substituto: Fabio Martins de Lima
Diretora de Secretaria: Tnia Lgia Rizzo Oliveira
3.5. Portaria n 005/2002 VEC/DF
O doutor EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Juiz de Direito Substituto da Vara de
Execues Criminais do Distrito Federal, no uso de suas atribuies, e com base no
disposto nos artigos 11, inciso IV; 41, inciso VI e 126, caput, todos da Lei 7.210, de
11/07/84;
3.5.1.1. CONSIDERANDO
1) Que a educao direito de todos e dever do Estado, sendo promovida e
incentivada com a colaborao da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exerccio da cidadania e sua qualificao para o trabalho,
nos termos do art. 205 da Constituio da Repblica;
2) Ser a harmnica integrao social do condenado um dos objetivos da execuo
penal (art. 1 da Lei n. 7.210/84 Lei de Execuo Penal);
3) Que ao condenado so assegurados todos os direitos no atingidos pela sentena
ou pela lei (art. 3, caput, da Lei n. 7.210/84), inclusive o direito assistncia
educacional (art. 11, IV, do mesmo diploma legal);
4) Que o conceito de trabalho entendido como uma atividade coordenada, de
carter fsico ou intelectual, necessria realizao de qualquer tarefa, servio ou
empreendimento evidentemente abrange o ensino ministrado aos condenados
dentro e fora dos estabelecimentos prisionais;
5) O disposto no art. 126, caput, da Lei de Execuo Penal;
6) Serem o trabalho e o estudo atividades extremamente importantes, que
demonstram efetivo investimento do Estado na recuperao dos condenados e
reinsero dos mesmos no convvio social;
Jos de Ribamar da Silva
59
7) A convergncia dos entendimentos firmados pelo Juiz signatrio da presente
Portaria, pelos rgos do Ministrio Pblico que oficiam perante o presente Juzo e
pelo Conselho Penitencirio do Distrito Federal no que tange matria remio da
pena pelo estudo;
8) O esforo evidente que vem sendo feito pelas Secretarias de Segurana Pblica e
Educao do Distrito Federal, pela Coordenao do Sistema Penitencirio do
Distrito Federal (COSIPE/DF), pela
direo dos estabelecimentos prisionais e pela Fundao de Amparo ao Trabalhador
Preso (FUNAP/DF), no sentido de ser significativamente aumentado o nmero de
vagas oferecidas aos condenados em atividades regulares de ensino;
RESOLVE:
1) Fica AUTORIZADA a remio da pena imposta aos condenados sujeitos aos
regimes fechado ou semi-aberto que freqentarem curso reconhecido de ensino pr-
alfabetizao ou ps-alfabetizao, primeiro segmento (primeira a quarta sries),
segundo segmento (quinta a oitava sries), terceiro segmento (primeira a terceira
sries do segundo grau), alm de curso de nvel superior ou de ensino
profissionalizante;
2) Para efeito de clculo do perodo de remio, fica esclarecido que cada 18
(dezoito) horas/aula correspondero a 01 (um) dia de pena remido;
3) Os diretores dos estabelecimentos prisionais devero providenciar a confeco de
documentos que comprovem a freqncia e o aproveitamento dos sentenciados nos
referidos cursos, mas somente remetero Vara de Execues Criminais do Distrito
Federal (VEC/DF), para fins de remio, certides referentes aos presos que tiverem
freqentado pelo menos 80% (oitenta por cento) das aulas. A freqncia ser
informada em horas/aula;
4) O aluno poder requerer a remio de parte da pena ao final de cada trimestre
letivo, observada a freqncia mencionada no item anterior;
5) As chamadas comprovando a freqncia dos alunos devem ser realizadas no
final de cada aula e todas as avaliaes e folhas de freqncia ficaro arquivadas em
local adequado, disposio dos rgos de fiscalizao da execuo das penas;
6) Os diretores dos presdios encaminharo a VEC/DF, no incio de cada ano letivo,
relao indicando o nmero de vagas existentes nos cursos oferecidos, bem como de
presos neles interessados. Havendo maior nmero de presos interessados no estudo
do que vagas efetivamente oferecidas, as turmas sero formadas, atendendo-se ao
critrio da convenincia administrativa, especialmente no que tange a questes
como movimentao interna dos sentenciados, contato direto entre determinados
Jos de Ribamar da Silva
60
presos e outras semelhantes, tudo devidamente motivado pelo diretor de cada
unidade prisional;
7) O condenado poder cumular a remio pelo trabalho e pelo estudo;
8) Aquele que, mesmo obtendo a freqncia indicada no item 3, no demonstre
esforo e empenho durante o trimestre letivo, no ser beneficiado com a remio da
pena pelo estudo. Para tanto, juntamente com a certido lavrada pelo Diretor do
estabelecimento prisional indicando a freqncia do aluno no perodo antes referido
(trimestre letivo), dever ser providenciada declarao do professor por ele
responsvel, informando se o interno demonstrou efetivo esforo e empenho no
decorrer das aulas;
9) O interno que exercer a funo de monitor dos demais alunos tambm ter
direito remio, na forma prevista no item 2;
10) O condenado que praticar falta de natureza grave no cumprimento da pena
perder a vaga no curso e o perodo at ento remido, ficando dispensado o
encaminhamento de sua planilha de freqncia a VEC/DF;
11) Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto, com
sadas temporrias e trabalho externo, ficam autorizados a deixar o
estabelecimento prisional na data e horrio das avaliaes, caso as
mesmas sejam realizadas fora do presdio;
12) Quaisquer dvidas que venham a surgir em decorrncia da edio da
presente Portaria devem ser submetidas ao Juzo da Vara de Execues
Criminais do Distrito Federal (VEC/DF).
Publique-se e cumpra-se.
Braslia, 05 de abril de 2002.
3.5.2. EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Juiz de Direito Substituto da Vara de Execues Criminais do Distrito Federal.
Você também pode gostar
- PARKER - Os Oráculos de DeusDocumento65 páginasPARKER - Os Oráculos de DeusGustavo OliveiraAinda não há avaliações
- Norman Geisler - Fundamentos InabaláveisDocumento426 páginasNorman Geisler - Fundamentos InabaláveisCarlos AntonioAinda não há avaliações
- Resposta Às Seitas - Norman Geisler - Ron RHDocumento584 páginasResposta Às Seitas - Norman Geisler - Ron RHAnderson Custódio DonhaAinda não há avaliações
- Muito Além Da Velocidade Da Luz - Consciência, Física Quântica e A Busca Pela Quinta Dimensão PDFDocumento339 páginasMuito Além Da Velocidade Da Luz - Consciência, Física Quântica e A Busca Pela Quinta Dimensão PDFGustavo Silva83% (6)
- Apostila 2 RCC - CarismasDocumento45 páginasApostila 2 RCC - CarismasDaniel Castro100% (3)
- Avaliação de Impacto Ambiental - SANCHEZ PDFDocumento455 páginasAvaliação de Impacto Ambiental - SANCHEZ PDFLudymyla97% (39)
- Apostila Poder Familiar, Alienação Parental, GuardaDocumento11 páginasApostila Poder Familiar, Alienação Parental, GuardaJulio PortoAinda não há avaliações
- (Tópicos) John R. Searle - A Redescoberta Da Mente-Martins Fontes (2006)Documento387 páginas(Tópicos) John R. Searle - A Redescoberta Da Mente-Martins Fontes (2006)Marcelo Bressan100% (1)
- Alain Guillermou - Santo Inácio de Loyola e A Cia de Jesus PDFDocumento197 páginasAlain Guillermou - Santo Inácio de Loyola e A Cia de Jesus PDFLuiz Henrique L100% (2)
- CruzadinhasDocumento4 páginasCruzadinhasPedro Vargas80% (5)
- Arquitetura Literaria Sobre A ComposicaoDocumento14 páginasArquitetura Literaria Sobre A ComposicaoAdriane BarrosAinda não há avaliações
- Planeta Simbiotico - Lynn MargulisDocumento136 páginasPlaneta Simbiotico - Lynn MargulisBeatriz Demboski Búrigo100% (6)
- Elucidando A Sinaletica ParapsiquicaDocumento32 páginasElucidando A Sinaletica ParapsiquicaPcosxninjaAinda não há avaliações
- Manual Básico de Direito TributárioDocumento87 páginasManual Básico de Direito Tributáriohck777100% (1)
- El Modernismo. Crisis en Las Venas de La Iglesia (Alfredo Sáenz)Documento334 páginasEl Modernismo. Crisis en Las Venas de La Iglesia (Alfredo Sáenz)Thiago RORIS DA SILVAAinda não há avaliações
- LHN 1992 04 FRDocumento52 páginasLHN 1992 04 FRCecilia CaldasAinda não há avaliações
- Liahona 93Documento52 páginasLiahona 93AdilsonAinda não há avaliações
- Tabela Com Os Horários para Entrevistas Seleçaõ 2021 1Documento7 páginasTabela Com Os Horários para Entrevistas Seleçaõ 2021 1Illyana AlvesAinda não há avaliações
- Prova de Classe (Pioneiro)Documento4 páginasProva de Classe (Pioneiro)Jordane Melo Sodré100% (1)
- HALL Stuart. Cultura e RepresentacaoDocumento126 páginasHALL Stuart. Cultura e RepresentacaoLuís FilhoAinda não há avaliações
- Introdução À Química VerdeDocumento37 páginasIntrodução À Química VerdeMaria VictóriaAinda não há avaliações
- Mini Curso de Pronuncia FrancesDocumento7 páginasMini Curso de Pronuncia Francesjunior soaresAinda não há avaliações
- Famerp 2020 DDocumento21 páginasFamerp 2020 DLaura AntunesAinda não há avaliações
- SopadeletrasDocumento1 páginaSopadeletrasLuisa GarzaAinda não há avaliações
- Urgência Sem EmergênciaDocumento145 páginasUrgência Sem EmergênciaAlexsandro LopesAinda não há avaliações
- Atividades 3º Ano C - Período de Realização 07-06-2021 A 18-06-2021 (Devolver Dia 21-06-2021) Escola Leôncio CorreiaDocumento25 páginasAtividades 3º Ano C - Período de Realização 07-06-2021 A 18-06-2021 (Devolver Dia 21-06-2021) Escola Leôncio CorreiaAderlan Garcia CostaAinda não há avaliações
- REVEL Judith Foucault Conceitos EssenciaDocumento93 páginasREVEL Judith Foucault Conceitos EssenciaClara CatarinaAinda não há avaliações
- POBRES DE ESPÍRITO - ESPIRITISMODocumento20 páginasPOBRES DE ESPÍRITO - ESPIRITISMOmarligutarquitetaAinda não há avaliações
- Produtos Da Jeunesse para Que Você Possa Consumir e Criar Uma Renda Extra.Documento48 páginasProdutos Da Jeunesse para Que Você Possa Consumir e Criar Uma Renda Extra.Guilherme Luis ZiemannAinda não há avaliações
- SACUDIDURA PARTE II ATUALIZADODocumento12 páginasSACUDIDURA PARTE II ATUALIZADOMarcos SilvaAinda não há avaliações
- OS OLHOS DA PELE A Arquitetwa e Os SentiDocumento33 páginasOS OLHOS DA PELE A Arquitetwa e Os SentiRafael Melo CoserAinda não há avaliações
- Acumulação PrimitivaDocumento19 páginasAcumulação PrimitivaMaria Eduarda Maia BritoAinda não há avaliações
- FICHA DE REFORZAMIENTO 2doDocumento3 páginasFICHA DE REFORZAMIENTO 2doCarlos Alberto Orlando Mariño ValenzuelaAinda não há avaliações
- Folleto Salud MentalDocumento1 páginaFolleto Salud Mentalsanchezcasasemanuel43Ainda não há avaliações
- Apostila Maturidade - Módulo 01 - Como Ser Um DiscipuladorDocumento25 páginasApostila Maturidade - Módulo 01 - Como Ser Um DiscipuladorJoao Paulo100% (1)
- C T - C T M: PalestraDocumento29 páginasC T - C T M: Palestracesar cabralAinda não há avaliações
- Atividade Arte - (Dança)Documento7 páginasAtividade Arte - (Dança)NatashaAinda não há avaliações
- Ativiadades Da Quinzena 09Documento15 páginasAtiviadades Da Quinzena 09fernanda Ribeiro de MeloAinda não há avaliações
- Historia de Mexico PDFDocumento6 páginasHistoria de Mexico PDFZurisaday CobosAinda não há avaliações
- LCbueL109 - Es CepalDocumento149 páginasLCbueL109 - Es CepalEzequiel DiazAinda não há avaliações
- El Patrimonio Desaparecido La Sede de LDocumento12 páginasEl Patrimonio Desaparecido La Sede de LLindo PulgosoAinda não há avaliações
- Filosofia - Tomo IDocumento294 páginasFilosofia - Tomo IAnonymous PIUFvLMuVO100% (2)
- 6º AnoDocumento14 páginas6º AnorailaneAinda não há avaliações
- HISTORIADocumento4 páginasHISTORIAElen JaquesAinda não há avaliações
- POEJ 2016 Acuerdos FGEJ Criterios de Oportunidad y Procedimiento AbreviadoDocumento32 páginasPOEJ 2016 Acuerdos FGEJ Criterios de Oportunidad y Procedimiento AbreviadoCampa Rivera Juan FranciscoAinda não há avaliações
- Prova de Conhecimentos Específicos e RedaçãoDocumento28 páginasProva de Conhecimentos Específicos e RedaçãoLILITH MORNINGSTARAinda não há avaliações
- Or 1292577Documento30 páginasOr 1292577Agrocarlos Maquinas Agricola LtdaAinda não há avaliações
- Economia BACENDocumento181 páginasEconomia BACENAndre JeanAinda não há avaliações
- A Vida É Dura para Quem É Mole - Ricardo Amaral RegoDocumento75 páginasA Vida É Dura para Quem É Mole - Ricardo Amaral Regobonifax1Ainda não há avaliações
- Anexo I - Trissomia Do 21Documento5 páginasAnexo I - Trissomia Do 21ceciliapaztkAinda não há avaliações
- Forrest L Keener Principais Personagens Biblicos Novo Testamento Vol II PDFDocumento114 páginasForrest L Keener Principais Personagens Biblicos Novo Testamento Vol II PDFJoão Alberto Soares da SilvaAinda não há avaliações
- Ferreira 1975Documento105 páginasFerreira 1975DIEGO ANDRES CADENA DURANAinda não há avaliações
- O Inconsciente A Céu Aberto e A TransferenciaDocumento95 páginasO Inconsciente A Céu Aberto e A TransferenciaLeandro Nogueira Dos ReisAinda não há avaliações
- Veredas MentaisDocumento84 páginasVeredas MentaisIgor Capelatto IacAinda não há avaliações
- Atividades 4 - JuvenisDocumento8 páginasAtividades 4 - JuvenisCarla Ervedosa AMAinda não há avaliações
- Prova Conhecimentos Especificos RedacaoDocumento28 páginasProva Conhecimentos Especificos RedacaoAsterixAinda não há avaliações
- 11 Novembro - 01Documento68 páginas11 Novembro - 01Fabiana Helena Gonçalves CarboniAinda não há avaliações
- Cap 2 ComercioDocumento17 páginasCap 2 ComercioMArio PerezAinda não há avaliações
- Só É Preso Quem Quer! Impunidade e Ineficiência Do Sistema Criminal Brasileiro - de Araujo, Marcelo CunhaDocumento124 páginasSó É Preso Quem Quer! Impunidade e Ineficiência Do Sistema Criminal Brasileiro - de Araujo, Marcelo CunhaRenatta CarvalhoAinda não há avaliações
- 4789 14626 3 PB PDFDocumento12 páginas4789 14626 3 PB PDFArmando Ferreira JúniorAinda não há avaliações
- STJ - Teses Defensivas - Direito PenalDocumento61 páginasSTJ - Teses Defensivas - Direito PenalSanny Médik LúcioAinda não há avaliações
- Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Da Vara de Execução Penal Da Comarca de São PauloDocumento4 páginasExcelentíssimo Senhor Doutor Juiz Da Vara de Execução Penal Da Comarca de São PauloJosiclenia FerreiraAinda não há avaliações
- Introducao Ao Direito AmbientalDocumento107 páginasIntroducao Ao Direito AmbientalKarolline Nogueira CiciliottiAinda não há avaliações
- Lista de Contatos Delegacias AMDocumento18 páginasLista de Contatos Delegacias AMvitinrjAinda não há avaliações
- Casos Práticos Resolvidos (Tipicidade Subjectiva)Documento21 páginasCasos Práticos Resolvidos (Tipicidade Subjectiva)nigga plzAinda não há avaliações
- A Síndrome Da Mulher de Potifar e A Palavra Da Vítima - QueirozDocumento18 páginasA Síndrome Da Mulher de Potifar e A Palavra Da Vítima - QueirozJosy LopesAinda não há avaliações
- Poder Judiciário Do Estado de Mato Grosso Do Sul: Comarca de Coxim Vara Criminal - Infância e JuventudeDocumento6 páginasPoder Judiciário Do Estado de Mato Grosso Do Sul: Comarca de Coxim Vara Criminal - Infância e JuventudePaulinho OliveiraAinda não há avaliações
- 1.7 IlicitudeDocumento3 páginas1.7 IlicitudeDaniel SantosAinda não há avaliações
- 13 Defesa Previa1Documento3 páginas13 Defesa Previa1Artur TreichelAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de Serviços - Imobiliárias - SEM Acesso Aos Sistemas Da MRV....Documento11 páginasContrato de Prestação de Serviços - Imobiliárias - SEM Acesso Aos Sistemas Da MRV....FabriciaAinda não há avaliações
- A Legitimidade Do Ministério Público em Trabalho Investigativo PolicialDocumento32 páginasA Legitimidade Do Ministério Público em Trabalho Investigativo Policialalex bachmeyerAinda não há avaliações
- Criança Na Perspectiva AfricanaDocumento17 páginasCriança Na Perspectiva AfricanasilvacuinicaAinda não há avaliações
- Incrições Deferidas - Ampla Concorrencia A - A - DDocumento861 páginasIncrições Deferidas - Ampla Concorrencia A - A - Disabely gamesAinda não há avaliações
- Lutas Cosmopoliticas - Marx e América Indígena - Pagina 16 PDFDocumento268 páginasLutas Cosmopoliticas - Marx e América Indígena - Pagina 16 PDFRenato NogueraAinda não há avaliações
- HC 111.840Documento39 páginasHC 111.840pcwarAinda não há avaliações
- O Texto 10 - Fim Do Regime Militar Ruptura Ou ContinuidadeDocumento3 páginasO Texto 10 - Fim Do Regime Militar Ruptura Ou ContinuidadeMaria LimaAinda não há avaliações
- O Trabalho Do Assistente Social No Sistema Penitenciário Brasileiro - Uma Reflexão Sobre As Condições de Trabalho - Jus - Com.br - Jus Navigandi PDFDocumento8 páginasO Trabalho Do Assistente Social No Sistema Penitenciário Brasileiro - Uma Reflexão Sobre As Condições de Trabalho - Jus - Com.br - Jus Navigandi PDFGlaucia ViellasAinda não há avaliações
- Concurso Público Polícia Civil Do Estado Do CearáDocumento32 páginasConcurso Público Polícia Civil Do Estado Do CearáFELIPE DE AZEVEDO LIMA SILVAAinda não há avaliações
- Relacao de Trabalho e Relacao de EmpregoDocumento66 páginasRelacao de Trabalho e Relacao de EmpregoHenthony MatheusAinda não há avaliações
- Casos PenalDocumento73 páginasCasos PenalRbRtaAinda não há avaliações
- Pucrs 77286005101 1Documento52 páginasPucrs 77286005101 1Minutos De TarotAinda não há avaliações
- Aula 02 Teoria Do Crime 202202Documento29 páginasAula 02 Teoria Do Crime 202202Alunos CedinAinda não há avaliações
- Crimes em Tempo de PazDocumento74 páginasCrimes em Tempo de Pazdemetriodantas3122Ainda não há avaliações
- Alegações Finais - Negativa de Autoria - Francisco Adriano Ferreira FontenelesDocumento6 páginasAlegações Finais - Negativa de Autoria - Francisco Adriano Ferreira FontenelesLuciano AlexandroAinda não há avaliações
- Direito Penal-Aula 02-Teoria Do Crime-Gustavo Junqueira PDFDocumento2 páginasDireito Penal-Aula 02-Teoria Do Crime-Gustavo Junqueira PDFVictor SennaAinda não há avaliações
- Cumprimento de Sentença Contra A Fazenda PúblicaDocumento17 páginasCumprimento de Sentença Contra A Fazenda PúblicaJornal de BrasíliaAinda não há avaliações