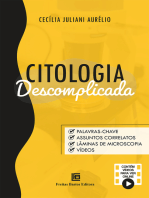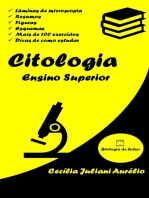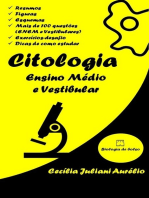Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Técnicas Histológicas
Técnicas Histológicas
Enviado por
babifr0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações4 páginasTecnicas histológicas
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoTecnicas histológicas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações4 páginasTécnicas Histológicas
Técnicas Histológicas
Enviado por
babifrTecnicas histológicas
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 4
Tcnicas Histolgicas
A tcnica histolgica visa a preparao dos tecidos destinados ao estudado
microscopia de luz. O exame ao microscpio feito geralmente por luz transmitida, o
que significa que a luz deve atravessar o objeto a ser examinado. Assim, necessria a
obteno de fragmentos dos tecidos que sero coletados em lminas muito finas e
transparentes.
Viso Geral do Processamento de Tecidos
Os tecidos a serem processados para estudo ao microscpio devem ser preparados de
modo a preservar sua estrutura original ao mximo possvel. Entretanto, isso no
possvel e todos os preparados apresentam artefatos, que so alteraes produzidas nas
clulas pelas tcnicas utilizadas. Podemos resumir os passos das tcnicas histolgicas
com a seguinte seqncia: fixao dos tecidos, desidratao, incluso, microtomia (corte
em fatias finas), colorao e montagem de lminas. Essas etapas sero descritas adiante.
OBTENO DO MATERIAL E FIXAO
Uma boa preparao histolgica se inicia com o uso correto das tcnicas de obteno do
material. Os cuidados devem ser observados j no sacrifcio dos animais de laboratrio
para o estudo histolgico de seus tecidos. Em se tratando de animais de laboratrio o
sacrifcio pode ser obtido atravs de tcnicas como, traumatismo brusco, intoxicao
(overdose de anestsico) e perfuso/imerso.
Objetivos da fixao
A fixao paralisa o metabolismo celular e preserva as estruturas do tecido para os
tratamentos posteriores. A fixao evita a autlise celular, impede a proliferao de
microorganismos, leva ao endurecimento do tecido para que resista ao tratamentos
posteriores. O fixador deve causar o mnimo de dano ao tecido e produzir o mnimo de
artefatos. A escolha adequada da soluo fixadora ir variar de acordo com o material
que ir ser usado para a incluso. A soluo de glutaraldedo 2,5% em tampo fosfato
0,1M, pH 7,4 ou a soluo formalina neutra tamponada (NBF) so comumente
usadas. Os fixadores preservam a estrutura dos tecidos ao interagirem com os grupos
aminos das protenas, atravs de pontes de hidrognio. O glutaraldedo possui dois
grupos aldedos um em cada extremidade de sua estrutura molecular que podem
estabelecer pontes de hidrognio entre as protenas. As molculas de formaldedo, no
entanto, possuem apenas um grupamento aldedo, sendo um fixador menos eficiente
para alguns tipos de protenas.
A tcnica da perfuso para lavagem e fixao do tecido.
Usando anestesia profunda, em ratos e camundongos por exemplo, uma tcnica que
resulta em boas preparaes consiste na perfuso cardaca. Este mtodo simula o
funcionamento do sistema circulatrio, uma vez que injeta os vasos do espcime com
solues qumicas e perfunde os tecidos. O processo consiste inicialmente na retirada da
circulao sangunea atravs de lavagem feita com uma soluo salina de pH neutro.
Posteriormente, processa-se ento a fixao atravs da injeo de soluo fixadora. Em
ambos os casos, as solues so impulsionadas nos vasos atravs de tubos que se
conectam uma bomba peristltica e um grande vaso do animal a ser perfundido, com
o arco artico por exemplo. Neste ponto, importante regular a presso de injeo da
soluo, que no pode exceder a presso do sangue, pois de outro modo, artefatos por
fixao so produzidos. Outro fator importantssimo para que a tcnica da perfuso seja
bem sucedida a ausncia de sangue coagulado nos vasos. Para evitar esse imprevisto,
conveniente administrar heparina diluda a 1:50 (Liquenine) ao animal 10 minutos antes
da etapa de sacrifcio. A filtrao criteriosa das solues tambm um cuidado que
evita a obstruo dos pequenos vasos e o consequente iimpedimento do fluxo da
soluo atravs dos tecidos.
A tcnica de fixao por imerso
Alm da perfuso cardaca, pode-se tambm recorrer fixao por imerso, ainda muito
utilizada. O volume de fixador empregado deve ser 15 a 20 vezes maior que o volume
do fragmento de tecido a ser fixado. O fixador inicia a sua ao da periferia para o
centro do material. As pores perifricas do material so primeiramente fixadas em
relao as suas pores mais internas. A boa penetrao de qualquer fixador est
diretamente relacionada ao tamanho e espessura do material. Entretanto, de acordo com
o tipo de tecido, com a fixao de um encfalo, por exemplo, a fixao por imerso
seria um mtodo condenvel, devido dificuldade de penetrao da soluo. Para estes
casos sugere-se recorrer ao mtodo da perfuso.
DESIDRATAO , INCLUSO E MICROTOMIA
Objetivos
Para a observao ao microscpio de luz a espessura da seco do tecido presente em
uma lmina deve ser delgada o suficiente para que possa ser atravessado por um raio de
luz. Para tal os tecidos devem ser criteriosamente preparados para receber um meio
endurecedor, ou seja meio de incluso. Desta forma ser possvel a obteno de cortes
delgados, obtidos no processo de microtomia.
Tipos de incluses e a importncia da desidratao
A incluso pode ser feita utilizando a parafina (mais comumente usada) e as resinas
plsticas, como o glicol metacrilato. Aps a fixao com as solues aquosas de
glutaraldedo ou formalina, os tecidos devem ser desidratados, uma vez que a gua
presente nos tecidos no miscvel em substancias apolares como a parafina e as resinas
de incluso. A desidratao ser feita atravs de imerso numa bateria de solues
alcolicas em concentraes graduais e crescentes. A graduao pode ser iniciada, se
necessrio, a partir de 50% e terminando finalmente em lcool absoluto. A graduao
nas concentraes imprescindvel para que ocorra a desidratao homognea dos
tecidos, evitando que ocorram danos na estrutura tecidual.
Algumas particularidades podem ser citadas quanto ao material de incluso. Caso de
parafinas, o tecido deve ser tratado com uma substncia de transio. A incluso em
parafina precedida pelo uso de substncias qumicas como o xilol, este miscvel tanto
em lcool quanto em parafina. Aps a remoo do lcool, o tecido passa por uma
infiltrao em parafina lquida, esta mantida em estufa a 56C (ponto de fuso) e
posteriormente o mesmo transferido para o molde contendo parafina lquida. Em
poucos minutos a parafina endurecer e obter-se- portanto, o "bloco" de parafina
contento o fragmento do tecido em seu interior. No caso da incluso em resina como o
glicol metacrilato, o tecido infiltrado com uma resina de infiltrao por uma noite, e
ento includo no molde contendo a resina ainda lquida, sendo que esta endurece aps
algumas horas. Como no caso da parafina, aps o endurecimento, obtm-se um bloco de
resina que contm o fragmento de tecido em seu interior. Os blocos sero a partir desta
etapa levados para a microtomia e consequente obteno das seces, que sero ento
coletadas em lminas de vidro. No caso de incluso em parafina, aps a microtomia, o
tecido tratado com xilol novamente para remoo da parafina e rehidratado, para que
possa ser submetido colorao.
COLORAO
Objetivo da colorao
Os cortes de tecidos apresentam-se incolores aps a microtomia. A colorao visa
contrastar as estruturas teciduais. A ao da maioria dos corantes se baseia na interao
entre os radicais cidos ou bsicos dos elementos qumicos dos mesmos com os dos
tecidos. No entanto existem outros tipos de corantes, como ser descrito adiante.
Corantes cidos e Bsicos
Eosina e Hematoxilina: A hematoxilina um corante bsico que carrega uma carga
positiva na poro da molcula que ir conferir cor ao tecido. Corantes bsicos reagem
com componente aninicos das clulas e tecidos, os quais incluem grupos fosfatos,
cidos nuclicos, grupos sulfatos de glicosaminoglicanas e grupos carboxila das
protenas. A habilidade de grupos aninicos reagirem com corantes bsicos chamada
basofilia, estruturas celulares que se coram com corantes bsicos so denominadas
basfilas. Estruturas celulares que podem ser coradas com corantes bsicos incluem
heterocromatina, nuclolo, RNA ribossmico, matriz extracelular da cartilagem. A
hematoxilina cora geralmente as estruturas em azul. Corantes cidos reagem com
componentes catinicos das clulas e tecidos. Quando usados juntamente com corantes
bsicos como a hematoxilina, coram o citoplasma, filamentos citoplasmticos e fibras
extracelulares. A eosina geralmente cora as estruturas em vermelho ou rosa.
Outros exemplos:corantes cidos: fucsina cida, azul de anilina e orange G; bsicos:
azul de metileno, verde metil e azul de toluidina.
Outras tcnicas de colorao
Hematoxilina e eosina so corantes adequados para evidenciar caractersticas
estruturais, mas eles no so capazes de revelar todos componentes celulares. Outras
tcnicas de colorao so disponveis para evidenciar diferentes componentes.
Colorao pela prata Algumas substncias intra e extracelulares promovem a reduo
do nitrato de prata que formam precipitados negros em estruturas como fibras
reticulares dos linfonodos, por exemplo.
Associao de corantes - a somatria de corantes diferentes, como o Tricrmico de
Gomori, que usa verde luz, cromotropo 2R e hematoxilina
Aps a colorao as lminas so montadas ou seja, os fragmentos so protegidos pela
cobertura com lamnulas de vidro. Esta colada na lmina atravs de substncias
selantes como por exemplo o Entellan. Aps a secagem, as lminas podem ser
observadas ao microscpio de luz.
Você também pode gostar
- Resenha República Das Milícias PDFDocumento8 páginasResenha República Das Milícias PDFRenan RibeiroAinda não há avaliações
- Roteiro Aula Pratica Citologia Clínica 02Documento2 páginasRoteiro Aula Pratica Citologia Clínica 02Danielle FeioAinda não há avaliações
- Biopráticas: Atividades experimentaisNo EverandBiopráticas: Atividades experimentaisAinda não há avaliações
- Relatorio Aula Prática de Coloração de GramDocumento8 páginasRelatorio Aula Prática de Coloração de GramDayanna222Ainda não há avaliações
- Tipagem Sanguínea em Tubo de EnsaioDocumento3 páginasTipagem Sanguínea em Tubo de EnsaioTamires Lima100% (1)
- Aulademicrobiologia PPT 131220065223 Phpapp02Documento33 páginasAulademicrobiologia PPT 131220065223 Phpapp02GabrielCallenAinda não há avaliações
- Histologia Do Sistema LocomotorDocumento8 páginasHistologia Do Sistema LocomotorGabriel FortunatoAinda não há avaliações
- Técnicas HistológicasDocumento9 páginasTécnicas Histológicasfabioconstancio335311Ainda não há avaliações
- Introdução à Citometria de Fluxo: Um manual básico para iniciantesNo EverandIntrodução à Citometria de Fluxo: Um manual básico para iniciantesAinda não há avaliações
- Relatório MicrobiologiaDocumento37 páginasRelatório MicrobiologiaTânia Mara MartinsAinda não há avaliações
- Anatomia Patológica Parte 1Documento32 páginasAnatomia Patológica Parte 1Livia RodriguesAinda não há avaliações
- Relatório Prático - Técnica de Estriamento e Avaliação de Teste de AntibiogramaDocumento7 páginasRelatório Prático - Técnica de Estriamento e Avaliação de Teste de AntibiogramaEvandro BrasilAinda não há avaliações
- 2020 Introdução A Microbiologia e Micologia ClínicaDocumento28 páginas2020 Introdução A Microbiologia e Micologia ClínicaCARLA ProvencialAinda não há avaliações
- Apostila de Uroanalise e EspermogramaDocumento23 páginasApostila de Uroanalise e EspermogramaLis MartinezAinda não há avaliações
- Aula 2 - Citologia HormonalDocumento34 páginasAula 2 - Citologia HormonallidiaAinda não há avaliações
- Relatórios de Aulas PráticasDocumento15 páginasRelatórios de Aulas PráticasJéssica AmaralAinda não há avaliações
- Parasitologia - Final 2016.1a - Gabarito - LarissaDocumento5 páginasParasitologia - Final 2016.1a - Gabarito - LarissaLuiz carlos D'angelo100% (1)
- Relatório Microbiologia-Práticas PDFDocumento8 páginasRelatório Microbiologia-Práticas PDFVilma CostaAinda não há avaliações
- Relatório de Microbiologia 3Documento13 páginasRelatório de Microbiologia 3Marissa ChicreAinda não há avaliações
- Parasitologia ResumoDocumento7 páginasParasitologia ResumogiselleAinda não há avaliações
- Líquidos BiológicosDocumento6 páginasLíquidos BiológicosJonathas MachadoAinda não há avaliações
- Avaliação de MicrobiologiaDocumento5 páginasAvaliação de MicrobiologiaJocimara MonsaniAinda não há avaliações
- RELATÓRIO de HEMATOLOGIADocumento11 páginasRELATÓRIO de HEMATOLOGIAMaria RodriguesAinda não há avaliações
- Relatório de Parasitologia Ladilce Pina Bm7maDocumento11 páginasRelatório de Parasitologia Ladilce Pina Bm7maMaria RodriguesAinda não há avaliações
- Imunodiagnóstico Da ToxoplasmoseDocumento10 páginasImunodiagnóstico Da ToxoplasmoseBruno SantosAinda não há avaliações
- Diagnóstico Leveduras ApostilaDocumento20 páginasDiagnóstico Leveduras ApostilaPatricia B Castro PrudencioAinda não há avaliações
- Microbiologia - UNICAMPDocumento224 páginasMicrobiologia - UNICAMPCRRRRRRRRRRRRRRRRRR50% (2)
- Meios de CulturaDocumento14 páginasMeios de CulturaFábio PilzAinda não há avaliações
- Taxonomia MicrobiológicaDocumento23 páginasTaxonomia MicrobiológicaVanessa LimaAinda não há avaliações
- 01 - Introdução À Bioquímica - Aula de Revisão e Nivelamento de Conceitos BásicosDocumento63 páginas01 - Introdução À Bioquímica - Aula de Revisão e Nivelamento de Conceitos BásicosJoelia maiaAinda não há avaliações
- AULA PRÁTICA 2 Identificação de Bactérias Gram Negativas-1Documento4 páginasAULA PRÁTICA 2 Identificação de Bactérias Gram Negativas-1Hildelene Amélia DantasAinda não há avaliações
- Micologia Medica Microscopio Vol03Documento60 páginasMicologia Medica Microscopio Vol03UdiFlavyAinda não há avaliações
- Apostila de Parasitologia Clínica - Protozoários e HelmintosDocumento40 páginasApostila de Parasitologia Clínica - Protozoários e HelmintosHelder Daniel BadianiAinda não há avaliações
- Relatório de Microbiologia - FungosDocumento9 páginasRelatório de Microbiologia - FungosSchirlayne LimaAinda não há avaliações
- Extração de DNADocumento6 páginasExtração de DNAEgnaldo A. Barreto67% (3)
- Atlas de MicologiaDocumento18 páginasAtlas de MicologiacherdsonAinda não há avaliações
- Resumo de Microbiologia 2BMDocumento15 páginasResumo de Microbiologia 2BMCarla EverllynAinda não há avaliações
- Relatorio de MicrobiologiaDocumento9 páginasRelatorio de MicrobiologiaEmanuelle FerreiraAinda não há avaliações
- Apontamentos de Biologia Celular e MolecularDocumento17 páginasApontamentos de Biologia Celular e MolecularSara Robalo100% (2)
- Histologia-Tecido Epitelial de RevestimentoDocumento72 páginasHistologia-Tecido Epitelial de RevestimentoJohn MesquitaAinda não há avaliações
- Micologia Medica Microscopio Vol04Documento68 páginasMicologia Medica Microscopio Vol04Isabela CaldeiraAinda não há avaliações
- Aula 12 Vacinas e Imunoterapia PDFDocumento13 páginasAula 12 Vacinas e Imunoterapia PDFErick HuebraAinda não há avaliações
- Pranchas ParasitologiaDocumento98 páginasPranchas Parasitologiawagneramado100% (1)
- Relatório COLORAÇÃO DE GRAM E MCROSDocumento4 páginasRelatório COLORAÇÃO DE GRAM E MCROSLuiz Carlos de Santana dos SantosAinda não há avaliações
- ColoraçãoDocumento5 páginasColoraçãoMarcos HenriqueAinda não há avaliações
- Experiências de Química Geral by Nito A Debacher, Eduardo StadlerDocumento116 páginasExperiências de Química Geral by Nito A Debacher, Eduardo StadlerCristina De Tate SettiAinda não há avaliações
- Guia Prático de Citologia ClínicaDocumento24 páginasGuia Prático de Citologia ClínicaFernando Tomazoni100% (1)
- Aula Microbiologia - Bacterias AnaerobiasDocumento52 páginasAula Microbiologia - Bacterias Anaerobiasvando2006100% (5)
- Aula 2 Diagnóstico em Parasitologia ClinicaDocumento28 páginasAula 2 Diagnóstico em Parasitologia Clinicaduilio junior100% (1)
- BACTERIOLOGIADocumento73 páginasBACTERIOLOGIAAndréia Vieira100% (1)
- DILUIÇÕESDocumento2 páginasDILUIÇÕESRodolpho Simon100% (1)
- Imunoensaios Marcados 2018.01Documento47 páginasImunoensaios Marcados 2018.01Rey AssisAinda não há avaliações
- Regulamento Assistência EstudantilDocumento15 páginasRegulamento Assistência EstudantilPlataformaYpsilonAinda não há avaliações
- AULA14 MatemáticaDocumento5 páginasAULA14 MatemáticaNascimento JgaAinda não há avaliações
- Anexo M 1 - Laudo Elétrico Das Construções Provisórias - OK (18980)Documento2 páginasAnexo M 1 - Laudo Elétrico Das Construções Provisórias - OK (18980)equalespoaAinda não há avaliações
- Anos Trinta e PoliticaDocumento5 páginasAnos Trinta e PoliticaTábatta MuriellyAinda não há avaliações
- Slide 1Documento9 páginasSlide 1WEYDSON PORTELAAinda não há avaliações
- Observação de Células Ao MicroscópioDocumento7 páginasObservação de Células Ao MicroscópioFernanda Pistrino DonegáAinda não há avaliações
- Lista de ExercíciosDocumento3 páginasLista de ExercíciosKarlos AraújoAinda não há avaliações
- OdontogramaDocumento4 páginasOdontogramaMaria Jayane KarollyneAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Ciência Da Informação e BiblioteconomiaDocumento83 páginasFundamentos Da Ciência Da Informação e BiblioteconomiaElizangela CristinaAinda não há avaliações
- Exercícios Da Teoria Do Produtor 2022 - 23Documento9 páginasExercícios Da Teoria Do Produtor 2022 - 23Diana GonçalvesAinda não há avaliações
- Leia A Bíblia para Entender KardecDocumento3 páginasLeia A Bíblia para Entender KardecJoaquim De AndradeAinda não há avaliações
- Da Pré Historia Ao FeudalismoDocumento24 páginasDa Pré Historia Ao FeudalismojonasgrosslAinda não há avaliações
- 01 - UNIP - Lógica - Análise e Desenvolvimento de SistemasDocumento7 páginas01 - UNIP - Lógica - Análise e Desenvolvimento de SistemasLuiz Braz OliveiraAinda não há avaliações
- Seminário Coco 2411Documento15 páginasSeminário Coco 2411Mariana Tibolla RodriguesAinda não há avaliações
- Apostila de PortuguêsDocumento41 páginasApostila de Portuguêsrayane RodriguesAinda não há avaliações
- (2021.1) Roteiro de ObservacaoDocumento3 páginas(2021.1) Roteiro de ObservacaoSilvia DiasAinda não há avaliações
- UntitledDocumento44 páginasUntitledMayume SuzumuraAinda não há avaliações
- ContabilidadeDocumento152 páginasContabilidadegilmar leiteAinda não há avaliações
- Pink Punch - DunamisDocumento1 páginaPink Punch - DunamisFernanda VieiraAinda não há avaliações
- N2 - Trabalho 01Documento5 páginasN2 - Trabalho 01CLAUDENRIK ALVESAinda não há avaliações
- Valor de AquisiçãoDocumento7 páginasValor de AquisiçãoEric SouzaAinda não há avaliações
- Cat Logo - Contatores - Sirius IDocumento29 páginasCat Logo - Contatores - Sirius IRodrigo Augusto TeixeiraAinda não há avaliações
- Pontos de Exu e Pombogira para EnsaioDocumento10 páginasPontos de Exu e Pombogira para EnsaioLorena Bicudo PiresAinda não há avaliações
- Catálogo de Unidades Curriculares - Ciências Da NaturezaDocumento250 páginasCatálogo de Unidades Curriculares - Ciências Da NaturezaIvone DelmiroAinda não há avaliações
- Química Geral I 6 Lista de Exercícios Farmácia 2017Documento2 páginasQuímica Geral I 6 Lista de Exercícios Farmácia 2017Anthony KliemannAinda não há avaliações
- Quiz - Home - AlcooisDocumento15 páginasQuiz - Home - AlcooisEder SoaresAinda não há avaliações
- Trabalho Haber Bosch Síntese de AmôniaDocumento11 páginasTrabalho Haber Bosch Síntese de AmôniaEvandro RodriguesAinda não há avaliações
- Plano de Sessão Educação Moral e Cívica 1Documento5 páginasPlano de Sessão Educação Moral e Cívica 1Heitor DalmolinAinda não há avaliações
- Ponto PretovelhoDocumento2 páginasPonto PretovelhoIrani NetflixAinda não há avaliações