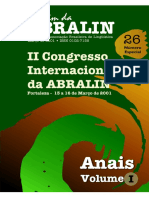Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Corpo, Percepção e Conhecimento em Merleau-Ponty
Corpo, Percepção e Conhecimento em Merleau-Ponty
Enviado por
Juan MoshTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Corpo, Percepção e Conhecimento em Merleau-Ponty
Corpo, Percepção e Conhecimento em Merleau-Ponty
Enviado por
Juan MoshDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estudos de Psicologia 2008, 13(2), 141-148
Corpo, percepo e conhecimento em Merleau-Ponty
Terezinha Petrucia da Nbrega
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Resumo
Com base nos estudos da cincia da sua poca, Merleau-Ponty interroga a respeito das anlises sobre o
sistema nervoso e os postulados clssicos sobre a conduo do impulso eltrico, sobre o circuito reflexo,
envolvendo estimulao e reao, sobre o campo perceptivo e sobre a questo da localizao cerebral, sendo
insuficiente a correspondncia pontual, prpria da tradio atomista, entre o excitante, o mapa cerebral e a
reao. Essa reviso conduz a uma nova compreenso da percepo que se aproxima das cincias cognitivas
contemporneas. Este artigo, fruto de um estudo terico sobre a fenomenologia de Merleau-Ponty, tem como
objetivo apresentar essa reviso conceitual sobre a percepo, o dilogo com a arte e a cincia, configurando
noes e conceitos em torno de uma fenomenologia do conhecimento.
Palavras-chave: percepo; fenomenologia; corpo; conhecimento; cincia
Abstract
Body, perception and knowledge in Merleau-Ponty. Based on studies of the science of his time, MerleauPonty questions about the analysis on the nervous system and the classical postulates on the conduct of the
electrical impulse, about the reflect circuit, involving stimulation and response, about the perceptual field
and about the question of brain location, being insufficient to match point, like the atomist tradition use to
defend, among the exciting, the brain map and the reaction. This review leads to a new understanding of
perception that is closer to the contemporary cognitive science. This article, a result of theoretical study on
the phenomenology of Merleau-Ponty, aims to present this review on the conceptual understanding, dialogue
with the art and science, setting notions and concepts around a phenomenology of knowledge.
Keywords: perception; phenomenology; body; knowledge; science
specialmente na obra Fenomenologia da Percepo,
Merleau-Ponty (1945/1994) apresenta uma crtica ampla
e rigorosa compreenso positivista da percepo por
meio da reviso do conceito de sensao, sua relao com o
corpo e com o movimento. A cincia, em sua verso positivista,
considera a percepo como algo distinto da sensao, embora
a relacione por meio da causalidade estmulo-resposta. Nesse
sentido, a percepo o ato pelo qual a conscincia apreende um
dado objeto, utilizando as sensaes como instrumento.
Uma nova maneira de compreender a percepo oferecida
pela Gestalt. Segundo essa teoria, a percepo compreendida
atravs da noo de campo, no existindo sensaes elementares,
nem objetos isolados. Dessa forma, a percepo no o
conhecimento exaustivo e total do objeto, mas uma interpretao
sempre provisria e incompleta.
A compreenso fenomenolgica da percepo ser construda
com base no dilogo com a psicologia, em especial com a Gestalt,
mas tambm com base no dilogo com a arte, sobretudo com
a pintura moderna e os trabalhos de Czanne, Matisse, entre
outros. Em seu mais conhecido ensaio esttico, Merleau-Ponty
reflete sobre a pintura de Czanne como configurao perceptiva
cuja natureza problematiza as dicotomias entre percepo e
ISSN (verso eletrnica): 1678-4669
pensamento, entre a expresso e o que expresso.
Czanne reconhece nas sensaes o paradoxo de sua
pintura, assim como o sensvel ser um elemento fundamental
para a compreenso da percepo na obra de Merleau-Ponty,
notadamente sua manifestao na pintura, uma vez que a obra
de arte possibilita a experincia da percepo de modo mais
intenso e vibrante.
A compreenso fenomenolgica tem influenciado vrios
estudos contemporneos sobre a percepo e suas relaes
com o conhecimento, em especial os trabalhos dos bilogos
chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. A reviso
sobre o funcionamento do sistema nervoso advinda desses
estudos confirma a concepo de Merleau-Ponty. Este artigo
caracteriza-se como um estudo terico, cujo objetivo apresentar
a concepo de Merleau-Ponty sobre a percepo, seu dilogo
com a arte e com a cincia; bem como configurar relaes entre
corpo, percepo e conhecimento.
A percepo como atitude corprea
Para compreender a percepo, a noo de sensao
fundamental. A sensao no nem um estado ou uma qualidade,
nem a conscincia de um estado ou de uma qualidade, como
Acervo disponvel em: www.scielo.br/epsic
142
T.P. Nbrega
definiu o empirismo e o intelectualismo. As sensaes so
compreendidas em movimento: A cor, antes de ser vista,
anuncia-se ento pela experincia de certa atitude de corpo que
s convm a ela e com determinada preciso (Merleau-Ponty,
1945/1994, p. 284).
A percepo est relacionada atitude corprea. Essa
nova compreenso de sensao modifica a noo de percepo
proposta pelo pensamento objetivo, fundado no empirismo
e no intelectualismo, cuja descrio da percepo ocorre
atravs da causalidade linear estmulo-resposta. Na concepo
fenomenolgica da percepo a apreenso do sentido ou dos
sentidos se faz pelo corpo, tratando-se de uma expresso
criadora, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo.
Considerando-se que das coisas ao pensamento das coisas,
reduz-se a experincia (Merleau-Ponty, 1945/1994, p. 497),
preciso enfatizar a experincia do corpo como campo criador
de sentidos, isto porque a percepo no uma representao
mentalista, mas um acontecimento da corporeidade e, como tal,
da existncia.
A anlise clssica da percepo distingue os dados sensveis
e a significao, ao passo que a anlise fenomenolgica nos
permite ultrapassar as alternativas clssicas entre o empirismo
e o intelectualismo, entre o automatismo e a conscincia. Essa
perspectiva apoia-se num ponto fundamental: o movimento. Para
Merleau-Ponty, a percepo do corpo confusa na imobilidade,
pois lhe falta a intencionalidade do movimento.
Os movimentos acompanham nosso acordo perceptivo com
o mundo. Situamo-nos nas coisas dispostos a habit-las com todo
nosso ser. As sensaes aparecem associadas a movimentos e
cada objeto convida realizao de um gesto, no havendo, pois,
representao, mas criao, novas possibilidades de interpretao
das diferentes situaes existenciais.
Esse conceito de percepo s possvel porque MerleauPonty rompe com a noo de corpo-objeto, parte extra-partes e
com as noes clssicas de sensao e rgos dos sentidos como
receptores passivos. Nos captulos sobre o mundo percebido em
Fenomenologia da Percepo, Merleau-Ponty refora a teoria
da percepo fundada na experincia do sujeito encarnado, do
sujeito que olha, sente e, nessa experincia do corpo fenomenal,
reconhece o espao como expressivo e simblico.
A teoria da percepo em Merleau-Ponty (1945/1994)
tambm se refere ao campo da subjetividade e da historicidade,
ao mundo dos objetos culturais, das relaes sociais, do dilogo,
das tenses, das contradies e do amor como amlgama das
experincias afetivas. Sob o sujeito encarnado, correlacionamos
o corpo, o tempo, o outro, a afetividade, o mundo da cultura e
das relaes sociais.
A experincia perceptiva uma experincia corporal. De
acordo com Merleau-Ponty (1945/1994) o movimento e o sentir
so os elementos chaves da percepo, desse modo:
A percepo sinestsica a regra, e, se no percebemos isso,
porque o saber cientfico desloca a experincia e porque desaprendemos a ver, a ouvir e, em geral, a sentir, para deduzir
de nossa organizao corporal e do mundo tal como concebe o
fsico aquilo que devemos ver, ouvir e sentir (p. 308).
Desaprendemos a conviver com a realidade corprea,
com a experincia dos sentidos, pois privilegiamos uma razo
sem corpo. No entanto, a percepo, compreendida como
um acontecimento da existncia, pode resgatar este saber
corpreo.
Ao considerar a perspectiva neurofisiolgica da percepo,
Merleau-Ponty refletiu a respeito da organizao do movimento,
refletindo sobre a unidade dos processos sensrios-motores
expressos na experincia corprea e a reflexo sobre a
circularidade caracterstica desse processo. Para MerleauPonty (1945/1994), a abordagem fenomenolgica da percepo
identifica-se com os movimentos do corpo e redimensiona a
compreenso de sujeito no processo de conhecimento. Nesse
sentido, o filsofo afirma que:
No o sujeito epistemolgico que efetua a sntese, o corpo;
quando sai de sua disperso, se ordena, se dirige por todos os
meios para um termo nico de seu movimento, e quando, pelo
fenmeno da sinergia, uma inteno nica se concebe nele.
(p. 312)
Em O Visvel e o Invisvel (Merleau-Ponty, 1964/1992), obra
inacabada, encontramos a concepo de percepo compreendida
como ao do corpo:
Antes da cincia do corpo que implica a relao com outrem ,
a experincia de minha carne como ganga de minha percepo
ensinou-me que a percepo no nasce em qualquer outro lugar,
mas emerge no recesso de um corpo. (p. 21)
Relacionada ao corpo em movimento, a percepo remete
s incertezas, ao indeterminado, delineando assim o processo de
comunicao entre o dado e o evocado. A f perceptiva uma
adeso ao mundo, realidade tal como vemos. No entanto, a
percepo exige o exame radical da nossa existncia por meio do
corpo e da imputao de sentidos. Merleau-Ponty (1964/1992)
afirma que o sentido dos acontecimentos est na corporeidade e
no em uma essncia desencarnada, seno vejamos:
No h mais essncias acima de ns, objetos positivos, oferecidos a um olho espiritual. H, porm, uma essncia sob ns,
nervura comum do significante e do significado, aderncia e
reversibilidade de um a outro, como as coisas visveis so as
dobras secretas de nossa carne e de nosso corpo. (p. 117)
Essa compreenso da percepo supera a causalidade
positivista e a idia de uma sntese conceitual dogmtica. Na
abertura das Conferncias que pronunciou na Rdio Nacional
Francesa, Merleau-Ponty (1948/2004) destaca que a explorao
da pintura, da poesia, das imagens do cinema nos d uma nova
viso do tempo e do homem; bem como outras maneiras de
perceber a cincia e a filosofia.
Na pintura de Matisse ou de Czanne o mundo no est
diante do artista por representao, mas como acontecimento
febril, uma encruzilhada onde o cho, assim como as linhas,
os contornos deslizam sob os nossos ps. Essa mesma atitude
pode ser estendida ao conhecimento do corpo, da percepo e
a recusa dos determinismos cientficos, histricos, filosficos
ou de qualquer ordem. Recusa muito bem expressa na obra de
Merleau-Ponty.
Corpo em Merleau-Ponty
A percepo como sensibilidade esttica
No ensaio A dvida de Czanne, Merleau-Ponty (1966/2004)
destaca o inacabamento da obra do pintor, sua busca para escolher
um novo modo de expresso em pintura e uma linguagem que
questionasse as dicotomias, por exemplo, entre a sensao e o
pensamento, a vida e a obra.
Para Merleau-Ponty (1966/2004), as conjecturas da vida de
Czanne no do o sentido positivo de sua obra, no significam
uma vida empobrecida ou uma pintura decadente como afirmaram
Zola e mile Bernard. O que chamamos sua obra no era para
ele, seno o ensaio e a aproximao de sua pintura (p. 123).
O sentido da obra no pode ser determinado por sua vida, nem
mesmo reportando-nos s influncias da histria da arte sobre
sua pintura. A vida no explica a arte, mas elas se comunicam.
Essa obra por fazer exigia essa vida, por isso ele nunca parou de
trabalhar, comenta Merleau-Ponty no ensaio citado.
Podemos estender esse princpio de inacabamento ao
pensamento de Merleau-Ponty, no somente por sua morte
prematura, pelos manuscritos deixados na mesa de trabalho, as
notas de O Visvel e o Invisvel, mas, sobretudo, por sua atitude
diante da filosofia, sua meditao sobre o corpo, sua recusa em
instalar-se em um saber absoluto.
Segundo Becks-Malorny (2001), Czanne destina para os
ltimos anos da sua vida uma nova tarefa, qual seja: criar, em uma
paisagem conhecida, personagens sados de sua imaginao, uma
vez que no utiliza modelos para esses trabalhos. A recordao
dos passeios de sua juventude pelos campos de Aix, a lembrana
dos amigos, as horas passadas beira do rio, resultam em leos e
aquarelas sobre o tema dos banhistas. Mas no se trata somente
de nostalgia ou motivao pessoal; as razes so mais profundas,
busca nas cores da natureza e em sua sensibilidade para perceblas o tema de sua criao.
Ao observar a cor, o desenho, os contornos, as propores
do corpo, as distores das formas, podemos compreender a tese
segundo a qual os sentidos no produzem um decalque do mundo
exterior. Czanne quer pintar a matria em vias de se formar,
afirma Merleau-Ponty (1966/2004, p. 128). Esse princpio
amplifica a compreenso de percepo apresentada por MerleauPonty e ser fundamental em sua teoria de conhecimento sobre
o corpo e sobre a percepo.
A sensibilidade esttica um desdobramento da anlise
perceptiva de Merleau-Ponty, considerando os aspectos do
corpo, do movimento e do sensvel como configurao da
corporeidade e da percepo como criao e expresso da
linguagem; considerando as referncias feitas pelo filsofo s
artes, especialmente pintura, como possibilidade de se ampliar a
linguagem, de aproxim-la da vida do homem e de seu corpo.
A obra de arte est colocada como campo de possibilidades
para a experincia do sensvel, no como pensamento de ver
ou de sentir, mas como reflexo corporal. Merleau-Ponty
(1960/1991) ilustra a reflexo corporal a partir da considerao
da filmagem em cmara lenta do trabalho de Matisse:
Esse mesmo pincel que, visto a olho nu, saltava de um ato
para outro, podia-se v-lo meditar, num tempo dilatado e
solene, numa iminncia de comeo do mundo, tentar dez
movimentos possveis, danar diante da tela, ro-la vrias
143
vezes, e por fim abater-se como um raio sobre o nico traado
necessrio [...] No considerou, com o olhar da mente, todos
os gestos possveis, e no precisou elimin-los todos, exceto
um, justificando-lhes a escolha. a cmara lenta que enumera
os possveis. Matisse, instalado num tempo e numa viso de
homem, olhou o conjunto aberto de sua tela comeada e levou
o pincel para o traado que o chamava, para que o quadro fosse
afinal o que estava em vias de se tornar [...]. Tudo se passou no
mundo humano da percepo e do gesto. (p. 46)
A linguagem sensvel configura possibilidades de outro
arranjo para o conhecimento, expresso na dimenso esttica.
O logos esttico exprime o universo da corporeidade, da
sensibilidade, dos afetos, do ser humano em movimento no
mundo, imerso na cultura e na histria, criando e recriando,
comunicando-se e expressando-se.
A comunicao exige a considerao do mundo sensvel,
tratando-se de um novo arranjo para o conhecimento, o logos
esttico, pois
a primeira fala no se estabeleceu num vazio de comunicao
porque ela emergia das condutas que j eram comuns e se
enraizava num mundo sensvel que j havia cessado de ser
mundo privado [...]. Esse mundo sensvel o logos do mundo
esttico. (Merleau-Ponty, 1969/2002, p. 65)
Sendo a primeira palavra gesto, afirma-se um novo sentido
para o logos, realiza-se, desse modo, a leitura da dimenso
potica e plstica do corpo em movimento e da percepo. Tratase de uma nova possibilidade de leitura do real e da linguagem
sensvel, procedendo-se pela reversibilidade dos sentidos.
Nos cursos sobre a Natureza, Merleau-Ponty (2000)
dedica um captulo estesiologia, a cincia dos sentidos, cuja
caracterstica abre o corpo para o exterior, transformando-o em
um corpo poroso, que permite a comunicao do meu corpo e dos
outros corpos. A sensorialidade um investimento que configura
a estesia, a capacidade fisiolgica, simblica, histrica, afetiva
de impresso dos sentidos.
A percepo das cores um exemplo significativo da estesia
apontado por Merleau-Ponty. A apreenso das significaes
se faz pelo corpo: aprender a ver as coisas adquirir um certo
estilo de viso, um novo uso do corpo prprio, enriquecer e
reorganizar o esquema corporal (Merleau-Ponty, 1945/1994,
p. 212).
Como a estesia se realiza? A apreciao de uma obra de
Czanne: Madame Czanne em sua poltrona vermelha, por
exemplo, ou mesmo de um poema, de um romance; enfim,
a experincia da obra de arte em geral produz significaes
mais amplas que a definem como um poema, um romance ou
uma pintura. A obra de arte tambm se constitui como um
suplemento de sentido, formulado a partir da experincia vivida,
e essa modulao existencial que torna a narrativa ou o quadro
significativo para ns.
A estesia do corpo proposta na fenomenologia de
Merleau-Ponty apia-se em uma compreenso sensvel da
vida e do conhecimento que ultrapassa as dicotomias clssicas
e o racionalismo. Essa perspectiva esttica amplia as vises
cientficas sobre a percepo, proporcionando novos caminhos
144
T.P. Nbrega
na fenomenologia de Merleau-Ponty.
Com base na compreenso fenomenolgica da percepo
advinda do pensamento de Merleau-Ponty, relacionada ao corpo
e a sensibilidade esttica, fazemos algumas aproximaes com
as cincias cognitivas contemporneas.
A percepo como autopoisis e como enao
J em sua primeira obra, Merleau-Ponty (1942/1975)
apresenta uma reviso sobre as funes aferente e eferente
no sistema nervoso. A concepo tradicional considera que o
sistema sensorial formado por fibras aferentes que conduzem o
estmulo da periferia para o sistema nervoso central. A partir da,
as fibras eferentes se encarregam de processar as informaes
e efetuar uma resposta.
Especialmente durante as duas ltimas dcadas, tem havido
diversas tentativas de se tratar o organismo como um sistema
dinmico complexo em ntima conexo com o ambiente. A
reflexo de Merleau-Ponty sobre a circularidade existente
entre os sistemas aferente e eferente aproxima-se desse esforo
contemporneo em no dicotomizar as partes e o todo, mas em
considerar as interconexes que se realizam na ao humana
com o meio ambiente, com a cultura e com os processos sciohistricos.
A teoria organismo-entorno baseia-se em trabalhos
experimentais de neurofisiologia e psicologia, bem como
em consideraes filosficas da formao do conhecimento,
para alm do racionalismo e do empirismo. A percepo
o processo de juntar partes novas do ambiente ao sistema
organismo-entorno, porm no se trata de um processamento
de informaes. Com a ajuda dos receptores eferentes, cada
organismo cria seu prprio mundo, simultaneamente objetivo e
subjetivo (Jarvileto, 1999).
As clulas receptoras no tm como funo exclusiva
a conexo com o sistema nervoso central atravs das fibras
aferentes, mas h tambm conexes com fibras eferentes. As
conexes podem ocorrer de fora para dentro ou no interior do
prprio organismo, por meio de sinais eltricos e qumicos. As
conexes eferentes tm influncia nos rgos sensoriais, o que
modifica a maneira como o organismo interpreta os estmulos do
ambiente. Isso significa que a percepo no um processo linear
de decodificao de estmulos e sim, preferivelmente, um crculo
que envolve o sensrio e o motor no como partes integrantes,
mas como uma unidade dinmica (Jarvileto, 1999).
Essa compreenso da percepo possvel porque os
sentidos no so considerados como janelas do conhecimento.
Desse modo, embora o estmulo exista como estmulo, ou
seja, embora o estmulo impressione os sentidos, oferecendo
informaes ao organismo, este assume configuraes variadas
para cada acontecimento; assim, a percepo no apenas
decodifica estmulos, linearmente, mas reflete a estrutura do
nosso corpo frente ao entorno, em contextos sociais, culturais
e afetivos mltiplos.
Alm dessa reviso do conceito de sensao e das relaes
entre os sistemas aferente e eferente, cabe refletir sobre o papel
do movimento na percepo. preciso ampliar a reflexo sobre
a funo do movimento na teoria da percepo. O movimento
no pode ser compreendido apenas de modo causal, modificando
a sensao. O movimento do organismo a expresso da
reorganizao do sistema como um todo. preciso considerar a
unidade entre o sensrio e o motor na teoria da percepo.
Desse modo, a percepo seria a cooperao entre os rgos
sensoriais e os msculos, havendo uma sinergia. No entanto, as
teorias motoras da percepo, mesmo considerando a sinergia,
ainda vem os sentidos como transmissores de informaes
do ambiente, no rompendo com a concepo tradicional de
sentidos como janelas da alma. preciso avanar na perspectiva
de reconhecer o carter dinmico da atividade neural (Jarvilehto,
1999).
Estudos neurofisiolgicos tm mostrado que a resposta neural
no resulta do simples estmulo, mas h diferentes condies
de resposta. H uma circularidade entre os acontecimentos
internos e externos e no apenas uma correspondncia
unvoca, do tipo estmulo-resposta, gerando uma adaptao
ao meio. O conhecimento perceptivo no uma adequao,
mas fundamentalmente criao, haja vista a plasticidade do
crebro-corpo.
Nessa perspectiva, os estudos sobre o sistema nervoso so
esclarecedores. Por exemplo, a proposio de Damsio (1996),
segundo a qual o eu ou a subjetividade um estado biolgico
constantemente reconstitudo e no uma entidade imaterial. No
se trata de compreender a mente isolada do organismo (corpo e
entorno), mas compreender que a mente emerge do organismo,
das interaes crebro-corpo.
Essa nova concepo de mente encontra fundamento em
revises dos conceitos clssicos da teoria localizacionista.
O localizacionismo, doutrina que se refere idia de um
mapa cortical rgido, relativizado. Os estudos atuais sobre o
sistema nervoso, especialmente sobre o crebro, confirmam a
especializao do mesmo em determinadas funes mentais, mas,
devido plasticidade do sistema nervoso, a teoria localizacionista
torna-se insuficiente, como demonstram Changeux (1991),
Damsio (1996), Maturana e Varela (1995).
No dilogo entre as reflexes de Merleau-Ponty e as cincias
contemporneas fazemos uma aproximao com a noo de
autopoisis produzida por Maturana e Varela (1995), destacandose a interao entre o organismo, o meio e a importncia do
movimento na ao.
A autopoisis refere-se complexidade do ser vivo, trata-se
de um processo recursivo caracterizado pela clausura operacional
e pelo acoplamento estrutural. O conceito de clausura
operacional no se restringe ao uso habitual de ausncia de
interao, mas caracteriza uma nova forma de interao mediada
pela autonomia do sistema, pela auto-referncia (Maturana &
Varela, 1995; 1997).
O conceito de clausura mantm uma relao de
complementaridade com o conceito de acoplamento estrutural.
Assim, h um ponto de referncia nas interaes (clausura),
flexvel o suficiente para incorporar os acontecimentos
(acoplamento). Trata-se de um jogo dinmico, complementar,
no sendo o determinismo do ambiente, nem o equilbrio
esttico que definem as regras da organizao da unidade viva.
Ao invs de determinismo, o que h um ponto de referncia
Corpo em Merleau-Ponty
nas interaes, a saber, a emergncia (Maturana & Varela, 1995;
1997).
A emergncia inaugura a natureza do fenmeno interpretativo,
desde a clula at nveis de maior complexidade, como o
corpo em movimento. As modificaes no organismo no so
determinadas exclusivamente pelo meio externo, conforme o
esquema causal estmulo-resposta, mas o prprio organismo,
atravs do movimento, participa da reorganizao da estrutura do
ser. Nesse sentido, o conceito de emergncia fundamental para
compreender o corpo em movimento, relacionando organismo
e entorno.
A afirmao de Merleau-Ponty (1942/1975), segundo a
qual o meio se destaca do mundo segundo o ser do organismo,
estando claro que um organismo no pode existir, salvo, se
encontra no mundo um meio adequado (p.39), emblemtica
dessa aproximao epistemolgica. A citao seguinte tambm
confirma essa perspectiva, a saber:
Os movimentos, medida que se executam, provocam
modificaes no estado do sistema aferente que, por sua vez,
criam novos movimentos. Esse processo dinmico assegura a
regulao flexvel de que temos necessidade para dar conta do
comportamento efetivo. (p.73)
As citaes contm o princpio bsico da teoria da
autopoisis, que a relao recursiva entre os componentes
e o sistema, gerando autonomia. Na concepo tradicional,
o movimento era causado por estmulos vindos do meio
ambiente, dentro do esquema estmulo-resposta. Os rgos
dos sentidos e suas fibras aferentes conduziam o estmulo e o
sistema motor, com suas fibras eferentes, processava e executava
a resposta.
Na perspectiva da autopoisis, a relao entre os sistemas
aferente e eferente modificada, sendo considerada circular e
no mais linear. O prprio sistema, isto , a organizao motora,
internamente, pode modificar o sistema, gerando diferentes
possibilidades de respostas. No predomina o determinismo
do ambiente, mas certa clausura operacional, o que significa
que o prprio sistema tem as condies de operar, embora
esteja disponvel para trocas com o ambiente (acoplamento
estrutural).
Considerar o corpo em movimento como um sistema
autopoitico reconhec-lo como fenmeno que no se reduz
causalidade linear; considerar ainda que o ser humano no
seja um ser determinado, mas uma criao contnua. , por
fim, uma tentativa de abordar a corporeidade no como algo
abstrato, recusar as dicotomias, ensaiar atitudes complexas
para compreender o humano e sua condio de ser corpreo
em incessante movimento, admitindo diferentes interpretaes,
pautadas na circularidade ou recursividade dos fenmenos.
A lgica recursiva prxima noo de reversibilidade
dos sentidos em Merleau-Ponty, referindo-se comunicao
entre os sentidos, o que permite diferentes possibilidades para
a percepo. A reversibilidade diz respeito comunicao entre
os diferentes sentidos, como a apalpao pelo olhar, o tato como
viso pelas mos, sempre relacionada motricidade, a essa
capacidade de se pr em movimento.
145
Esta noo fundamental para compreender a dinmica
do corpo em movimento, o movimentar-se, destacando-se
a comunicao entre os sentidos. importante esclarecer a
importncia epistemolgica da noo de reversibilidade dos
sentidos na obra de Merleau-Ponty, pois, no se trata mais de
atribuir um espao ordenador conscincia, mas de compreender
a circularidade entre processos corporais e estados neuronais,
entre corpo e mente, possibilitada pela comunicao entre os
sentidos. A reversibilidade coloca o corpo, no como suporte
de uma conscincia cognoscente, sempre referendada por um
sujeito, mas apresenta-o na experincia do movimento.
As reflexes de Merleau-Ponty apontam para aspectos
importantes do estudo da percepo, que hoje so retomados
pelos estudos das biocincias, cincias cognitivas e inteligncia
artificial, em especial nos estudos de Varela, Thompson e Rosch
(1996), tais como: a percepo emerge da motricidade; o sistema
nervoso central tem por funo a conduo do impulso e no a
elaborao do pensamento; a relao circular entre o organismo
e o meio, admitindo fenmenos transversais e considerando no
apenas os componentes fsico-qumicos, mas a organizao
dos elementos. Sobre esse ltimo aspecto, Merleau-Ponty
(1942/1975) afirma:
O estmulo adequado no pode se definir em si e independente
do organismo; no uma realidade fsica, uma realidade
fisiolgica ou biolgica. O que desencadeia necessariamente
certa resposta reflexa, no um agente fsico-qumico, certa
forma de excitao da qual o agente fsico-qumico a ocasio
antes que a causa. (p. 57)
A atitude fenomenolgica de corpo de Merleau-Ponty abriu
perspectivas para os estudos contemporneos, assim como esses
estudos atualizam os dados cientficos sobre os quais MerleauPonty se apoiara em suas reflexes. As Cincias Cognitivas
buscam, na filosofia de Merleau-Ponty, o corpo vivido, a
experincia, a percepo, a motricidade, retomada como base
para a compreenso da inscrio corporal do conhecimento
nas teorias sobre aprendizagem. Varela et al (1996) apontam o
comeo de uma nova cincia bio-fenomenolgica, referindose ao pensamento de Merleau-Ponty, ao relacionar cognio
e experincia vivida no acontecer corporal do conhecimento.
Em outras palavras, a cognio depende da experincia
que acontece na ao corporal, vinculada s capacidades de
movimento, opondo-se compreenso de cognio enquanto
um processamento de informaes.
Para Merleau-Ponty (1964/1992), a percepo uma porta
aberta a vrios horizontes; porm, uma porta giratria, de modo
que, quando uma face se mostra, a outra se torna invisvel. Cada
sentido se exerce em nome das demais possibilidades. Sob o meu
olhar atual surgem as significaes. Mas, o que garante a relao
entre o que vejo e o significado, entre o dado e o evocado? Essa
relao arbitrria, depende das intenes do momento, de dados
culturais, de experincias anteriores e do movimento.
Para uma fenomenologia do conhecimento
Dreyfus (1996), pesquisador do campo das Cincias
Cognitivas, aborda a relevncia da compreenso fenomenolgica
146
T.P. Nbrega
do corpo construda por Merleau-Ponty para o embodied
mind, traduzido por incorporao ou inscrio corporal do
conhecimento. O referido autor retoma noes fenomenolgicas
como o hbito motor, o arco intencional e a relao do corpo
com a cultura, como necessrias para superar a representao
mentalista que, por muito tempo, caracterizou os processos
cognitivos.
Merleau-Ponty tambm retomado na anlise histricosocial de Crossley (1996), quando aponta as relaes entre o
corpo-sujeito de Merleau-Ponty e o corpo-poder de Foucault,
destacando a crtica de ambos s noes tradicionais da filosofia,
como, por exemplo, o corpo-objeto, bem como o enfoque dos
filsofos sobre as condutas histricas. Para este autor, MerleauPonty identifica o social na relao das aes corporais com a
produo de significados, que no resultado de uma conscincia
transcendental ou constituinte, mas do engajamento do corposujeito, via motricidade.
O bilogo Francisco Varela considera suas teses sobre a
cognio como uma continuao da pesquisa filosfica francesa,
particularmente os estudos de Merleau-Ponty, contemplados
no contexto atual das cincias cognitivas. Estas conservam de
Merleau-Ponty a exigncia cientfica cultural do ocidente ao
considerar nossos corpos como uma estrutura viva e experiencial,
em que o interno e o externo, o biolgico e o fenomenolgico
se comunicam.
Especialmente nos estudos da percepo apresentados por
Merleau-Ponty, h uma aproximao com a pesquisa cientfica
atual da cognio, no sentido de que a experincia humana ,
culturalmente, incorporada. Maturana e Varela (1995) colocam
em cena a crtica ao conceito mentalista de representao,
enfatizando-se a compreenso interpretativa do conhecimento
a partir da percepo e do movimento, a saber:
Percepo e pensamento so o mesmo no sistema nervoso;
por isso no tem sentido falar de esprito versus matria, ou
idias versus corpo: todas essas dimenses da experincia so
o mesmo no sistema nervoso; noutras palavras, so operacionalmente indiferenciveis. (pp. 43-44)
Os estudos da percepo tm contribudo para ampliar
a compreenso de cognio, no sentido de tornar mais claro
como se realiza o fenmeno conhecer. A enao desloca o
papel da representao ao considerar que o conhecimento
incorporado, isto , refere-se ao fato de sermos corpo, com
uma infinidade de possibilidades sensrio-motoras, e estarmos
imersos em contextos mltiplos. O termo enao inspira-se no
neologismo criado por Varela et al (1996), do espanhol enaco
e do ingls enaction. A expresso foi traduzida por Assmann
(1996) como fazer emergir e diz respeito compreenso da
cognio defendida pelos referidos autores. A cognio emerge
da corporeidade, da experincia vivida e da capacidade de se
movimentar do ser humano.
A enao enfatiza a dimenso existencial do conhecer,
emergindo da corporeidade. A cognio depende da experincia
que acontece na ao corporal. Essa ao vincula-se s
capacidades sensrio-motoras, envolvidas no contexto afetivo,
social, histrico, cultural. O termo significa que os processos
sensoriomotores, percepo e ao, so essencialmente
inseparveis da cognio.
Francisco Varela e seus colaboradores destacam as
contribuies de Merleau-Ponty sobre o estudo da percepo
e do movimento e as consideraes sobre a interdependncia
entre o organismo e o ambiente, compreendida na circularidade,
para definir a lgica circular dos fenmenos cognitivos (Varela
et al, 1996).
A cognio inseparvel do corpo, sendo uma interpretao
que emerge da relao entre o eu e o mundo, nas capacidades do
entendimento. Essas capacidades so originadas na estrutura
biolgica do corpo, experienciadas no domnio consensual e
aes da histria e da cultura (Varela et al, 1996, p. 149). A
mente no uma entidade des-situada, desencarnada ou um
computador; a mente tambm no est em alguma parte do corpo,
ela o prprio corpo. Essa unidade implica que as tradicionais
concepes representacionistas enganam-se ao colocar a mente
como uma entidade interior. O pensamento insuficiente e a
estrutura mental inseparvel da estrutura do corpo.
Para compreender o sentido da enao, preciso
compreender o aspecto recursivo que o envolve. O princpio
da recursividade refere-se a processos em que os produtos e os
efeitos so ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que
os produziu, posto que efeitos e produtos so necessrios nos
processos que os geram. Na lgica recursiva, supera-se o limite
da linearidade, segundo o qual tal causa produz tal efeito. No se
trata mais do olhar externo que transforma as coisas em objetos,
em busca da explicao causal linear; trata-se de olhar no mais
sobre o objeto isoladamente, mas sim, sobre o sistema como
objeto de investigao.
Uma caracterstica importante da lgica recursiva a autoreferencialidade. A auto-referencialidade favorece a autonomia
do sistema vivo, pois rompe com o determinismo do meio
ambiente, gerando um outro tipo de relao: uma relao
recursiva que garante a dinmica das interaes entre o todo
e as partes, gerando autonomia, como expresso na autopoisis
(Maturana & Varela, 1995).
Quando nos movimentamos, h uma circularidade entre
os acontecimentos do meio ambiente e os acontecimentos no
prprio corpo, ocorrendo aprendizagem, ou seja, uma nova
interpretao desses acontecimentos. De certa forma, esses
movimentos tornam-se automticos, ou seja, to logo os
tenhamos aprendido, no precisamos mais pensar sobre eles
para os executarmos.
O corpo sabe! No entanto, no podemos realizar dois
movimentos idnticos, pois, mesmo sem nos darmos conta,
o nosso corpo e sua estrutura perceptiva (sensrio-motora)
esto o tempo todo se reorganizando ou se auto-organizando,
gerando sempre novas interpretaes para o movimento,
novas emergncias, micro processos. No macro, aos olhos do
observador, parece no haver novidades, mas no micro h sempre
novas emergncias, tudo se renova constantemente.
Ao e pensamento no so fenmenos que ocorrem
separadamente; seno vejamos o exemplo dado por MerleauPonty (1968), em uma de suas aulas na Sorbonne:
Trata-se do jogo de tnis ou de qualquer outro esporte, preciso levar em considerao uma quantidade de dados: vento,
Corpo em Merleau-Ponty
velocidade da bola, posio do adversrio, natureza do campo,
momento da partida. O corpo faz prova de inteligncia diante
das situaes inteiramente novas, o gesto resolve um problema
que no foi colocado pela inteligncia e cujos elementos so
infinitamente numerosos. (p. 266)
O exemplo acima demonstra que sentir e compreender
constituem-se em um mesmo ato de significao, possveis
pela nossa condio corprea e pelo acontecimento do gesto,
cuja estesia inaugura a possibilidade de uma racionalidade que
emerge do corpo e de seus sentidos biolgicos, afetivos, sociais,
histricos. Essa compreenso significativa para redimensionar
o fenmeno do conhecimento, relacionando-o experincia
vivida, ao corpo e aos sentidos.
Consideraes finais
Quais as conseqncias desse ponto de vista da percepo
para o pensamento e para o conhecimento? O conhecimento no
se deixa apreender pela perspectiva reducionista da inteleco,
emergindo dos processos corporais. No movimento dos corpos,
podemos fazer a leitura, com lentes sensveis dos aspectos
visveis e invisveis do Ser, do conhecimento e da cultura. As
significaes que surgem, o sentido, so, em ltima instncia,
significaes vividas e no da ordem do eu penso.
Nesse sentido, podemos afirmar que o conhecimento
co-extensivo ao mundo e no podemos substituir o ato de ver
pelo pensamento de ver. Aquilo a que chamamos idia est
necessariamente ligado a um ato de expresso, um objeto da
cultura, um meio de expresso e de comunicao e, portanto,
uma produo da subjetividade.
Para compreender o sentido da subjetividade em MerleauPonty precisamos compreender tambm a noo de liberdade,
posto que o mundo existe independente de nossas formulaes
individuais sobre os fatos, os acontecimentos. Mas, sob um
segundo aspecto, o mundo no est inteiramente constitudo,
depende de nossas aes individuais e coletivas. Para MerleauPonty a liberdade sempre o encontro do nosso ser interior com
o exterior e as escolhas que fazemos tm sempre lugar sobre
as situaes dadas e possibilidades abertas. Somos, ao mesmo
tempo, uma estrutura psicolgica e histrica, um entrelaamento
do tempo natural, do tempo afetivo e do tempo histrico.
O sentido das nossas escolhas contribui para a subjetividade.
Os gostos pessoais, as preferncias, as rejeies, os desejos,
vo sendo configurados por meio dessa estrutura subjetiva na
qual correlacionamos o tempo, o corpo, o mundo, as coisas e
os outros. O campo da subjetividade encontra-se recortado pela
historicidade, pelos objetos da cultura, pelas relaes sociais,
tenses, contradies, paradoxos, afetos. Dessa maneira, a
leitura de um livro, a apreciao de uma obra de arte, o discurso
de um determinado poltico, filsofo ou cientista, a paixo
por algum, todas essas experincias mobilizam sentidos que
foram construdos nesse campo subjetivo e apresentam-se como
maneiras de subjetivao especficas da cultura contempornea e
da educao como um processo de aprendizagem dessa mesma
cultura.
A dimenso expressiva do corpo enfatizada por Merleau-
147
Ponty como comunicao da realidade sensvel, dimenso
potica da corporeidade comunicada por meio do gesto. Por meio
do logos sensvel, esttico, coloca-se a experincia perceptiva
como campo de possibilidades para o conhecimento, investido de
plasticidade e beleza de formas, texturas, sabores, odores, cores
e sons. O corpo e o conhecimento sensvel so compreendidos
como obra de arte, aberta e inacabada.
A experincia vivida habitada por esse sentido
esttico presente na corporeidade, compreendida como
campo de possibilidades para nos aprofundarmos nos
acontecimentos, retomando sentidos e significados da linguagem
e do conhecimento. A experincia do corpo configura uma
comunicao gestual destinada, no ato perceptivo, aos sentidos
atribudos pelo espectador.
A experincia do corpo configura um conhecimento sensvel
sobre o mundo expresso, emblematicamente, pela estesia dos
gestos, das relaes amorosas, dos afetos, da palavra dita e da
linguagem potica, entre outras possibilidades da experincia
existencial. A estesia uma comunicao marcada pelos sentidos
que a sensorialidade e a historicidade criam, numa sntese sempre
provisria, numa dialtica existencial que move um corpo
humano em direo a outro.
A experincia esttica amplia a operao expressiva
do corpo e a percepo, afinando os sentidos, aguando
a sensibilidade, elaborando a linguagem, a expresso e a
comunicao. Considerando o pensamento de sua poca, os
primeiros cinqenta anos do sculo XX, Merleau-Ponty diz
que o mundo sensvel e o mundo da expresso afetam o ser
e a subjetividade, mas o ser humano ainda definido pelo
seu poder de atribuir significados, apelando-se conscincia.
Para o filsofo, o caminho do mundo sensvel ao mundo da
expresso caracteriza-se como uma trajetria perceptiva, na qual
a motricidade e as funes simblicas no esto separadas pelo
entendimento, mas entrelaadas na reversibilidade dos sentidos,
na dimenso esttica.
A fenomenologia de Merleau-Ponty continua desafiadora,
no sentido de concretizarmos a perspectiva da sensibilidade e
da corporeidade. Nesse pensamento, percebemos uma atitude
que convida a uma convivncia potica com o corpo, por
meio do logos esttico; convida a uma abertura ao mundo e
s configuraes desenhadas pelas experincias dos sujeitos.
Convida ao enlace com a cor, forma, sonoridade, texturas,
sabores, aromas, olhares e imagens do mundo e dos outros
corpos, por meio de um mergulho no sensvel que nos permite
perceber a profundidade do encontro e dos acontecimentos.
Convida a tomar parte na histria e na cultura por meio da
experincia dos sujeitos e dos sentidos que podemos atribuir a
essas experincias.
O mundo fenomenolgico o mundo dos sentidos e
a filosofia coloca-se como realizao no da verdade, mas
de possibilidades de verdades. Nesse sentido, a filosofia da
percepo anunciada por Merleau-Ponty desdobra diante de
ns a tarefa de compreender o corpo como sensvel exemplar na
construo de saberes e na produo de subjetividades.
Em nossa compreenso, a abordagem fenomenolgica
apresenta-se como uma paisagem epistmica capaz de
148
T.P. Nbrega
articular condies scio-histricas, subjetivas e cognitivas,
caminhos investigativos, novos modos de compreenso para
o conhecimento. As noes apresentadas configuram uma
epistemologia da qual se depreende um conceito de racionalidade
em que as perspectivas se confrontam, as percepes se
confirmam, sentidos aparecem. Os sentidos apresentados podem
contribuir para o debate em torno de uma fenomenologia do
conhecimento que considere a condio corprea e sensvel do
ser humano; bem como o dilogo entre filosofia, arte, cincia e
outros saberes da cultura.
Referncias
Assman, H. (1996). Metforas novas para reencantar a educao: epistemologia
e didtica. Piracicaba: Editora da Unimep.
Becks-Malorny, U. (2001). Czanne (F. Tomaz, Trad.). Berlim: Taschen.
Changeux, J-P. (1991). O Homem neuronal (A. P. Monteiro, Trad.) Lisboa:
Dom Quixote.
efferentinfluences on receptors in the formation of knowledge. Integrative
Physiological and Behavior Science, 34(2), 90-110. Obtido em 20 de maro
de 2007, de http://www.edu.oulu.fi/homepage/tjarvile/orgenv3.pdf.
Maturana, H., & Varela, F. (1995). A rvore do conhecimento: as bases biolgicas
do entendimento humano. Campinas: Editorial Psy II.
Maturana, H., & Varela, F. (1997). De mquinas e seres vivos: autopoiesi a
organizao do vivo (J. A. Llores, Trad.). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Merleau-Ponty, M. (1968). Rsums de cours. Collge de France 1952-1960.
Paris: Gallimard.
Merleau-Ponty, M. (1975). A estrutura do comportamento (J. Corra, Trad.). Belo
Horizonte: Interlivros. (Texto original publicado em 1942)
Merleau-Ponty, M. (1991). Signos (M. Pereira, Trad.). So Paulo: Martins Fontes.
(Texto original publicado em 1960)
Merleau-Ponty, M. (1992). O visvel e o invisvel (A. Gianotti, & A. Mora, Trad.).
So Paulo: Perspectiva. (Texto original publicado em 1964)
Merleau-Ponty, M. (1994). Fenomenologia da percepo (C. Moura, Trad.). So
Paulo: Martins Fontes. (Texto original publicado em 1945)
Crossley, N. (1996). Body-subject / body-power: agency, inscription and control
in Foucault and Merleau-Ponty. Body & Society, 2(2), 99-116.
Merleau-Ponty, M. (2000). A natureza (A. Cabral, Trad.). So Paulo: Martins
Fontes.
Merleau-Ponty, M. (2002). A prosa do mundo (P. Neves, Trad.). So Paulo: Cosac
& Naify. (Texto original publicado em 1969)
Damsio, A. (1996). O erro de Descartes: emoo, razo e crebro humano.
(D.Vicente e G. Segurado, Trad.). So Paulo: Companhia das Letras.
Merleau-Ponty, M. (2004). A dvida de Czanne (P. Neves; M. Pereira, Trad.).
So Paulo: Cosac &Naify. (Texto original publicado em 1966)
Dreyfus, H. (1996). The current relevance of Merleau-Pontys phenomenology
of embodiment. Obtido em 26 de julho de 2008, de ejap.louisiana.edu/
EJAP/1996.spring/dreyfus.1996.spring.html.
Jarvilehto, T. (1999). The theory of the organism-entorn system III: role of
Merleau-Ponty, M. (2004). Conversas 1948 (F. Landa e E. Landa, Trad.). So
Paulo: Martins Fontes. (Texto original publicado em 1948)
Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (1996). Embodied mind: cognitive science
and human experience. Londres: The MIT Press.
Terezinha Petrucia da Nbrega, doutora em Educao pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP),
professora associada I no Programa de Ps-Graduao em Educao da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento. Endereo para
correspondncia: Av. Caiaps, 3005, Bloco Ravena, ap. 202 (Pitimbu); Natal, RN; CEP 59067-400. Tel.:
(84) 3086-6589 / 9981-9269 / 3215-3451. E-mail: pnobrega@ufrnet.br
Recebido em 28.out.07
Revisado em 30.jul.08
Aceito em 18.ago.08
Você também pode gostar
- Merleau-Ponty e o CorpoDocumento9 páginasMerleau-Ponty e o CorpoThamires MeloAinda não há avaliações
- Apostila de Estimulacao CognitivaDocumento249 páginasApostila de Estimulacao CognitivaDebora100% (21)
- Avaliação Profop Unifaveni - Psicologia Da Educação e Da AprendizagemDocumento3 páginasAvaliação Profop Unifaveni - Psicologia Da Educação e Da AprendizagemAline LaudelinoAinda não há avaliações
- Percepção Termo Freqüente, Usos Inconseqüentes em Pesquisa PDFDocumento15 páginasPercepção Termo Freqüente, Usos Inconseqüentes em Pesquisa PDFFelipe MagalhaesAinda não há avaliações
- A Relação Sujeito e Mundo Na Fenomenologia de Merleau-PontyDocumento17 páginasA Relação Sujeito e Mundo Na Fenomenologia de Merleau-PontyMelo_31Ainda não há avaliações
- Mapa Mental Conceitual (Emoções) - Versão FinalizadaDocumento1 páginaMapa Mental Conceitual (Emoções) - Versão FinalizadaIanara Evangelista50% (2)
- O Enigma Do Corpo e o Delírio Da Visão em Merleau-PontyDocumento16 páginasO Enigma Do Corpo e o Delírio Da Visão em Merleau-Pontyrecruta4279Ainda não há avaliações
- Merleau-Ponty - Fenomenologia Da PercepçãoDocumento3 páginasMerleau-Ponty - Fenomenologia Da PercepçãoMaria Antonia100% (1)
- Merleau-Ponty e o Primado Da Percepcao - Dialogos Com A PsicanáliseDocumento32 páginasMerleau-Ponty e o Primado Da Percepcao - Dialogos Com A PsicanáliseMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- A Subjetividade Como Corporeidade: o Corpo Na Fenomenologia de Merleau-PontyDocumento12 páginasA Subjetividade Como Corporeidade: o Corpo Na Fenomenologia de Merleau-PontyEMANUELY DIAS CAMPOSAinda não há avaliações
- Merleau PontyDocumento2 páginasMerleau PontyVictor Mourthé ValadaresAinda não há avaliações
- Apresentação Fenomenologia Da PercepçãoDocumento19 páginasApresentação Fenomenologia Da PercepçãoMinesa100% (2)
- Antepredicativa MerleauDocumento7 páginasAntepredicativa MerleauigorAinda não há avaliações
- O Conceito de Sentimento No Monismo de Triplo AspectoDocumento24 páginasO Conceito de Sentimento No Monismo de Triplo AspectoMarcelo MeselAinda não há avaliações
- Resenha Livro Lúcia Santaella - Percepção, Semiótica e EcologiaDocumento5 páginasResenha Livro Lúcia Santaella - Percepção, Semiótica e EcologiaCamyla TorresAinda não há avaliações
- Texto 01 - FichamentoDocumento5 páginasTexto 01 - FichamentoMartinho NetoAinda não há avaliações
- Casanova Dos Reis - A Subjetividade Como Corporeidade - 2011Documento12 páginasCasanova Dos Reis - A Subjetividade Como Corporeidade - 2011Bruno SaraivaAinda não há avaliações
- Considerações Sobre Corporeidade e Percepção No Último Merleau-PontyDocumento9 páginasConsiderações Sobre Corporeidade e Percepção No Último Merleau-PontyGabriela MagalhãesAinda não há avaliações
- Textoo Av3Documento28 páginasTextoo Av3helio donadiAinda não há avaliações
- Wa0010.Documento14 páginasWa0010.emersoncesar031Ainda não há avaliações
- Estudo Teórico Sobre Percepção Na Filosofia e Nas NeurociênciasDocumento13 páginasEstudo Teórico Sobre Percepção Na Filosofia e Nas NeurociênciasAeinar DurickAinda não há avaliações
- 6 Ed. Artigo 7 - O Corpo Que DançaDocumento10 páginas6 Ed. Artigo 7 - O Corpo Que DançaItalo FortesAinda não há avaliações
- A Fenomenologia de Merlau-PontyDocumento12 páginasA Fenomenologia de Merlau-PontyPoliana TeixeiraAinda não há avaliações
- A Percepção de Acordo Com Husserl e Merleau-PontyDocumento12 páginasA Percepção de Acordo Com Husserl e Merleau-PontyErcilia SobralAinda não há avaliações
- Fenomenologia - Ultima AulaDocumento165 páginasFenomenologia - Ultima AulaMelyssa SarmentoAinda não há avaliações
- Não Fichamento - REFLEXÕES SOBRE AS PSICOLOGIAS FENOMENOLÓGICAS EXISTENCIAISDocumento9 páginasNão Fichamento - REFLEXÕES SOBRE AS PSICOLOGIAS FENOMENOLÓGICAS EXISTENCIAISLeticia FrançaAinda não há avaliações
- A Consciência (Re) SentidaDocumento11 páginasA Consciência (Re) SentidaLeandro de Moraes OliveiraAinda não há avaliações
- Fenomenologia e Educação Física - Uma Revisão Dos Conceitos de Corpo e MotricidadeDocumento10 páginasFenomenologia e Educação Física - Uma Revisão Dos Conceitos de Corpo e MotricidadefudelioAinda não há avaliações
- OntologiaDocumento18 páginasOntologiaIgor AlexandreAinda não há avaliações
- Capalbo, Creusa - Principais Conceitos Da Fenomenologia de HusserlDocumento7 páginasCapalbo, Creusa - Principais Conceitos Da Fenomenologia de HusserlVitória Marina MendanhaAinda não há avaliações
- Algumas Considerações Sobre A Consciência Na Perspectiva Fenomenológica de Merleay PontyDocumento8 páginasAlgumas Considerações Sobre A Consciência Na Perspectiva Fenomenológica de Merleay PontyfvbotomeAinda não há avaliações
- O Conceito de Alucinação emDocumento15 páginasO Conceito de Alucinação emGabi MaiaAinda não há avaliações
- Byington - Simbolos e Funcoes EstruturantesDocumento14 páginasByington - Simbolos e Funcoes EstruturantesDiogo Mendonça100% (1)
- TeoricoDocumento28 páginasTeoricoLoren SantosAinda não há avaliações
- Experiência Empática - Da Neurociência À Espiritulidade - Márcia Alves TassinariDocumento9 páginasExperiência Empática - Da Neurociência À Espiritulidade - Márcia Alves TassinariAdrielRizzoAinda não há avaliações
- Fundamentos Epistemológicos Da Psicologia Fenomenológico-ExistencialDocumento22 páginasFundamentos Epistemológicos Da Psicologia Fenomenológico-ExistencialReginaldo MaiaAinda não há avaliações
- Sinestesiologia e A Lei Da MenteDocumento12 páginasSinestesiologia e A Lei Da MentevenisemeloAinda não há avaliações
- Metodo SpinozaDocumento6 páginasMetodo Spinozabruna bruAinda não há avaliações
- Construção de Sentido e IntencionalidadeDocumento7 páginasConstrução de Sentido e IntencionalidadeFábio DonaireAinda não há avaliações
- Fenomenologia Do ConhecimentoDocumento2 páginasFenomenologia Do ConhecimentoEndson Pires Dos SantosAinda não há avaliações
- Brunofleck, Maria FerrazDocumento9 páginasBrunofleck, Maria FerrazNélio FernandoAinda não há avaliações
- Sensacao e Intuicao Duas Vertentes Da PercepcaoDocumento24 páginasSensacao e Intuicao Duas Vertentes Da Percepcaoalbertosousapontes13Ainda não há avaliações
- Corpo Como Ser No Mundo-Fenomenologia-Merleau PontyDocumento13 páginasCorpo Como Ser No Mundo-Fenomenologia-Merleau PontyLuzineleAinda não há avaliações
- ARTIGO - Percepção e Realidade em C. S. PeirceDocumento7 páginasARTIGO - Percepção e Realidade em C. S. PeirceleandroAinda não há avaliações
- Prova de JúlioDocumento2 páginasProva de JúlioosamaAinda não há avaliações
- 1582 1 FenomenologiaDocumento12 páginas1582 1 FenomenologiarafaesahAinda não há avaliações
- FENOMELOGIADocumento5 páginasFENOMELOGIACharles DonatoAinda não há avaliações
- A Escuta Analítica, o Corpo e A ContemporaneidadeDocumento20 páginasA Escuta Analítica, o Corpo e A ContemporaneidadePAULO ISAAC GOMESAinda não há avaliações
- FENOMENOLOGIA - ReduzidaDocumento19 páginasFENOMENOLOGIA - ReduzidaEduarda Geovana Alves SilvaAinda não há avaliações
- Luana LopesDocumento7 páginasLuana LopesAlexandre FaustoAinda não há avaliações
- Marilena Chuaí. Merleau-Ponty - A Obra FecundaDocumento11 páginasMarilena Chuaí. Merleau-Ponty - A Obra FecundaMario SantiagoAinda não há avaliações
- A Identidade Corpo-Psique Na Psicologia Analitica PDFDocumento14 páginasA Identidade Corpo-Psique Na Psicologia Analitica PDFJúnior VianaAinda não há avaliações
- Tabulae 25 - Artigo - 03Documento15 páginasTabulae 25 - Artigo - 03Lina de AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Resumo - o Inconsciente No Pensamento de MerleauDocumento2 páginasResumo - o Inconsciente No Pensamento de MerleauJulia BicalhoAinda não há avaliações
- Auto Organizacao PsiquicaDocumento8 páginasAuto Organizacao PsiquicaAdenauer SilvaAinda não há avaliações
- Filosofia 2 Bimestre 2º Anos.Documento2 páginasFilosofia 2 Bimestre 2º Anos.Arthur DiasAinda não há avaliações
- Escon - Escola de Cursos Online CNPJ: 11.362.429/0001-45 Av. Antônio Junqueira de Souza, 260 - Centro São Lourenço - MG - CEP: 37470-000Documento9 páginasEscon - Escola de Cursos Online CNPJ: 11.362.429/0001-45 Av. Antônio Junqueira de Souza, 260 - Centro São Lourenço - MG - CEP: 37470-000GG AlmeidaAinda não há avaliações
- A Transcendencia Do Ego - SartreDocumento24 páginasA Transcendencia Do Ego - SartreJúlio César Schneider CorrêaAinda não há avaliações
- Arqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoNo EverandArqueologia da vida psíquica e a psicanálise freudiana nas relações extra-indivíduoAinda não há avaliações
- (Balbi-Renato e Roselina) Longa Viagem Ao Centro Do Cerebro (Livro) PDFDocumento58 páginas(Balbi-Renato e Roselina) Longa Viagem Ao Centro Do Cerebro (Livro) PDFvicentecarnero100% (1)
- (Artigo PDF) A Embriologia Segundo A Visao Funcional (Federico Navarro)Documento10 páginas(Artigo PDF) A Embriologia Segundo A Visao Funcional (Federico Navarro)vicentecarneroAinda não há avaliações
- (Reich-Wilhelm) Manifesto Da Sexpol (Artigo)Documento2 páginas(Reich-Wilhelm) Manifesto Da Sexpol (Artigo)vicentecarneroAinda não há avaliações
- Henri) Dialogos Spinozistas Antropologia e Biologia (Artigo)Documento15 páginasHenri) Dialogos Spinozistas Antropologia e Biologia (Artigo)vicentecarneroAinda não há avaliações
- (Torres-Julio) Bibliografia de Teoria Da Complexidade (Artigo)Documento11 páginas(Torres-Julio) Bibliografia de Teoria Da Complexidade (Artigo)vicentecarneroAinda não há avaliações
- Teste de Sistemas Representacionais .ImpDocumento5 páginasTeste de Sistemas Representacionais .ImpGisele CrisAinda não há avaliações
- Exercicio Psicologia Social IIDocumento1 páginaExercicio Psicologia Social IIPauloAinda não há avaliações
- Interpretação Do Teste Mini Exame Do Estado MentalDocumento3 páginasInterpretação Do Teste Mini Exame Do Estado MentalGiovanaAinda não há avaliações
- Impirísmo, Inatísmo e Interacionísmo.Documento8 páginasImpirísmo, Inatísmo e Interacionísmo.Manuel Sena CostaAinda não há avaliações
- Referêncial Do Básico - Fichas de Trabalho Linguagem e ComunicaçãoDocumento3 páginasReferêncial Do Básico - Fichas de Trabalho Linguagem e ComunicaçãoMiguel Gomes Alexandre100% (2)
- Introdução À Interação Humano-Computador - Cruzeiro Do Sul VirtualDocumento22 páginasIntrodução À Interação Humano-Computador - Cruzeiro Do Sul VirtualGabrielAinda não há avaliações
- A Aplicabilidade Da Teoria Dos Sistemas de Niklas Luhmann Na Fundamentação Das Decisões JurídicasDocumento23 páginasA Aplicabilidade Da Teoria Dos Sistemas de Niklas Luhmann Na Fundamentação Das Decisões JurídicasLuiz PereiraAinda não há avaliações
- Perspectiva Interacionista Da LeituraDocumento16 páginasPerspectiva Interacionista Da LeituraDilberty CardosoAinda não há avaliações
- Jogos e Cognição Aula 2Documento17 páginasJogos e Cognição Aula 2Francieli Schmitt100% (1)
- Admin, Liderança e Dinâmica de GrupoDocumento6 páginasAdmin, Liderança e Dinâmica de GrupoLuanna SilvaAinda não há avaliações
- BiofisicaDocumento2 páginasBiofisicaJosé Francisco Alves de SousaAinda não há avaliações
- Abralin PDFDocumento1.450 páginasAbralin PDFintergugAinda não há avaliações
- Avaliação Fonoaudiológica em Crianças Sem OralidadeDocumento20 páginasAvaliação Fonoaudiológica em Crianças Sem OralidadeCamila Fidelis100% (3)
- Design de Aprendizagem e ConteúdoDocumento78 páginasDesign de Aprendizagem e ConteúdoGabriel FelipeAinda não há avaliações
- Atencao e ConcentracaoDocumento4 páginasAtencao e ConcentracaoJéssica freitasAinda não há avaliações
- Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Conhecimentos de Língua Estrangeira ModernaDocumento12 páginasParâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Conhecimentos de Língua Estrangeira ModernaMatheus NascimentoAinda não há avaliações
- Port 01 Os Textos e A Vida em SociedadeDocumento16 páginasPort 01 Os Textos e A Vida em SociedadeAna Lúcia MendonçaAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Psicologia Da AprendizagemDocumento8 páginasFichamento Do Livro Psicologia Da AprendizagemMarcos MeloAinda não há avaliações
- Contribuiçoes Da SociolinguisticaDocumento5 páginasContribuiçoes Da SociolinguisticaluinalvanonatoAinda não há avaliações
- REFERÊNCIAS Do Livro Conceitos Na Organização Do ConhecimentoDocumento5 páginasREFERÊNCIAS Do Livro Conceitos Na Organização Do ConhecimentodenizcostaAinda não há avaliações
- AUBERT, F.H. As (In) Fidelidades Da Tradução. Servidões e Autonomia Do Tradutor, Campinas, Editora Unicamp, 1993.Documento43 páginasAUBERT, F.H. As (In) Fidelidades Da Tradução. Servidões e Autonomia Do Tradutor, Campinas, Editora Unicamp, 1993.Jessyca Rodrigues da Silva PachecoAinda não há avaliações
- As Concepções Atuais Da Psicologia Da EducaçãoDocumento4 páginasAs Concepções Atuais Da Psicologia Da EducaçãoIsabela ZilliAinda não há avaliações
- Campo Lexical e Campo SemânticoDocumento2 páginasCampo Lexical e Campo SemânticoMarcelo Albuquerque100% (2)
- 12AB - Perceã Ã o 2122Documento22 páginas12AB - Perceã Ã o 2122Bruna GonçalvesAinda não há avaliações
- Carvalho Actos de FalaDocumento25 páginasCarvalho Actos de FalaAbdul TratoAinda não há avaliações
- Feedback No Processo de Avaliação Da Aprendizagem No Ensino SuperiorDocumento10 páginasFeedback No Processo de Avaliação Da Aprendizagem No Ensino SuperiorTalita MarqueziAinda não há avaliações
- Dinâmica de Grupo Nas Atividades Profissionais Da PsicologiaDocumento2 páginasDinâmica de Grupo Nas Atividades Profissionais Da PsicologiaRafaela BritoAinda não há avaliações