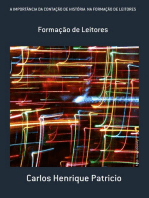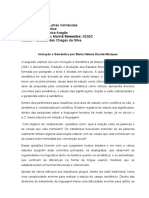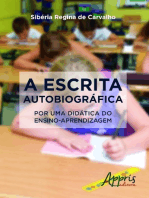Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumo 1
Resumo 1
Enviado por
Vailton Afonso da Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações11 páginasresumo
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoresumo
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
6 visualizações11 páginasResumo 1
Resumo 1
Enviado por
Vailton Afonso da Silvaresumo
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Relao com o Saber, Formao de Professores e Globalizao: questes
para a educao hoje
Bernard Charlot
O livro apresenta nove textos do autor, pesquisador francs de cincias
da educao que vive no Brasil, j publicados em diversos pases. Esses textos
foram escolhidos por tratarem de temas que parecem fazer sentido no Brasil,
alm de tratarem de questes relacionadas ao trabalho cotidiano. A primeira
parte do livro principia pelas lgicas dos alunos em suas relaes com o saber
e a escola; a segunda considera o ponto de vista dos educadores; a terceira
tem como tema o saber no mundo globalizado. O autor diz que as repeties
dos textos, apesar de, em alguns momentos se tornarem um pouco irritantes,
tm como objetivo explorar os mltiplos sentidos de suas idias.
Introduo Bernard Charlot: Uma relao com o saber
A Introduo uma entrevista realizada com o autor por Jaime Giolo e
apresenta, alm do currculo do autor e alguns de seus livros, questes sobre
algumas das idias centrais de seus estudos. O pesquisador e escritor da
educao Bernard Charlot comeou a se tornar conhecido no Brasil nos anos
de 1980, com um livro intitulado A mistificao Pedaggica e depois de 2000
retornou com os livros Da relao com o saber e Os jovens e o saber.
Atualmente ele mora no Brasil, na cidade de Cuiab - MT.
Apesar de ser formado em filosofia, ele se considera mais socilogo que
filsofo, e se envolveu com o tema da educao a partir da experincia que
teve como professor na universidade de Tunis. Na poca, apesar de nunca ter
ensinado nem possuir formao em pedagogia, comeou a ler livros, explicar
para os alunos os conceitos e sugerir que eles trouxessem casos prticos de
suas escolas, o que o levou a perceber a enorme defasagem existente entre o
discurso terico e a realidade social.
Sobre o tema de seu livro A mistificao pedaggica, livro marxista, ele
quer dizer que o discurso pedaggico fala de tudo, menos de uma coisa: que a
educao leva a um emprego e a uma diviso social do trabalho. Ao mesmo
tempo em que o discurso poltico diz que se deve lutar contra o fracasso
escolar, o fracasso escolar programado para existir.
Depois desse livro, as preocupaes intelectuais do autor mudaram de
rumo, ao descobrir que a histria feita de contradies, por exemplo, o dono
da mercearia da esquina um empresrio diferente do dono da Embratel, ou
seja, as diferentes faces do empresariado possuem interesses histricos
diferentes, assim como a relao que mantm com o movimento operrio. Com
isso, descobriu que a pesquisa no tem como funo dizer quem est certo e
quem est errado, mas sim analisar as contradies.
As quatro razes que o levaram a uma mudana de rumo em suas
pesquisas foram:
- a importncia de considerar a questo do sentido: a busca de sentidos
na qual o homem est envolvido;
- o contato com a pesquisa histrica e com as contradies, j
explicadas acima;
- a prtica do autor como formador de professores, ao mesmo tempo em
que desenvolvia suas pesquisas;
- a reflexo que fez sobre o ensino de matemtica: por que as crianas
do meio popular tm mais dificuldade em aprender matemtica que as crianas
de classe mdia? Por causa do meio em que vivem, ou seja, da relao que
estabelecem com o saber.
Sobre o conceito de mobilizao, bastante citado pelo autor, ele o
considera mais adequado que a motivao: o problema no como fazer para
motivar os alunos, mas como fazer para que o aluno se mobilize.
Tambm fala sobre suas pesquisas sobre fracasso escolar, que partem
de trs questes fundamentais:
- Para uma criana de famlia popular, qual o sentido de ir escola?
- Qual o sentido de estudar e de no estudar na escola?
- Qual o sentido de aprender/compreender quer na escola quer fora da
escola?
Por trs destas questes est o problema do sentido e do prazer, que
aparecem como problemas fundamentais da escola, do ensino e da
aprendizagem. Para exemplificar, o autor utiliza trs respostas diferentes dadas
por alunos seguinte pergunta: O que, no conjunto de coisas que voc
aprendeu na famlia, na escola, na rua, foi mais importante? Enquanto uma
criana de 10 anos de classe mdia elabora um texto muito bem escrito,
analisando o ensino que recebeu na escola, duas outras crianas, de bairros
populares, tentam responder questo elaborada, e deixam claro uma viso
dos estudos como se fosse algo que casse do cu. Para o autor, a diferena
entre as classes sociais e sua relao com os estudos no um problema de
carncia, mas de lgica, que diferente nas famlias e na instituio escolar.
Os filhos dos meios populares possuem uma relao com o mundo, com os
outros e consigo mesmos que diferente daquela que possibilita ser bemsucedido na escola.
Nesse sentido, o autor distingue quatro tipos de alunos quanto ao seu
relacionamento com o estudar ou o no estudar na escola: os jovens de classe
mdia, que estudam sempre, inclusive nas frias e nos finais de semana; os
jovens do meio popular muito bem-sucedidos na escola, que possuem uma
mobilizao forte para o estudo; os candidatos evaso escolar, que esto
totalmente perdidos na escola e nunca entenderam do que se trata a escola; e
por fim, aqueles que vo escola para ter um bom emprego mais tarde, mas
querem tirar boas notas sem fazer esforo. A escola tem a possibilidade de
melhorar a situao, o que no quer dizer que ela pode fazer tudo.
Quanto globalizao e modernizao, o autor tem medo de que
estejamos saindo da sociedade do saber quando nos deparamos com a
sociedade da informao. A informao s se torna um saber quando traz
consigo um sentido, quando estabelece um sentido de relao com o mundo,
de relao com os outros e da relao consigo mesmo. Como fenmeno da
globalizao, o perigo que o saber est se tornando uma mercadoria.
PARTE I RELAO COM O SABER
1 A problemtica da relao com o saber
Para analisar a questo da relao com o saber, o autor vai at a histria
da filosofia clssica. Desde Scrates e Plato a questo est presente, com a
frase Conhece-te a ti mesmo e os debates com os sofistas. Vai buscar a
questo do saber nas problemticas psicanaltica, sociolgica e didtica.
Para a problemtica psicanalista, o saber visto como objeto de desejo.
Para Lacan, o que vem primeiro o desejo. Portanto, para compreender como
se passa do desejo de saber vontade de saber e ao desejo de aprender
sobre isso e aquilo, o autor chega afirmao de que o sujeito se constri pela
apropriao de um patrimnio humano, pela mediao do outro. E sua histria
tambm a das formas de atividade e de tipos de objetos suscetveis de
satisfazerem o desejo, produzirem prazer e de fazerem sentido.
A problemtica sociolgica passa do social como posio ao social como
posio, histria e atividade.
Sob a tica da Sociologia, mais especificamente dos autores Bourdieu e
Passeron (1970), a relao com a linguagem e com a cultura resume de uma
certa forma o conjunto de relaes que unem esse sistema estrutura das
relaes de classe.
Para compreender a desigualdade social perante a escola, preciso se
interessar pela relao com a linguagem, a cultura e o saber que estabelece
vnculo entre o sistema escolar e a estrutura das relaes de classe.
A escola pode reduzir a desigualdade social em relao ao sucesso
escolar trabalhando no sentido de transformar a relao com a linguagem, a
cultura e o saber.
Porm, uma transformao das prticas pedaggicas pressupe
condies objetivas , o que faz com que no se veja como sair do mecanismo
da reproduo escolar tal como a escola est na sociedade atual.
preciso levar em considerao o sujeito na singularidade da sua
histria e as atividades que ele realiza. por essa histria, construda por
experincias e pelo sentido que ele d ao mundo, que se deve estudar sua
relao com o saber.
Sobre a relao com o saber e o questionamento se, seria essa uma
questo para a didtica, o autor defende que o conceito de relao com o
saber no um conceito a ser acrescentado aos outros conceitos forjados pela
didtica, mas um conceito que permite lanar um outro olhar sobre as
situaes didticas. Neste sentido, submete duas proposies para reflexo:
- no h saber seno em uma relao com o saber, ou seja, no se pode
pensar o saber (ou o aprender) sem pensar o tipo de relao que se supe
para construir ou alcanar esse saber.
- o sujeito no dado; ele construdo e conquistado. Desta forma, os
jovens so tomados em um conflito entre as formas heterogneas de aprender,
opondo aprender na escola e aprender na vida, vencer na escola para se
dar bem na vida.
Concluindo, o autor coloca duas definies:
- a relao com o saber a relao com o mundo, com o outro e consigo
mesmo de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender.
- a relao com o saber o conjunto das relaes que um sujeito
estabelece com um objeto, uma atividade, uma situao, uma pessoa, uma
obrigao, etc. relao com a linguagem, com o tempo, com a atividade no
mundo e sobre o mundo, relao com os outros e consigo mesmo, como mais
ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situao.
O sujeito e a relao com o saber
Por que necessrio levar em conta o sujeito? por meio desta
pergunta o autor defende que a posio que uma criana ocupa na sociedade
(a posio de seus pais, melhor dizendo) no determina diretamente seu
sucesso
ou
fracasso
escolar,
mas
produz
efeitos
indiretos,
no
determinantes, atravs da histria do sujeito.
Para compreender o que ocorre na escola e quais as relaes da
criana com o saber e o aprender, preciso levar em conta sua posio social
e o fato de que um sujeito, fator esquecido pelos socilogos e psiclogos.
Em seguida, o autor faz uma pergunta intrigante: O que aprender?
Aprender trair? Ser que as crianas que tm sucesso na escola enquanto
seus colegas fracassam os esto traindo? Os adolescentes bem-sucedidos na
escola, quando chegam ao ensino mdio percebem que mudaram e iro
continuar a mudar. Aprender mudar. E muitas vezes, por no quererem trair
os amigos de infncia e a comunidade, escolhem o fracasso escolar
(consciente ou inconscientemente).
Para que o aluno se aproprie do saber, para que construa competncias
cognitivas, preciso que estude, que se engaje numa atividade intelectual e se
mobilize intelectualmente. Para que ele se mobilize, duas condies so
necessrias:
- que a situao de aprendizagem tenha sentido, que possa responder a
um desejo e produzir prazer;
- que a mobilizao intelectual induza a uma atividade intelectual eficaz.
A educao um trplice processo: de hominizao, socializao e
singularizao.
- Nascer estar na obrigao de aprender;
- Aprender no apenas adquirir saberes no sentido escolar e
intelectual, mas apropriar-se de prticas, confrontando-se com a questo do
sentido da vida, do mundo e de si mesmo;
- o movimento para aprender induzido pelo desejo, devido
incompletude do homem;
- Como o sujeito humano incompleto, a educao interminvel
jamais ser concluda;
- Educar educar-se, sendo educado por outros homens.
Concluindo, no h saber (de aprender) seno na relao com o saber
(com o aprender). Toda a relao com o saber (com o aprender) tambm
relao com o mundo, com os outros e consigo mesmo.
3 Relao com a escola e o saber nos bairros populares
Neste captulo, o autor retoma as ideais dos textos anteriores, buscando
o sentido, para o aluno de meios populares, de ir escola e qual o sentido de
estudar ou no estudar na escola.
Para o autor, a questo do saber central na escola: h professores
tentando ensinar coisas e alunos tentando adquirir saberes.
H alunos que no se encontram em bairros populares e que tm o
hbito de estudar, alunos que tm vontade de estudar e fazem do estudo uma
conquista cotidiana e alunos (a maioria, entre 75 e 80 %) que estudam para
ter um bom emprego mais tarde.
Por ltimo, o autor enfatiza que aprender mudar, formar-se mudar,
mudar vises de mundo e da vida. Jovens de meios populares tem dificuldade
para lidar com essas questes e implicaes psquicas, das mudanas que o
aprender envolve.
PARTE II OS DOCENTES E SUA FORMAO
4- Enquanto houver professores... Os universais da situao de ensino
Neste texto, o autor procura compreender as caractersticas universais
dos professores e porque os professores de diversas partes do mundo
apresentam um ar familiar, seja em sua relao com os alunos ou no olhar que
lanam sobre eles, sobre si mesmos, sobre a forma como a sociedade os
considera, etc.
Algo est acontecendo no mundo inteiro: o movimento de abertura do
ensino a alunos que, outrora, no teriam acesso a ele, que as organizaes
internacionais chamam de educao para todos e o professor quem deve
acolher esses alunos e faz-los vencer. Portanto, o professor agente social
e, ao mesmo tempo, apresenta uma fragilidade, efeito da prpria situao de
ensino.
O professor, atravs de sua funo cultural exerce sua funo social. Ao
mesmo tempo que contribui para a reproduo social, transmite saberes,
instrui, educa, forma.
Estamos vivendo um conjunto de mutaes que transformam no
somente as sociedades, mas tambm as formas de ser homem/mulher e de ser
sujeito. Quatro fenmenos se destacam:
- as prticas sociais incorporam mais saberes que outrora;
- a prpria natureza do vnculo social est mudando;
- o sujeito valorizado mais como sujeito esttico do que como sujeito
poltico ou tico;
- a interdependncia ganha uma dimenso mundial; a globalizao
constitui uma nova etapa de dominao dos mais fracos pelos mais fortes.
Por fim, segue-se um acmulo de contradies e acontecem vrios tipos
de rupturas, o que faz com que outro modelo substitua o antigo. Ningum sabe
se no futuro haver professores e que modelo eles seguiro...
5 Ensinar, formar: lgica dos discursos constitudos e lgica das
prticas
Aqui, o autor parte dos significados dos termos ensinar e formar.
A idia de ensino implica um saber a transmitir. A idia de formao
implica a de dotar o indivduo de competncias.
O formador o homem das mediaes, das variaes, das trajetrias,
enquanto o professor o homem dos conceitos, dos saberes constitudos
como referncias estveis e das aquisies acumuladas do patrimnio cultural.
Quando se reflete sobre a formao dos professores, importante
distinguir quatro nveis de anlise:
- o saber como discurso constitudo em sua coerncia interna;
- a prtica como atividade direcionada e contextualizada;
- a prtica do saber;
- o saber da prtica.
Formar professores trabalhar os saberes e as prticas nesses diversos
nveis e situar, a partir dos saberes e das prticas, os pontos em que podem se
articular lgicas que so e parecero heterogneas.
Quando se fala em formao no est em jogo somente uma relao de
eficcia a uma tarefa, mas uma identidade profissional que pode tornar-se o
centro da pessoa e estruturar sua relao com o mundo e certas maneiras de
ler as coisas, as pessoas e os acontecimentos.
O autor conclui com a idia de que formar professores dot-los de
competncia que lhes permitiro gerir tenses e construir as mediaes entre
prticas e saberes.
6 A escola na periferia: abertura social e cercamento simblico
So destacados aqui alguns paradoxos e contradies existentes na
escola das periferias.
Ao mesmo tempo em que se prope abrir as portas da escola ao meio,
pergunta-se como se proteger das agresses.
Ao mesmo tempo em que pede que a escola leve em conta as
diferenas, se pede com insistncia a integrao dos jovens nao.
solicitado que a escola reafirme valores fundamentais, ao mesmo
tempo em que solicitada tambm a formao profissional para todos os
jovens.
Nos anos de 1960 comeou-se a falar em abertura da escola. A partir da
abertura da escola ela fica submetida a contradies e tenses. Quando a
contradio inadministrvel, so propostas reformas que no a eliminam,
apenas a mudam de lugar.
Na concluso de sua idia, o autor prope que se trate com seriedade a
questo do saber e da relao com o saber. preciso levar em conta a
ambio democrtica da escola e que ela feita para permitir que os jovens
adquiram competncias que no sero adquiridas em outro lugar. Ela feita
tambm para desenvolver sentido em suas vidas.
PARTE III A ESCOLA NA POCA DA GLOBALIZAO
7 A violncia na escola: como os socilogos franceses abordam essa
questo
O tema central a violncia na escola, questo que no nova como se
pensa, mas que assume formas novas nas ltimas dcadas.
Surgiram formas de violncia mais graves que outrora, inclusive com
insultos e ataques aos professores.
Os jovens envolvidos nos casos de violncia so cada vez mais jovens,
inclusive crianas, o que fera uma angstia social.
Houve um aumento do nmero de intruses externas na escola, com
jovens que vem acertar contas, na escola, de disputas nascidas no bairro.
Professores e funcionrios vivem sob permanente ameaa.
Quanto s distines conceituais necessrias, est a importncia de se
distinguir:
- violncia na escola, que se produz dentro da escola sem estar ligada
s atividades da instituio escolar;
- violncia escola, ligada natureza e s atividades da instituio
escolar;
- violncia da escola, ligada anterior, institucional, que os jovens
suportam atravs da maneira como a instituio e seus agentes os tratam.
Os jovens violentos que agridem os adultos da escola so os principais
autores, mas ao mesmo tempo tambm vtimas dessa violncia.
H
uma
distino
entre
violncia,
agresso
agressividade.
Agressividade uma frustrao; agresso, uma brutalidade fsica ou verbal;
violncia enfatiza o uso da fora, do poder e da dominao. A questo da
violncia no deve ser enunciada apenas aos alunos, mas tambm escola e
seus agentes.
Na escola, vivem-se situaes de forte tenso. Por trs de casos de
reduo da violncia, existe uma equipe de direo e professores que soube
reduzir seu nvel. Entre as fontes de tenso esto o bairro e a lgica da
instituio e do prprio saber.
A concluso do autor faz recair uma grande responsabilidade sobre o
professor, mas ao mesmo tempo lhe atribui dignidade: a de que bem raro
encontrar alunos violentos entre os que acham sentido na escola. E essa
atribuio de sentidos est ligada s prticas de ensino cotidianas e,
conseqentemente, ao papel do professor.
8 Educao e culturas
Sobre o tema da globalizao, o autor prope no mais duas opes,
contra ou a favor globalizao, mas trs:
- defender o mundo atual no qual cada um defende seus interesses;
- aceitar que a globalizao neoliberal no uma mundializao como
se diz com freqncia, mas um esquema que abandona as partes do mundo
que no so teis s redes capitalistas;
- mobilizar-se na construo de um mundo solidrio.
Sua ltima opo a ltima e, para defend-la, so defendidas algumas
atitudes da escola, tais como:
- levar em considerao as especificidades culturais dos alunos
- fazer funcionar, ao mesmo tempo, dois princpios: o do direito
diferena e o do direito semelhana;
- levar em considerao a cultura da comunidade, mas ampliando
tambm o mundo da criana para alm da comunidade, ou seja, o sujeito tem o
direito de lutar pela sua comunidade, mas tambm de se afirmar como
diferente do grupo no qual nasceu;
Ao final do captulo, o autor insiste na idia da educao como
humanizao, socializao e singularizao, defendendo que a escola no
deve ensinar informaes, mas saberes, de forma que os alunos compreendam
melhor o sentido do mundo, da vida humana, das relaes com os outros e das
relaes consigo mesmo.
9 Uma educao democrtica para um mundo solidrio Uma educao
solidria para um mundo democrtico
Esse ltimo captulo apresenta as anlises, concluses e principais
propostas resultantes do Frum Mundial de Educao realizado em 2001.
Entre essas idias, o autor apresenta anlises da educao no contexto da
globalizao neoliberal.
Em primeiro lugar, considera a educao como vtima da globalizao
neoliberal, que a pensa sob a lgica econmica e como preparao para o
mercado de trabalho e, conseqentemente, os investimentos e currculos so
adaptados s demandas do mercado.
Como conseqncia, ocultada a dimenso cultural e humana da
educao, bem como o direito identidade cultural e diferena cultural.
Ao mesmo tempo em que o papel do Estado contestado, o ensino
privado progride em todos os nveis, especialmente no universitrio. Os nveis
de escolaridade de base aumentam, mas as desigualdades sociais referentes
ao acesso ao saber se agravam. As primeiras vtimas dessa situao so os
filhos de migrantes, sociedades indgenas, famlias marginalizadas.
Cria-se um mercado educativo a partir das novas tecnologias da
informao e da comunicao e anuncia-se uma nova excluso: a excluso
digital.
O autor alerta para o cuidado a se tomar com a armadilha das palavras e
atenta para dois princpios:
- A educao um direito e no uma mercadoria;
- A educao um instrumento importante para a luta por um mundo de
solidariedade, igualdade e justia.
Como concluso, defende que os excludos, pobres e marginalizados
no devem ser somente beneficirios da educao, mas sim participar
ativamente na formulao, execuo e controle das polticas educativas. E
essa tarefa depende de um debate pblico, contraditrio, participativo e
democrtico, como o proporcionado pelo Frum Mundial de Educao e pelo
Frum Social Mundial.
Ao final do livro o autor apresenta uma concluso final, intitulada Um
olhar francs sobre a escola no Brasil, na qual, em uma breve comparao
entre a educao do Brasil e da Frana, parabeniza o Brasil por j estar na
sociedade na sociedade da informao e critica-o por confundir saber com
informao.
CHARLOT, Bernard. Relao com o saber, formao de professores e
globalizao: questes para a educao hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005.
Você também pode gostar
- Ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio por meio da Pedagogia de Projetos: Projeto Minha AutoriaNo EverandEnsino da Língua Portuguesa no Ensino Médio por meio da Pedagogia de Projetos: Projeto Minha AutoriaAinda não há avaliações
- O estágio supervisionado na formação do professor: das ciências das religiões ao ensino religiosoNo EverandO estágio supervisionado na formação do professor: das ciências das religiões ao ensino religiosoAinda não há avaliações
- Psicologia e Educação em Diálogo com a Teoria Histórico-Cultural e na Defesa da HumanizaçãoNo EverandPsicologia e Educação em Diálogo com a Teoria Histórico-Cultural e na Defesa da HumanizaçãoAinda não há avaliações
- Autoajuda, educação e práticas de si: Genealogia de uma antropotécnicaNo EverandAutoajuda, educação e práticas de si: Genealogia de uma antropotécnicaAinda não há avaliações
- Professores e a indisciplina, uma relação nada amistosa: atacar com a heteronomia ou apaziguar pela autonomia?No EverandProfessores e a indisciplina, uma relação nada amistosa: atacar com a heteronomia ou apaziguar pela autonomia?Ainda não há avaliações
- A Importância Da Contação De História Na Formação De LeitoresNo EverandA Importância Da Contação De História Na Formação De LeitoresAinda não há avaliações
- Modelo Resenha CriticaDocumento3 páginasModelo Resenha CriticaCezar_CavalcanteAinda não há avaliações
- Fundamentos Do Ensino Inclusivo StainbackDocumento15 páginasFundamentos Do Ensino Inclusivo StainbackDavidson AlvesAinda não há avaliações
- Resumo - Dar Voz Ao Professor (Goodson)Documento3 páginasResumo - Dar Voz Ao Professor (Goodson)Paula Ramalho Leguizamon100% (1)
- Quando não é quase a mesma coisa: traduções de Lev Semionovitch Vigotski no BrasilNo EverandQuando não é quase a mesma coisa: traduções de Lev Semionovitch Vigotski no BrasilAinda não há avaliações
- Bloco 3º Ano Ensino FundamentalDocumento20 páginasBloco 3º Ano Ensino Fundamentalvanessa velosoAinda não há avaliações
- Texto JornalisticoDocumento19 páginasTexto JornalisticoDennis OliveiraAinda não há avaliações
- O Direito À Literatura-12-35Documento24 páginasO Direito À Literatura-12-35Lucasbp100% (1)
- Sequência DidáticaDocumento2 páginasSequência DidáticaWhender SouzaAinda não há avaliações
- Exercício Geral para Estudar Geografia Geral Do BrasilDocumento1 páginaExercício Geral para Estudar Geografia Geral Do BrasilClairton Rocha100% (1)
- Caracterização Da Escola MODELODocumento2 páginasCaracterização Da Escola MODELOJess Moroi86% (7)
- A (Re)Escrita em Espaço Escolar: A Relação Professor-Saber-AlunoNo EverandA (Re)Escrita em Espaço Escolar: A Relação Professor-Saber-AlunoAinda não há avaliações
- Ansiedade em Tarefas EscolaresDocumento5 páginasAnsiedade em Tarefas EscolaresDaniela Cerqueira100% (1)
- Resumo SemânticaDocumento3 páginasResumo SemânticaFran Silva100% (1)
- PETIT M A Arte de Ler Ou Como Resistir À AdversidadeDocumento6 páginasPETIT M A Arte de Ler Ou Como Resistir À AdversidadeJosé Renato Ferreira da Cunha0% (1)
- Letramento e Alfabetização As Muitas FacetasDocumento14 páginasLetramento e Alfabetização As Muitas FacetasflarcostaAinda não há avaliações
- Ensinar A Ler, Ensinar A CompreenderDocumento3 páginasEnsinar A Ler, Ensinar A Compreenderlidymatuoa100% (1)
- Resenha Educação e EmancipaçãoDocumento5 páginasResenha Educação e EmancipaçãoLuciano Frontin100% (2)
- Resenha Pronta Didática MagnaDocumento7 páginasResenha Pronta Didática MagnaThamirys Moura100% (2)
- LUCIO, Elizabeth Orofino Tese VF Site UFRJDocumento238 páginasLUCIO, Elizabeth Orofino Tese VF Site UFRJLeandro Wallace MenegoloAinda não há avaliações
- Carl Rogers - Fred ZimringDocumento145 páginasCarl Rogers - Fred ZimringMiguel PlenoAinda não há avaliações
- Ebook A Producao Do Fracasso Escolar MHSPatto Agenciaaguia OKDocumento682 páginasEbook A Producao Do Fracasso Escolar MHSPatto Agenciaaguia OKDiana Theodoro100% (1)
- DAVIDOV - Atividade EstudoDocumento9 páginasDAVIDOV - Atividade EstudoSimoneAriomarAinda não há avaliações
- Rildo Cosson - Artigo Sobre Letramento LiterárioDocumento7 páginasRildo Cosson - Artigo Sobre Letramento LiterárioRoselene Feil100% (1)
- Resumo de PEDAGOGIA DO OPRIMIDODocumento4 páginasResumo de PEDAGOGIA DO OPRIMIDODavid SeveroAinda não há avaliações
- Resenha LuckesiDocumento7 páginasResenha Luckesilindisay100% (1)
- Thomas S. Popkewitz - Reforma Educacional e ConstrutivismoDocumento83 páginasThomas S. Popkewitz - Reforma Educacional e ConstrutivismoTomaz Tadeu da SilvaAinda não há avaliações
- Caminhos de Leitura em Sapato de Salto, de Lygia BojungaDocumento8 páginasCaminhos de Leitura em Sapato de Salto, de Lygia BojungaAline MoraisAinda não há avaliações
- Arquivos Propostas Metodlógicas - ChantalDocumento7 páginasArquivos Propostas Metodlógicas - ChantalRosaneAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - Fernanda MussalimDocumento11 páginasAnálise Do Discurso - Fernanda MussalimFelipe GuimarãesAinda não há avaliações
- Sociedade Subjetividade Educação e MarxismoDocumento297 páginasSociedade Subjetividade Educação e MarxismoRodrigo Roncato0% (1)
- Presença PedagógicaDocumento8 páginasPresença PedagógicaEEMTI Antônio BezerraAinda não há avaliações
- Relatório Poeb Relações de PoderDocumento19 páginasRelatório Poeb Relações de PoderDanny Silveira Bueno100% (1)
- KUHLMANN Infancia Construcao Social e HistoricaDocumento18 páginasKUHLMANN Infancia Construcao Social e HistoricaMiriam Aguair100% (1)
- BNCC Dissertacao PDFDocumento162 páginasBNCC Dissertacao PDFHandherson Damasceno100% (1)
- SOARES, Magda Alfabetizacao Letramento Ed ContextoDocumento37 páginasSOARES, Magda Alfabetizacao Letramento Ed ContextoalcidesAinda não há avaliações
- Edgar MorinDocumento9 páginasEdgar MorinPatricia PinheiroAinda não há avaliações
- Tese - Liliane Barros de Almeida Cardoso - 2019Documento160 páginasTese - Liliane Barros de Almeida Cardoso - 2019Juliano MainardesAinda não há avaliações
- EDUCACAO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL NO BRASIL DosDocumento24 páginasEDUCACAO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL NO BRASIL DosJoão BatistaAinda não há avaliações
- (Educacao) - Lino de Macedo - Fundamentos para Uma Educacao InclusivaDocumento19 páginas(Educacao) - Lino de Macedo - Fundamentos para Uma Educacao InclusivaMirian LinharesAinda não há avaliações
- Alexandre Filordi de Carvalho - Foucault e A Crítica À Institucionalização Da Educação - Implicações para As Artes de GovernoDocumento18 páginasAlexandre Filordi de Carvalho - Foucault e A Crítica À Institucionalização Da Educação - Implicações para As Artes de GovernoAdam ReyesAinda não há avaliações
- Imagens Do Negro Na Literatura Infantil e JuvenilDocumento13 páginasImagens Do Negro Na Literatura Infantil e JuvenilAilton Leal PereiraAinda não há avaliações
- A Opinião Pública Não Existe (Pierre Bourdieu)Documento12 páginasA Opinião Pública Não Existe (Pierre Bourdieu)viniciuscarvalho86Ainda não há avaliações
- NÓVOA, Antônio - O Professor Pessquisador e Reflexivo - Entrevista Salto para o FuturoDocumento5 páginasNÓVOA, Antônio - O Professor Pessquisador e Reflexivo - Entrevista Salto para o Futuroel.leAinda não há avaliações
- Personagens de A Bolsa AmarelaDocumento14 páginasPersonagens de A Bolsa AmarelaRafael LopesAinda não há avaliações
- DIDATICA LibaneoDocumento20 páginasDIDATICA LibaneoNelson de OliveiraAinda não há avaliações
- Classes E Funções, de José Lemos MonteiroDocumento6 páginasClasses E Funções, de José Lemos MonteiroPriscila BorgesAinda não há avaliações
- Jogo, Brinquedo, Brincadeira e A EducaçãoDocumento7 páginasJogo, Brinquedo, Brincadeira e A EducaçãoTelma AbreuAinda não há avaliações
- Mapas Mentais - Cap IV, V e VI - Pensamento Pedagógico BrasileiroDocumento1 páginaMapas Mentais - Cap IV, V e VI - Pensamento Pedagógico BrasileiroMonica PetitAinda não há avaliações
- Os Quatro Pilares Da EducaçãoDocumento3 páginasOs Quatro Pilares Da Educaçãojorge luisAinda não há avaliações
- Discurso e Cotidiano Escolar: Saberes e SujeitosNo EverandDiscurso e Cotidiano Escolar: Saberes e SujeitosAinda não há avaliações
- A escrita autobiográfica: Por uma didática do ensino-aprendizagemNo EverandA escrita autobiográfica: Por uma didática do ensino-aprendizagemAinda não há avaliações
- A Construo Da Musicalidade Do Professor de Educao InfantilDocumento212 páginasA Construo Da Musicalidade Do Professor de Educao InfantilMateus CoutoAinda não há avaliações
- Projeto de Ensino de História e Geografia - Conhecendo As Regiões BrasileirasDocumento11 páginasProjeto de Ensino de História e Geografia - Conhecendo As Regiões BrasileirasAlex0% (1)
- ACL 1979 06 Biografia de Um Sertao F Alves de AndradeDocumento20 páginasACL 1979 06 Biografia de Um Sertao F Alves de AndradeArievilo OliveiraAinda não há avaliações
- 2020 - Estágio Supervisionado Vivências e Experiências em Uma Escola de Ensino Médio No Município de Benjamin Constant-Amazonas.Documento4 páginas2020 - Estágio Supervisionado Vivências e Experiências em Uma Escola de Ensino Médio No Município de Benjamin Constant-Amazonas.Patricio FreitasAinda não há avaliações
- Plano de Aula - N2Documento2 páginasPlano de Aula - N2Giovanna FonsecaAinda não há avaliações
- Monografia Sobre o Sistema Educacional Na Suécia - Bianca MeloDocumento56 páginasMonografia Sobre o Sistema Educacional Na Suécia - Bianca MeloBia Melo BiaAinda não há avaliações
- Abordagem Psicopedagógica Das Dificuldades de AprendizagemDocumento504 páginasAbordagem Psicopedagógica Das Dificuldades de AprendizagemlopesmacapaAinda não há avaliações
- Questões - Eletivas Versão 1Documento13 páginasQuestões - Eletivas Versão 1Kauan Júlio Justino De Souza100% (1)
- Trabalho Semestral CurrículoDocumento10 páginasTrabalho Semestral CurrículoTalita SoaresAinda não há avaliações
- Atividades para Alunos IndisciplinadosDocumento3 páginasAtividades para Alunos IndisciplinadossandraguerinAinda não há avaliações
- A Importancia Das Memorias LiterariasDocumento11 páginasA Importancia Das Memorias LiterariasOzemar Lopes GonçalvesAinda não há avaliações
- Resumo AnalíticoDocumento5 páginasResumo AnalíticoJoão AnaniasAinda não há avaliações
- Slide - Gestão Financeira e A Infraestrutura Na EscolaDocumento15 páginasSlide - Gestão Financeira e A Infraestrutura Na EscolaPatricia OliveiraAinda não há avaliações
- A Importância Da Aproximação Entre Os Pais e A Escola AlineDocumento26 páginasA Importância Da Aproximação Entre Os Pais e A Escola AlineCharlie AdrielAinda não há avaliações
- Boletim Informativo Surdos Noticias 2 NumeroDocumento20 páginasBoletim Informativo Surdos Noticias 2 NumeroJacinto DalaAinda não há avaliações
- Escola Sabatina e FamíliaDocumento14 páginasEscola Sabatina e FamíliaCLEÓCIO DOS SANTOS NERISAinda não há avaliações
- Aulas 01 A 10 História Da Educação Brasileira 1Documento21 páginasAulas 01 A 10 História Da Educação Brasileira 1Ronise Rodrigues de OliveiraAinda não há avaliações
- Bullying GOMESDocumento45 páginasBullying GOMESOtavio MoraesAinda não há avaliações
- Portfólio Prática Pedagógica 2Documento8 páginasPortfólio Prática Pedagógica 2alvesjessy64Ainda não há avaliações
- Apostila de Gênese Da Supervisão Educacional 2015Documento38 páginasApostila de Gênese Da Supervisão Educacional 2015Guilherme HempelAinda não há avaliações
- A Avaliação Integrada Ao Processo de Ensino-Aprendizagem de Matemática Na Sala de Aula - Pironel, M.Documento205 páginasA Avaliação Integrada Ao Processo de Ensino-Aprendizagem de Matemática Na Sala de Aula - Pironel, M.Rita BessaAinda não há avaliações
- Ed 122Documento4 páginasEd 122crasAinda não há avaliações
- A Educação Não Formal e A Divulgação CientíficaDocumento13 páginasA Educação Não Formal e A Divulgação CientíficaPedroSilvaAinda não há avaliações
- UM ESTUDO SOBRE A Disgrafia No EF PDFDocumento8 páginasUM ESTUDO SOBRE A Disgrafia No EF PDFRoselle MatosAinda não há avaliações
- Balanço Da Educação e Esportes 2022Documento109 páginasBalanço Da Educação e Esportes 2022Edvaldo Amaro dos SantosAinda não há avaliações