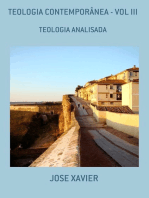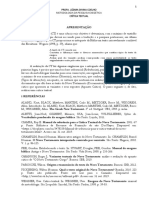Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
3464 10282 2 PB PDF
3464 10282 2 PB PDF
Enviado por
DenisWilsonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
3464 10282 2 PB PDF
3464 10282 2 PB PDF
Enviado por
DenisWilsonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Milton Schwantes: um horizonte
teológico, um projeto, uma tarefa
Milton Schwantes: a theological horizon,
a project, a task
Milton Schwantes: un horizonte teológico,
un proyecto, una tarea
Rui Josgrilberg
Resumo
O texto procura mostrar a existência de uma parte do legado de Milton Schwantes
que se apresenta como tarefa. Um projeto inacabado, uma Teologia do Primeiro
Testamento, mas delineado, deveria desafiar alguns estudiosos em prosseguir nas
pistas hermenêuticas adiantadas pelos textos remanescentes e não publicados
em sua maior parte. Essas pistas são delineadas aqui de modo provocativo e
tentativo, no sentido de motivar novas pesquisas. Cânon e Criação recebem uma
atenção especial de Milton em sua última fase.
Palavras-chave: Milton Schwantes; Teologia do Primeiro Testamento; Gênesis
1-11; pistas hermenêuticas; cânon hebraico.
Abstract
The text aims to show the existence of a part of the legacy of Milton Schwantes
that presents itself as a task. An unfinished project, one of the first Testament
Theology, but outlined, should challenge some scholars to pursue advanced
hermeneutical clues in the texts and remaining unpublished for the most part.
These clues are outlined here so tantalizing and provocative, to motivate further
research. Creation Canon and receive special attention of Milton in its last phase.
Keywords: Milton Schwantes; Theology of the First Testament; Genesis 1-11;
hermeneutical clues; Hebrew canon.
Resumen
El texto tiene como objetivo mostrar la existencia de una parte del legado de
Milton Schwantes que se presenta como una tarea. Un proyecto inacabado, una
de la Teología Testamento principio, pero se indica, debe desafiar a algunos
eruditos a seguir pistas hermenéuticas avanzados en los textos y las restantes
inédito en su mayor parte. Estas pistas se describen aquí, así que tentadora y
provocativa, para motivar nuevas investigaciones. Creación de Canon y recibir
atención especial de Milton en su última fase.
Palabras clave: Milton Schwantes; Teología del Antiguo Testamento; Génesis
1-11; claves hermenéuticas; canon hebreo.
Introdução
Após a perda de nosso querido colega queremos seguir discutindo
sua proposta de uma Teologia do Primeiro Testamento. Discussão que
não se inscreve como uma homenagem, mas como uma tarefa. Tarefa
que penso, deve ter seguimento com algumas publicações que deixou
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 79
encaminhadas, sua tese de doutorado e levantamento de textos que
compartilhava com estudantes e professores/as em seus cursos e con-
ferências. Poucos anos antes de seus problemas de saúde aparecerem,
Milton Schwantes demonstrava que estava em fermentação para um giro
hermenêutico em sua abordagem da teologia do Antigo ou como ele dizia
do Primeiro Testamento.1 Depois da operação e quando recuperou a pos-
sibilidade de voltar ao trabalho, entregou-se a produzir obstinadamente
uma série de textos que correspondiam mais ou menos ao seu projeto.
No último Colóquio de Doutorado no Programa de Pós-graduação
em Ciências da Religião tive a honra de participar junto com Milton, e
por várias vezes ele mencionou que estava preparando um material para
uma Teologia do Primeiro Testamento. Antes do Colóquio conversamos
sobre o conteúdo do mesmo. Ele usaria o material que estava escreven-
do, alguns já escritos que sofreriam, possivelmente, algumas alterações;
e disse-me que seria bom se eu entrasse com algumas considerações
hermenêuticas. Perguntou-me se poderíamos colocar em discussão as
questões levantadas por Walter Brueggemann (1997) em sua Teologia do
Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, chegamos a um acordo que seria
interessante ler com os doutorandos o livro de Paul Ricoeur (2000; 2007),
A memória, a história e o esquecimento. Milton estava preocupado com
uma nova abordagem para uma futura Teologia do Primeiro Testamento,
e falava mesmo da necessidade de uma guinada hermenêutica que es-
tivesse à altura de novos desafios postos pela pesquisa bíblica (a crítica
bíblica sofreu uma reviravolta) e pela pesquisa histórica no Oriente Médio,
alimentada pela arqueologia.
A maioria dos/das estudantes no Colóquio eram biblistas. Para eles/
elas, com exceções, o texto de Ricoeur foi pesado. Milton trabalhava com
a Bíblia e os textos que enviava com antecedência. Seu modo de traba-
lhar revelava uma preocupação central com blocos narrativos (os blocos
narrativos maiores conteriam “livros” dentro deles), chamando a atenção
para as cesuras dos discursos que permitissem divisões ‘naturais’; usa-
va traduções do texto hebraico feitas por ele mesmo, com observações
sobre expressões e palavras hebraicas. Preocupou-se muito mais pelo
sentido de cada texto do que pela referência ao escritor como autor ou
ao personagem como figura histórica. “O personagem central é o ‘povo’”.
Entretanto parecia-lhe indispensável o fundo sociológico, econômico e, na
medida do possível, histórico. A Bíblia Hebraica lhe parecia quase uma
obra anônima, mas com autoria de um povo, o que certamente passava
pelas tradições de um povo que procurava se autoafirmar como tribo ou
mesmo como Estado, por uma espécie de monarquia quando as tradições
1
O seu livro, aparentemente despretensioso (SCHWANTES, 2002) parece antecipar o que
seria o seu projeto.
80 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
começaram a serem ordenadas. Bíblia cuja escrita final começa tardia-
mente, especialmente durante o segundo templo. Sua hermenêutica dava
ênfase ao direito do pobre e lia nos conflitos, paradoxos e contradições a
relação de Deus com esse povo pobre, mesmo quando o texto aparecia
marcado pela ideologia de um Estado monárquico em formação. De qual-
quer modo, suas interpretações eram concretas e agudas, o texto visto
pela face das afirmações e pela contra face das suspeitas. Diminuíram
muito as citações de obras especializadas. Engana-se quem pensa que o
acervo imenso e atualizado da literatura bíblica foi abandonado. As refe-
rências bibliográficas de Milton, embora selecionadas, eram abundantes.
Mas, para a facilidade da leitura resumiu ao absolutamente essencial e
ao que estava mais à mão. Jamais se permitiu sacrificar a honestidade
intelectual para salvar uma interpretação.
No final do curso ficou a expectativa que um trabalho, uma Teologia
do Primeiro Testamento poderia vir à luz nos anos seguintes, embora
tivéssemos a ideia de que o trabalho de organizar o material e dar-lhe
mais clareza hermenêutica face às mudanças de rumo demandaria ainda
tempo e condições mínimas de saúde.
Além de obras que deixou no meio do caminho, e de alguns livros
já finalizados, só os textos preparatórios para sua teologia já somam
cerca de seiscentas páginas que conseguimos reunir com a ajuda de
alguns estudantes (especialmente Vitor Chaves, a quem agradecemos
a colaboração). Os arquivos de Milton Schwantes estão na maior parte
em seus computadores e em sua biblioteca, guardados por sua esposa,
a professora Dra. Rosileny Alves dos Santos Schwantes, e que deverão
ser classificados e colocados a disposição da pesquisa, trabalho eviden-
temente que leva muito tempo.
A minha contribuição aqui é dada com a consciência de que meu
campo de ensino não é o Primeiro Testamento. Minha dedicação maior
vai para a hermenêutica de Ricoeur, a fenomenologia de Husserl e a
Teologia Sistemática. Entretanto, não ficaria com a consciência tranquila
se não trouxesse para o diálogo algumas questões que emanaram do
Colóquio de 2011, liderado pelo Milton e secundado por mim. Penso
que posso contribuir, futuramente, com um aporte da hermenêutica de
Ricoeur para uma Teologia do Primeiro Testamento no horizonte aberto
por Milton Schwantes.
Um novo quadro que pede um giro hermenêutico
A inquietude de Milton sobre os estudos do Primeiro Testamento
vinha principalmente de três lados:
O primeiro, pelo colapso da teoria das fontes (Wellhausen e sucesso-
res, e sua forma usada por von Rad (1976) e da crítica bíblica do Antigo
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 81
Testamento em geral (história das tradições com Noth e Von Rad, história
da redação, crítica da forma, gêneros literários, contexto, com Gunkel,
etc.). A teoria das fontes foi se desagregando e ruindo progressivamente
com o trabalho, sobretudo (a) de J. van Seters (1976) revisando o per-
sonagem “Abraham na história das tradições”; (b) de H.H. Schmid (1975),
“questionando a fonte chamada javista“; e (c), de R. Rendtorff (1977),
”atacando o problema das transmissões tradicionais do Pentateuco”.
Para muitos trata-se de uma reformulação profunda da teoria, mas ainda
utilizável com reservas e sem a tentativa de minúcias classificatórias de
perícopes ou blocos. Seriam indicações de tendências teológicas e não
de escritores. Para Milton trata-se muito mais que um simples rearranjo
da teoria, uma demolição que a tornou inútil quanto à classificação textos.
A teoria, além de reflexos ideológicos (de formação do estado ale-
mão, em Welhausen!), não era inteiramente verificável. Além de impor
princípios estranhos ao texto, criam problemas artificiais e levanta uma
série de perguntas que ficam sem respostas. É o que acontece com teo-
rias factuais sem comprovação factual. Trata-se de uma hipótese que caiu
quando foi examinada à luz de outras categorias. Por exemplo, escreve
Schwantes (S.L. S.A), “o uso de yahweh, ‘Javé’, ou de ’elohim, ‘Deus’ não
é uma questão de fontes literárias, mas de sentidos teológicos”.
Mesmo com o pouco que restava da teoria segundo Rendtorf (que
abandona a ideia de narrativas segundo as fontes, mas fica com traços
delas localizadas em fragmentos dentro das narrativas) trabalha com as
grandes unidades, como as origens da humanidade, Gênesis 1-11; a saga
dos patriarcas, Gênesis 12-50; a partida do Egito, Êxodo 1-15; a epopeia
do Sinai, Êxodo 19-24, 32-34; a permanência no deserto, Êxodo 16-18,
Números 11-20, e as narrativas da “conquista”, Números e Josué, que
deveriam ser interpretadas como um conjunto final de escrita a muitas
mãos, cujos retalhos não são mais possíveis detectar). A unidade desses
blocos narrativos seria uma costura do(s) deuteronomista(s), e em menor
grau do(s) cronistas(s).
Rendtorf, a quem Milton nos remetia, levou-o a uma posição mais
radical quanto a possibilidade de uma Teologia do Primeiro Testamento. O
aspecto diacrônico das fontes (as fontes queriam “representar” uma evo-
lução da fé em Israel) ruiu, e ele dizia-nos que deveríamos deixar de lado
essa parte da crítica nos estudos do Primeiro Testamento e ficar apenas
com os cortes naturais do texto (informação verbal)². Ele manifestou isso
em aula e em conferências para estudantes e professores/as de teologia.
O trabalho de Martin Noth adquiriu nova relevância nesse contexto.
Noth (1981) fundiu o Tetrateuco no trabalho de um redator deuteronomista
que modifica todo o quadro. As fontes variadas foram revistas e cozidas
num texto com uma visão e ideologia próprias de um redator da época
82 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
exílica. Ocorre que Noth mostra como o deuteronomista trabalha o material
disponível com seu estilo e ideologia do qual resultou os livros de Josué a
Reis e cuja composição final é recente (século 6°). O exílio é visto como
um castigo de Javé pela infidelidade do povo. A base da Torah aparece
então como o Tetrateuco. O trabalho de Noth causou muita agitação. O
Israel pré-monárquico encolhia muito quanto à possibilidade de veracidade
histórica. Von Rad (1930) foi numa direção contrária à de Noth, afirmando
um Hexateuco e fazendo teologia a partir das fontes e em torno do credo
encontrado no deuteronomista (Dt 26.5-9). Enquanto Noth defendia uma
visão pessimista de juízo e castigo, Von Rad enfatizava a esperança.
Milton manifestou várias vezes sua apreciação pela arquitetura de
Von Rad, mas reconhecia muitas dificuldades com as fontes e a neces-
sidade de revisar a historiografia deuteronomista. O seu professor H. W.
Wolff sintetizou os lados opostos (Noth e Von Rad) com a mensagem de
conversão implícita. Milton enfatiza a esperança como Von Rad, mas o
suplementa e corrige com as abordagens sociológicas (GOTTWALD, 1989,
uma de suas recorrentes referências) e arqueológica (MAZAI; FINKELS-
TEIN, 2007). Apesar das dificuldades críticas, Von Rad lhe parece mais
teólogo que todos os outros.
O segundo movimento que lhe causa inquietação vem de seu contato
com a arqueologia do Oriente Médio, especialmente de terras palesti-
nas, particularmente os trabalhos de arqueólogos judeus que viraram do
avesso a história tradicional de Israel contada a partir da Bíblia. Esses
arqueólogos mostraram uma história cujo manequim era muito diferente
daquele da vestimenta costurada pelo texto bíblico. Milton adquiriu gosto
pela viagem aos sítios arqueológicos da região e esse contato ajudou a
compreender a revolução que a arqueologia estava imprimindo na história
regional. Não se tratava mais de arqueologia a partir da Bíblia com inten-
ções de comprovação do discurso bíblico. A revolução arqueológica na
história daquelas terras exigia uma refundição de tudo o que se afirmava a
respeito, seja do Israel pré-monárquico seja de Israel do segundo Templo,
ou do Exílio ou do judaísmo pós-exílico. A história e a arqueologia a partir
da Bíblia (para comprovar o quadro histórico que ela descrevia) viam a
região com lentes inadequadas. Não se trata mais de uma “história bíblica”
ou de uma “arqueologia bíblica”, mas de uma história e uma arqueologia
da região. A arqueologia e a história de Israel no estilo de W. F. Albright
(1940) sofreram golpes irreparáveis. Assim mesmo, alguns persistem em
usar a cronologia de Albright sem atentar para a nova arqueologia das
terras do Levante Sul mediterrâneo.
A total refundição da história que era pressuposta e subjacente ao
texto bíblico causa um grande transtorno teológico. Parece que as coisas
levarão algum tempo para se acomodarem novamente. Milton não abre
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 83
mão da necessidade de um fundo histórico e socioeconômico para a
interpretação dos blocos narrativos, mas reconhece que não pode mais
trabalhar com a diacronia tradicional. Esse fundo, para se ter alguma
segurança, se reduz a grandes traços e o diacrônico bíblico se funde em
muitos casos com uma hermenêutica sincrônica da redação. A arqueo-
logia, se por uma lado mostrou como era inadequada a “história bíblica”
e sua cronologia, por outro lado se apresentou uma aliada fundamental
para se perceber melhor o fundo social, geográfico, econômico e político
por trás das narrativas.
O terceiro movimento da inquietação do Milton parece ter vindo das
novas práticas hermenêuticas. Além do fundo social, trata-se de se ver
diante de um texto e de suas possibilidades de significação teológica.
Milton se mostrou muito curioso como Water Brueggemann desenvolveu
sua Teologia do Antigo Testamento com a hermenêutica de Ricoeur. Essa
curiosidade acadêmica não significa que aprovava ou desaprovava o tra-
balho de Brueggemann. Milton tentava construir seu próprio caminho. O
fato de me pedir trabalhar com texto do professor da Georgia, e com ele
Ricoeur, era uma tentativa de aclarar seu próprio caminho. Brueggemann,
praticamente faz abstração da história (com o que não concorda Milton)
como pano de fundo e se atem ao mundo e movimentos das narrativas
comandadas por um princípio interpretativo fundado na ideia de processo
jurídico teológico entre o povo e Javé, como indica o título mesmo de sua
grande obra, Teologia do Antigo Testamento. Um juízo a Yahweh. Teste-
munho, disputa, defesa (conforme o título em espanhol). Voltaremos ao
trabalho de Brueggemann mais adiante. É claro que no momento em que
alguns alicerces tremem, agarra-se ao que está em terreno mais firme:
o texto e o cânon passam para o primeiro plano como condição para se
prosseguir no trabalho de intérprete teológico para as comunidades de
nosso tempo.
Schwantes e algumas balizas referenciais para uma possível Teologia
do Primeiro Testamento
Num momento de transição de princípios é preciso ter-se bem pre-
sente marcos que possam estabelecer fronteiras e bases para o caminho.
Nesse ponto Milton revelava algumas delas e de maneira bastante clara,
ainda que esperasse completá-las de alguma forma. Podemos tentar su-
mariar essas balizas, ainda que de modo apenas preparatório, conforme
o que segue:
O primeiro princípio hermenêutico que orienta Schwantes nos é dado
pela sua tese de doutorado sobre o “direito dos pobres”; o direito dos
pobres é compreendido como o direito de reclamar o que lhe pertence e
que lhe foi roubado. Esse é o horizonte social específico de leitura que
84 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
permeia a sua exegese e teologia. O Antigo Testamento oferece um viés
de leitura que vem das margens da história, das margens do grupo social,
das margens do estado, que mesmo as tramas ideológicas que envolvem
o texto aqui e ali não conseguem esconder.
Quando indagado, em entrevista em 2001, sobre a publicação de
sua tese doutoral, respondeu “Sim, o título em português será este, mas
ainda não consegui publicar a tese no Brasil. Está em alemão, Das Recht
der Armen (SCHWANTES, 1977), tendo sido publicada por uma editora
de Frankfurt. A tese aborda o sentido social do conceito pobre. O que é
sociologicamente o pobre e em que sentido ele tem direito? O que quer
dizer, neste caso, direito? Direito, no caso da cultura semita, significa
aquilo que corresponde a alguém que tem necessidade de obter coisas
da sociedade. Este seria o significado político do termo hebraico que
costumamos traduzir por direito. O pobre tem, pois, o direito também
de receber comida e uma terra da sociedade. O direito é o de obter da
sociedade o apoio na necessidade e na crise, em meio aos parentes e à
comunidade. Igualmente quis saber quem são exatamente os pobres. O
termo pobre é usado no Antigo Testamento e na Bíblia de modo diferente
do que nós o usamos. Nós damos aos pobres o sentido de carentes. A
Bíblia o entende como os que têm o direito de reivindicar os direitos so-
ciais garantidos. Na tradição bíblica, um pobre não pede (não é pedinte),
mas exige sua parcela da sociedade.” 2
O segundo marco interpretativo para nosso autor é o diálogo com
as comunidades colocadas à margem. Seu cuidado com a fragilidade e
a força dessas comunidades é constante e exemplar. Preocupado com o
impacto que as dificuldades históricas da Bíblia poderia causar nas co-
munidades ele se pergunta: “Como podemos solucionar este problema na
pastoral bíblica, sem negar a ciência histórica e sem ferir a fé do povo?”
(SCHWANTES, 2008, p. 11 e 17) e mais adiante: “Em minha experiência
é muito importante ler o texto bíblico na comunidade, com o povo... não
se trata de substituir o texto por dados da investigação histórica, mas
sim, de ir iluminando a leitura comunitária e popular do texto bíblico,
dessa memória profética e transformadora, com descobertas da ciência
histórica, na medida do interesse e das possibilidades da comunidade”
(SCHWANTES, S.A.).
E ainda numa conferência:
Por contar luchas populares la Biblia se diferencia de narraciones históricas o
de discursos coherentes. Como libro de las luchas populares sus narraciones
siguen el ritmo y la lógica populares. Esto implica, entre otras cosas, el que
haya un vaivén incesante entre el pasado y el presente y una mezcla genial
entre lo que es más antiguo y lo que es más relevante, de suerte que el A.T.
2
Em entrevista a alunos de Teologia e reproduzida em vários sites na rede.
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 85
inicia por uno de sus textos más recientes (Gn 1. 1-2.4a es del siglo 6º) y el
N.T. comienza con un evangelio que ciertamente no es el más antiguo, etc..
Como libro de memoria popular, la Biblia sigue patrones culturales propios,
que la investigación bíblica comienza a describir (informação verbal).
De outro lado, o modo de pensar e interpretar de Milton não abre mão
da história. Alguns intérpretes contemporâneos se refugiam no texto, no
mundo do texto, na mensagem do texto, independentemente da história
dos historiadores. Esse não é o caminho de nosso autor. Ele aponta no
discurso bíblico traços de história (sem se alinhar aos minimalistas ou
aos maximalistas em relação ao conteúdo histórico do texto bíblico) o que
provoca uma tensão entre texto e história. Sobre esse tema coligimos
uma citação longa, mas esclarecedora:
Textos-historia: tensiones. La Escritura cuenta la historia. Sus narraciones
hablan de episodios pasados para animar a los oyentes presentes. Si bien
tienden a volver más al presente, jamás se despegan de los episodios
pasados. No son documentos de los hechos en sí, ni son meros discursos
ideologizados. Se encuentran en la conjunción de los episodios pasados
con los oyentes presentes. Esta dinámica al interior de la Escritura es palpi-
tante para nosotros: si fuera solamente un documento ya estaría enterrado
en las arenas del oriente medio; si fuese solamente un discurso habría
permanecido en bibliotecas exclusivas para intelectuales. Por concatenar
las luchas populares de diferentes épocas, estamos invitados a ingresar
en este camino de práctica liberadora.
Esta dinámica peculiar de la Biblia de lidiar con el pasado, hace
que se abran delante de nosotros, dos posibilidades para encaminarnos
a nuestra pregunta respecto de la cuestión agraria:
Primero: podríamos atenernos al texto bíblico, pasando a describir nuestra
temática en el contexto de los grandes bloques literarios. Hablaríamos, en-
tonces, de la tierra en las “narraciones sobre los orígenes” (Gn 1-11), en las
“Historias de los Patriarcas” (Gn 12-50), en los “Profetas del siglo 8º (Os, Am,
Is, Miq.)”, etc... La ventaja consistiría en mantenernos próximos a los textos,
pero correríamos el peligro de no ubicarlos en la historia.
Segundo: podríamos sujetarnos a los grandes periodos de la historia del
pueblo de Israel. Hablaríamos, entonces, de la tierra “en la época de he-
gemonía egipcia”, “del tribalismo yavista”, etc. Correríamos el peligro de
distanciarnos un poco de los textos, con la ventaja de mantenernos en la
concreción histórica de las experiencias.
Propongo encaminarnos por la segunda posibilidad. Pues, la explicación del
telón de fondo histórico ayuda, por un lado, a materializar nuestra temáti-
86 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
ca y, por otro lado, crea barreras contra el literalismo bíblico que tiende a
distanciar a los cristianos de las luchas populares (SCHWANTES, 2004). 3
Essa citação aponta para a significação em meio a discordância
e discrepância entre o texto-história e o texto bíblico, significação que
deve ser buscada na própria tensão. Mesmo quando os textos não são
históricos trata-se de um modo de interpretar a história de um ponto de
vista específico. É necessário entender as tradições iniciadas pelos po-
bres sofrendo constantes revisões. O autor inicial é o povo. Raramente
sabemos quem é o autor. Ao mesmo tempo, necessitamos do contexto
sócio-histórico para interpretá-las. Uma hermenêutica do autor fica gra-
vemente comprometida.
A arqueologia do Levante Sul, ou das terras do Oriente Próximo
levada a efeito pelos arqueólogos judeus, especialmente (como os da
escola de Tel Aviv), são de extraordinária relevância para se repensar a
história, as categorias sociais, a economia, e as relações entre os po-
vos da região. Embora haja ainda debates sobre o modo como o texto
bíblico se relaciona com a história e o que pode ser visto ainda como
sedimentos históricos, é incontornável enfrentar-se à nova problemática
(SCHWANTES, 2008, p. 17).
Milton propõe uma revisão da importância dada ao bloco de Gênesis
1-11, vendo nessas narrativas um papel decisivo e fornecendo o horizon-
te para a Teologia do Primeiro Testamento. Como ele dizia, trata-se da
“porta de entrada” no texto bíblico canônico (e nos lembrava como ficou
impactado pelo modo que alguns rabinos relacionavam a criação com a
Torah4 como um todo. Trata-se de um texto recente (século 6° a.C.; o texto
pode ser bem situado em relação ao exílio e pós-exílio). O importante é
mostrar que se está no mundo e na história com Deus junto com o todo
da humanidade. É o presente que lê o passado, como nos ensina Marc
Bloch, o grande historiador de Estrasburgo; é a história de frente para
trás para dizer o modo de como o passado entra no presente. Para nosso
teólogo, Gênesis 1-11 tem um caráter paradigmático na hermenêutica
bíblica. Embora os fatos não sejam “históricos” em termos de ciência
histórica (o mundo não foi criado em seis dias, Adão e Eva não foram
os primeiros a pisarem a terra, os povos falaram desde o início várias
línguas), a tensão criada nos aponta para a importância do modo como
o povo bíblico lê a história: a questão do sentido salta à frente quando o
acontecimento não pode ser mais descrito. A sedimentação narrativa que
provoca o sentido já era suficiente na época da redação do bloco para
que o sentido se projetasse sobre a Bíblia como um todo.
3
Sobre o tema ver o livro do judeu Levenson (1994).
4
Sobre o tema ver o livro de Levenson (1988).
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 87
Além disso, Gênesis 1-11, “história” genealógica do mundo e das fa-
mílias (o livro de Gênesis possui uma divisão natural em blocos narrativos
baseados em genealogias, nos ensina Milton) que antecederam o Reino,
mostra a universalidade de Deus e contrasta com os riscos da soberba,
injustiça e particularismos messiânicos da monarquia. A simbologia mostra
uma mensagem de que os projetos de esperança que nascem com Deus
não se conformam com os projetos civilizatórios de monarcas. 5
Ao propor esse novo caminho Milton necessita romper com alguns
princípios propostos por Von Rad. Esse horizonte da criação, porém, não
é uma descoberta de Milton. Alguns já tinham acenado para ele como
Zimmerli, Anderson, e, especialmente, Hans Heinrich Schmid (1984 apud
ANDERSON, 1984), que entre outras obras sobre o tema, escreveu um
ensaio traduzido para o inglês com o título “Creation, Righteousness, and
Salvation: ‘Creation Theology’ as the Broad Horizon of Biblical Theology”.6
Outro marco viria da renúncia da leitura histórica tradicional do An-
tigo Testamento como uma sequência de eventos ou como uma história
da salvação (patriarcas, Êxodo, conquista, juízes, monarquia, profetas,
exílio, pós-exílio) escrita a partir das narrativas bíblicas. Outras catego-
rias devem ser mais úteis e mais abrangentes socialmente (e que não
pretendam refletir uma diacronia histórica precisa). A projeção histórica
feita a partir do século 7° a.C. quando os livros são escritos e ordena-
dos, com tintas de antecedentes ideológicos da monarquia, aponta mais
para uma compreensão dos movimentos sociais que uma preocupação
de enquadramento cronológico de eventos. Assim a preferência por uma
história geográfica e sociológica se impõe. Categorias novas passam à
frente, como tribalismo e populações nativas, nomadismo e migração,
camponeses e pastores, montanha e planície, colonização e ocupação,
tributarismo e império, cidades-estados e aldeias, deserto e beduínos,
êxodos e exílios, domínio e libertação, genealogias e dinastias, etc...
Embora remodelado e ampliado na narrativa o Êxodo, vinculado litera-
riamente à tradição de Javé, o deus da montanha, continua como centro
disseminador de sentido para todo o Pentateuco.
O texto canônico da Bíblia Hebraica é alçado para o primeiro plano.
Não começa com o micro da crítica, mas com o macro do cânon. Opta
5
Sobre o tema ver Schwantes (2002) e o texto “Uma teologia do primeiro Testamento”,
distribuído entre os estudantes e professores, especialmente a secção 1.1 Gênesis como
entorno da Torah, onde se lê: “Gênesis 1-11 traça, pois, o horizonte da Bíblia; vislumbra
seu horizonte em meio e entre os povos. A escolha de um povo expressa, em seu reverso,
também o encontro com todos os povos.”
6
B. W. Anderson (1967) escrevera um influente livro com o título Creation versus Chaos.
The Reinterpretaton of the Mytical Symbolism in the Bible, no qual já estendia a impor-
tância da criação para compreensão do credo de Dt, da Aliança, da história como um
todo e da consumação. Ver também Reventlow (2002).
88 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
pelo cânon da Bíblia Hebraica. Talvez por apresentar maior unidade
enquanto um todo. É o lugar seguro para navegar teologicamente ain-
da que dependamos do que acontece na costa para que a viagem seja
possível e necessitemos de referências para orientar-nos na viagem. O
cânon Hebraico, Torah Nebi’im we Ketubim (Torah, profetas e escritos),
fornece o fio condutor (não a crítica, não a cronologia histórica, não o
cânon dentro do cânon. 7 Trata-se de uma teologia exegética do cânon,
seguindo as divisões naturais deste, e reconhecendo as cesuras cômodas
que o próprio texto permite reconhecer.
Quase que poderíamos falar de uma verdadeira corrida para o cânon
na teologia do Antigo Testamento. Milton estava muito interessado nessa
questão. Parecia-lhe essencial descobrir a intencionalidade formadora
do cânon. Esse esforço foi precedido por exegetas como Breward Childs
(1985; 1995), por Jon Leveson (1992), judeu da Universidade de Harvard,
por Rolf Rendtorf (1991), entre outros. Milton já havia percebido como
a sabedoria em Israel pré e pós-monárquica acentuaram fortemente o
quadro da criação como algo universal. Ele deixou muitas observações de
que segundo ele a intencionalidade do cânon poderia ser encontrada na
porta de entrada canônica da Bíblia, Gênesis 1-11. Em um de seus textos
programáticos “Uma Teologia do Primeiro Testamento” ele, caracterizando
“a Teologia que estou propondo”, escreve de forma a não deixar dúvidas,
que Gênesis 1-11 é o “entorno da Torah”. E completa: “se este ponto de
partida estiver adequado, então os primeiros onze capítulos do Gênesis
(1.1 até 11.25) deixam de ser ‘pré-histórico’, mas são contínua referência
para todos os conteúdos da lei, quiçá da Bíblia”.
“O tema não são, pois, as origens e os começos ‘pre-históricos’,
mas os continuados horizontes da torah, sim da própria Bíblia Hebraica.”
Escreve ainda que, nesse sentido, Gênesis 1-11 abrem a torah com a
visão da própria da “finalização da história de Israel. Sem a humanidade
suas peregrinações (de Israel) se tornam como que sem horizonte” E diz
projetivamente:
Para delinear a tarefa de Gênesis 1-11 proponho descrever estes capítulos
como entorno da Torah, como horizonte dos conteúdos da trajetória teológica
de Israel. ... Gênesis 1-11 traça pois o horizonte da Bíblia; vislumbra seu
horizonte em meio e entre os povos. A escolha de um povo expressa, em
seu reverso, também o encontro com todos os povos (informação verbal).
Esse é o horizonte de sua teologia. O resultado será uma interpretação
teológica mais livre no texto, mas com uma preparação linguística, sócio-
-histórica que seja instrumental. Hermenêutica do texto associada com uma
Curiosamente, muito semelhante à posição de Bonhoeffer na relação da crítica com o cânon,
7
ver A Resposta às nossas Perguntas. Reflexões sobre a Bíblia. Loyola: São Paulo, p. 16.
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 89
hermenêutica do/a leitor/a. Menos sistemática, menos estrutural, menos
dependente de recursos não controláveis por um leitor capaz de ler bem
a língua portuguesa. Por isso deve gerar reflexos na comunidade de fé.
Segundo Milton, as implicações das narrativas da criação e da forma-
ção dos povos, o dilúvio e Babel, são decisivos para todos os blocos da
Bíblia. Chegou a nos dar algumas pinceladas dessas implicações. Mas,
isso seria um tema para uma discussão mais prolongada e um diálogo
com diferentes vozes.
Estava também interessado em compreender melhor o processo de
“produção” dos textos em rolos e folhas de pergaminho e papiro e como
isso teria influenciado a junção de diferentes fragmentos e narrativas
(SCHNIEDEWIND, 2004). Na conclusão da primeira seção de “Uma Te-
ologia do primeiro Testamento” escreve:
Isto equivale a postular uma teologia do primeiro testamento que se achegue
ao jeito dos textos. É verdade, não é fácil afirmar de que jeito são estes
textos reunidos nas três partes da Bíblia Hebraica. Isso se deve ao fato de
que o modo de fazer ‘livros’ foi sendo diferente de tempos em tempos. Os
Escritos/ketubim, por exemplo, nos permitem perceber que os respectivos
‘livros’ tanto podem ser extensos, como o de Crônicas, mas também muito
breves como o de Rute. Houve, pois, tempos, no caso em épocas tardias,
que a técnica de confecção e encadernação de ‘livros’ permitia a variação
de seus tamanhos. Mas, certamente, também se teve a experiência, em que
isso se tornou particularmente difícil, como atestam ‘os cinco livros da lei’.
Mas, o que de todo modo importa, é que se sabia e se seguia diferentes
práticas em períodos históricos diferentes. De todo modo, já em tempos finais
da monarquia, visivelmente tornou-se viável manter pequenos ‘livros’ dife-
renciados de outros, como evidencia a coleção dos Doze Profetas Menores
(Oséias até Malaquias). Assim sendo não há de ser um desserviço à leitura
bíblica que tomemos os ‘livros’, as entidades literárias, como referentes para
uma Teologia do Primeiro Testamento.
Estas marcas não significam um sacrificium intellectus. Mais teologia
menos crítica, mais hermenêutica, menos história, não significa nenhuma
crítica ou nenhuma história. A teologia tem que ser uma teologia hones-
ta intelectualmente. Os grandes conjuntos narrativos e as suas dobras
em diferentes painéis são agora tratados primeiramente como matéria
prima da teologia sendo que a crítica e o fundo histórico não devem ser
obstáculos para que as afirmações de fé e de esperança não passem
ao primeiro plano. Hermenêutica do texto seguida de hermenêutica do/a
leitor/a (recepção) é um procedimento mais adequado à retórica textual.
90 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
Com Von Rad olhando além dele...
Em seu texto programático já citado, o “Para uma Teologia do Pri-
meiro Testamento”8, Milton planeja uma retrospectiva das teologias pre-
cedentes mais importantes. Dá indicações sobre o que seria a análise da
Teologia do Antigo Testamento de Köhler, Eichrodt, Von Rad, Westermann,
Zimmerli. Gerstenberg e Brüggemann fazem parte da recensão, mas ele
apenas abriu uma seção com estes dois nomes, sem mais nada, ficando
claro que pretendia redigir o texto posteriormente.
Essa retrospectiva acabaria fatalmente na polaridade Eichrodt/Von
Rad, apesar da importância dos outros teólogos mencionados. Ambos
vêm na esteira de Albrecht Alt (Javé) e Martin Noth (Aliança) como moti-
vadores de princípios organizadores. Eichrodt articula sua obra em torno
da Aliança como centro de identidade de Israel e de sua teologia. Von
Rad certamente significava para ele o mais importante teólogo do Antigo
Testamento no século 20. Influenciado por Alt e Noth, Von Rad segue
um caminho próprio detectando no período pré-monárquico e tribal uma
confissão de fé modeladora das tradições de Israel (Dt 26.5-9). A teologia
é interpretada como um desenvolvimento dessa confissão num processo
de tradições em diferentes lugares e épocas. O Pentateuco seria, de fato,
um Hexateuco que cobriria uma expansão do credo desde as promessas
da terra (Gênesis) até o assentamento das tribos (Josué). Essa teologia é
de corte fundamentalmente narrativo e não conceitual. Segundo Von Rad,
para controlar essa narrativa a crítica e a história se tornam absolutamente
necessárias. Mas o peso recai no lado da teologia e não da crítica. Porém,
Von Rad em um ensaio sobre o problema teológico da fé na criação (1936)
toma uma posição muito reservada quanto à importância da criação na fé
de Israel. Milton vai para outra direção. Além disso, via essa questão em
seu tempo contaminada pelos olhos da história comparada das religiões
e pouca atenção ao conteúdo propriamente teológico.
8
Não me lembro de ouvir um esclarecimento sobre a preferência de Milton por “Primeiro
Testamento” em lugar do tradicional Antigo Testamento. Mas, parece óbvio que queria
ler essa parte da Bíblia como Bíblia de todos e em sua unidade primeira do cânon da
Bíblia Hebraica. E também se mostrava muito sensível ao diálogo com teólogos judeus.
Cf. Zenger (2000, p. 252-258): “En recientes publicaciones cada vez se habla más
del «Primer Testamento». Esta nueva designación es fruto de una profunda reflexión
llevada a cabo durante la última década por no pocos biblistas y teólogos. La pregunta
que éstos se hacen es: cuando calificamos la primera parte de la Biblia cristiana de
«Antiguo» Testamento, ¿no mostramos un desconocimiento de su función básica y
fundamental? El autor del presente artículo pretende poner de relieve el auténtico signi-
ficado del «Primer» Testamento. El artículo da de sí mucho más de lo que su título, con
ser incitante, promete. En realidad, lo que aquí está en juego es todo el significado de la
Biblia como Revelación de la acción salvífica de Dios que escoge un pueblo y hace una
Alianza permanente con Israel (‘Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables’,
Rm 11,29) y como Palabra definitiva de Dios en Jesús (‘... en los últimos tiempos nos
habló por medio de su Hijo’, Hb 1,2).
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 91
Bruegemann não trabalha em oposição nem a Eichrodt, nem a Von
Rad, mas propõe outro caminho baseado no texto, no Cânon, e relativizando
a crítica e os detalhes históricos e cronológicos. Importa mais os grandes
mosaicos cujo sentido exige certo distanciamento dos detalhes. Apropria-
-se da hermenêutica de Ricoeur voltada para o texto como tal. Suas cate-
gorias principais são testemunho, memória, metáfora, imaginação, trama,
história e historicidade, etc.; sua Teologia do Antigo Testamento opera com
essas categorias de Aliança e de Querigma, mas num quadro metafórico
e imaginário de uma contínua disputa entre Deus e o ser humano no juízo
e fórum da história. Esse entorno, para usar a expressão de Milton, do
juízo entre Deus e povo é levado até o Novo Testamento, no julgamento
de Jesus. A variedade, diferença e conflito entre os testemunhos narrados
são assumidos como normais e apresenta uma pluralidade de testemunhos
e de interpretação que é imanente à Bíblia. Toda obra de Bruggemann é
o desdobramento dessa variedade de testemunhos que falam a favor ou
contra os litigantes. A Bíblia é fonte de sentido de um modo único: nasce
do confronto vivido e testemunhado do encontro de Deus com a humani-
dade. Nessa trama de testemunhos a Bíblia se torna mensagem. A análise
das narrativas é essencial: trata-se de “desentranhar o sentido a partir de
dentro”. Trabalha com certa proximidade de Von Rad e mostra simpatia
por uma visão confessional e querigmática dos dois testamentos. A marca
distintiva da obra de Bruggemann é sua decisiva incorporação da nova
hermenêutica, especialmente a desenvolvida por Paul Ricoeur.
Milton procurou seu próprio caminho hermenêutico e se apropriava
a seu modo de categorias hermenêuticas. Também estava preocupado
em desentranhar o sentido a partir de dentro. Demonstrou, durante o
mencionado Colóquio, simpatia por algumas categorias de Ricoeur, como
a de “política de memória”. Um de seus objetivos era o de não perder o
entorno de todos os povos da terra. A vocação judaica se lhe afigurava
progressivamente universal, mas deturpada por ideologias, especialmente
ligadas às pretensões monárquicas. Deixou algumas indicações sobre a
abertura para o Segundo Testamento. A estrutura da criação universal, dos
povos, de Adão, do pecado e do juízo, passa para o Testamento em torno
de Jesus, como o novo Adão, as primícias da nova criatura em Paulo,
da nova comunidade de fé, da nova cidade e da nova humanidade estão
bem delineadas no Segundo Testamento. Milton recordou-nos a antiga
tradição que vincula o Gênesis ao Apocalipse, um começa a Bíblia com
a criação e o outro conclui com o novo céu e a nova terra (Gn 1-11; Ap
21 e 22). Parece que ficou claro para ele que não há salvação sem a
criação.9 Uma tarefa que está por ser feita é deslindar como esta estrutura
de Gênesis 1-11 se entrelaça com os ricos comentários que Milton fazia
9
É curioso que essa visão está presente também, e de forma surpreendente, em autores
que quase nada têm com a postura hermenêutica contemporânea, como John Wesley.
A respeito ver o livro de Runyon (2002).
92 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
dos diferentes blocos narrativos. Ele tinha preparado minuciosamente
esses blocos narrativos do Primeiro Testamento, a partir do próprio texto
e buscando para cada sentido formador do bloco o fundo sociológico e
histórico. Tudo parece ser conduzido por ele como um diálogo de con-
cordâncias e discordâncias com Von Rad.
Estas breves considerações visam colocar sobre a mesa alguns pon-
tos para discussão e mesmo dialogar sobre a possibilidade de seguirmos
aprofundando o tema. Talvez possamos esperar que os textos que Milton
Schwantes deixou em meio do caminho venham a ser publicados. A morte
não leva consigo a lembrança e o pensamento. Quando o pensamento é
bom, vale a pena seguir adiante com ele.
Referências bibliográficas
ALBRIGHT, W. F., From de Stone Age to Christianity, , Anchor Books, 1957.
ANDERSON, B. W. Creation versus Chaos. The Reinterpretaton of the Mytical
Symbolism in the Bible. New York: Association Press, 1967.
BRUEGGEMANN, W. Teología del Antiguo Testamento. Un Juício a Yahvé. Bar-
celona: Ediciones Sígueme, 2007.
______. Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy. Minnea-
polis: Augsburg Fortress, 1997.
CASSUTO, U. The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch
Tradução de I. Abrahams. Jerusalem: Magnes, 1961.
CHILDS, B. Old Testament Theology in a Canonical Context. Philadelphia, For-
tress, 1985.
CROSS, F. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Essays in the History of the Religion
of Israel, Cambridge, Mass & London: Harvard University Press, 1973.
FINKELSTEIN, I., Mazar, A. The Quest for the Historical Israel. Debating Archa-
eology and the History of Early Israel. Brill Leiden, Boston, Society of Biblical
Literature; 2007.
GOTTWALD, N. Las Tribos de Yhaveh, Barranquilla, Seminario Teológico Presbi-
teriano, 1989. Há edição em português.
LEVENSON, J. Creation and the persistence of Evil: The Jewish Drama of Divine
Omnipotence. New Jersey: Princenton Univ. Press, 1994.
______. Creation and the persistence of Evil. San Francisco: Harper and Row 1988.
______. The Hebrew Bible. The Old Testament and Historical Criticism. Louisville,
Westminster/John Knox, 1992.
M. Noth, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch. Stuttgart: Kohlhammer, 1948
(1. ed. 1943) The Deuteronomistic History. Sheffield: JSOLT, Supplement, 1981.
NIELSEN. “The Traditio-Historical Study of the Pentateuch since 1945, with Special
Emphasis on Scandinavia”. In: JEPPESEN, K.; OLZEN, B. (Ed). The Production
of Time. Tradition History in Old Testament Scholarship, Sheffield, 1984, p. 11-28.
Revista Caminhando v. 17, n. 2, p. 79-94, jul./dez. 2012 93
NOBLE, P. R. The Canonical Approach: A Critical Reconstruction of the Herme-
neutics of Breward Childs. Leiden: 1995.
Noth cf The History of Israel’s Traditions. The Heritage of Martin Noth ed. Por Ste-
ven L. McKenzie e M. Patrick Graham Journal for the Study of the Old Testament
Supplement Series 182, Sheffield, 1994.
RAD, G. von. Estudios sobre el antiguo Testamento., Salamanca: Sígueme 1976.
Rendtorf, R. Kanon und Theologie. Neukirchen-Vluyn, 1991.
RENDTORFF, R. Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch. In:
BZAW , vol. 147,Walthe de Gruyter, Berlin, New York, 1977.
______. The Problem of the Transmission in the Pentateuch. Sheffield: JSOT
Suppl. Series 89, , 1990.
REVENTLOW H. G.; HOFFMAN Y. (Ed.). Creation in Jewish and Christian Tradition.
JOST Series 319. Sheffield, 2002.
RICOEUR, P. A memória, a história e o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007.
______. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris : Éditions Du Seuil, 2000.
RUNYON, T. A Nova Criação. A Teologia de João Wesley Hoje. São Bernardo do
Campo: Editeo, 2002.
SCHMID, H. H. “Creation, righteousness, and salvation: ‘Creation Theology’ as
the Broad Horizon of Biblical Theology”. In: ANDERSON, B. W. (Ed), Creation in
the Old Testament, Philadelphia, 1984, p. 102-117.
______. Der sogenannte Jahwist. Zürich, 1976;
SCHNIEDEWIND, W. M. How the Bible Became a Book. The Textualization of An-
cient Israel. University of California, Los Angeles: Cambridge University Press, 2004.
SCHWANTES, M. “Pueblo liberado, tierra rescatada” (2004). Disponível em:
<http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/bibliodatos/html>. Acesso em: 12
out. 2012.
______. Breve história de Israel. São Leopoldo: Oikos Editora, 2008.
______. Das Recht der Armen. Frankfurt: Peter Lang Verlag, 1977.
______. Projetos de esperança. Meditações de Gênesis 1-11. São Paulo: Pau-
linas, 2002.
SETERS, J. van. Abraham in History and Tradition, New Haven, London, 1975;
VON RAD, G. Das Geschichtsbild des chronistischen Werkes (BWANT, 4/3), 1930.
ZENGER, E. “El Significado Fundamental del Primer Testamento. Interpretación
cristiano-judía de la biblia después de Auschwitz”. In: Selecciones de Teología,
vol. 156, p. 252-258 (2000).
94 Rui Josgrilberg: Milton Schwantes: um horizonte teológico, um projeto, uma tarefa
Você também pode gostar
- Estudo de Corintio Augusto NicodemosDocumento10 páginasEstudo de Corintio Augusto Nicodemoscarlos robertoAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre A Hermenêutica Do Antigo TestamentoDocumento11 páginasTrabalho Sobre A Hermenêutica Do Antigo TestamentoCRISAinda não há avaliações
- A Mulher Do Fluxo de SangueDocumento2 páginasA Mulher Do Fluxo de SangueClaudiney Duarte100% (1)
- Curso de Formação em Revisão de Textos Aula 1 PDFDocumento27 páginasCurso de Formação em Revisão de Textos Aula 1 PDFThiago MachadoAinda não há avaliações
- 10 O Poder Do Sangue de JesusDocumento4 páginas10 O Poder Do Sangue de Jesusabmahel0% (1)
- Ebd I Samuel PDFDocumento2 páginasEbd I Samuel PDFOtoniel PinheiroAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho nº16.1-GIPleituraDocumento3 páginasFicha de Trabalho nº16.1-GIPleiturateresaalves794983100% (2)
- Fase Preparatoria - Analise Do Plano de ExpressaoDocumento7 páginasFase Preparatoria - Analise Do Plano de ExpressaoAngélica Da Silva PaesAinda não há avaliações
- 171 184 1 PBDocumento12 páginas171 184 1 PBmarcos.omb2616Ainda não há avaliações
- O Estudo Literário Do Novo Testamento Gêneros Literários No Contexto Do Cristianismo Primitivo PDFDocumento12 páginasO Estudo Literário Do Novo Testamento Gêneros Literários No Contexto Do Cristianismo Primitivo PDFEdson de PaulaAinda não há avaliações
- Frei Gorgulho (Jung Mo Sung)Documento2 páginasFrei Gorgulho (Jung Mo Sung)Clínica De Nutrição ÁgapeAinda não há avaliações
- A Hermenêutica Da Teologia Da Libertação PDFDocumento27 páginasA Hermenêutica Da Teologia Da Libertação PDFRonnie Christian RochaAinda não há avaliações
- Sei 1260.01.0089890 2024 77Documento4 páginasSei 1260.01.0089890 2024 77Katia Etel Cardoso VianaAinda não há avaliações
- Silas Daniel Dos Santos - o Jornal Imprensa EvangelicaDocumento242 páginasSilas Daniel Dos Santos - o Jornal Imprensa EvangelicaOctavio TelesAinda não há avaliações
- Uso Do at No NT Hermeneutica TrechoDocumento13 páginasUso Do at No NT Hermeneutica TrechoServo de CristoAinda não há avaliações
- 8 Bibliografia PDFDocumento18 páginas8 Bibliografia PDFPr. ANTONIO MARCOS APOLOGETICSAinda não há avaliações
- Metodologia Do Antigo TestamentoDocumento4 páginasMetodologia Do Antigo TestamentoFabiano FerreiraAinda não há avaliações
- TEO1Documento89 páginasTEO1Elizane Fonseca LevitaAinda não há avaliações
- Apostila SYSADP Atualizada em 26-11-2015 PDFDocumento25 páginasApostila SYSADP Atualizada em 26-11-2015 PDFraminAinda não há avaliações
- 2771Documento258 páginas2771Wellington Batista100% (1)
- Gerhard HaselDocumento1 páginaGerhard HaselIsael Souza100% (1)
- Livro de C. GeffréDocumento11 páginasLivro de C. GeffréAlexsander Lopes ToledoAinda não há avaliações
- Um Comentário Da Confissão de Fé Batista de 1689, Por Gary Marble - Introdução e Capítulo 1, As Sagradas EscriturasDocumento62 páginasUm Comentário Da Confissão de Fé Batista de 1689, Por Gary Marble - Introdução e Capítulo 1, As Sagradas EscriturasPr. Flávio Costa100% (1)
- Albano, Fernando - Dualismo Corpo-Alma Na Teologia Pentecostal PDFDocumento16 páginasAlbano, Fernando - Dualismo Corpo-Alma Na Teologia Pentecostal PDFjrcjejjAinda não há avaliações
- Capítulo 31 - Fundamentos Do Grego Bíblico - W. D. MounceDocumento11 páginasCapítulo 31 - Fundamentos Do Grego Bíblico - W. D. MounceLuísFernandoRibeiroDeSouzaAlvesAinda não há avaliações
- Orientações para Exegese em Perícope No Evangelho de JoãoDocumento1 páginaOrientações para Exegese em Perícope No Evangelho de JoãoRamon OliveiraAinda não há avaliações
- Metodo Historico-Gramatical PDFDocumento18 páginasMetodo Historico-Gramatical PDFPaulo de Aline0% (1)
- Machado I. Resenha o Mundo Codificado 2007Documento7 páginasMachado I. Resenha o Mundo Codificado 2007EstéfanoPietragallaAinda não há avaliações
- Conversão e Missão de Paulo de TarsoDocumento21 páginasConversão e Missão de Paulo de TarsobrucoutobhzAinda não há avaliações
- Estado, Governo e MercadoDocumento114 páginasEstado, Governo e Mercadonordman100% (9)
- A Corporeidade em 1 Coríntios. o Embate Entre As Culturas Semítica e HelênicaDocumento15 páginasA Corporeidade em 1 Coríntios. o Embate Entre As Culturas Semítica e HelênicaJorge Vicente ValentimAinda não há avaliações
- RESENHA - Introdução A Exegese BiblicaDocumento4 páginasRESENHA - Introdução A Exegese BiblicaWilliam SteigenbergerAinda não há avaliações
- Profetismo PDFDocumento4 páginasProfetismo PDFroneyAinda não há avaliações
- Semana 3b. Temas Teologicos Da Literatura Joanina - EspiritualidadeDocumento4 páginasSemana 3b. Temas Teologicos Da Literatura Joanina - EspiritualidadeFlávio SantosAinda não há avaliações
- PL 7Documento124 páginasPL 7seteceloAinda não há avaliações
- Um Estudo Exergético de Êxodo 31. 17Documento54 páginasUm Estudo Exergético de Êxodo 31. 17Ricardo Gomes50% (2)
- Outro Tipo de Aprendizado - ResumoDocumento22 páginasOutro Tipo de Aprendizado - ResumoAndre Luiz da SilvaAinda não há avaliações
- Geometria Analitica e Algebra Linear Uni PDFDocumento100 páginasGeometria Analitica e Algebra Linear Uni PDFPaulo António100% (1)
- Apostila de HermenêuticaDocumento71 páginasApostila de HermenêuticaJanilsonRJAinda não há avaliações
- Hermenêutica Carlos AzevedoDocumento11 páginasHermenêutica Carlos AzevedoCarlos Henrique Góes de AzevedoAinda não há avaliações
- É Possível Acreditar em Deus Usando A Razão - William Lane CraigDocumento6 páginasÉ Possível Acreditar em Deus Usando A Razão - William Lane CraigHelio CordeiroAinda não há avaliações
- Cinco Crencas Cosmovisao - Nash PDFDocumento3 páginasCinco Crencas Cosmovisao - Nash PDFShoppingdabliblia AcademicosAinda não há avaliações
- 2 Perfil Do Conselheiro CristãoDocumento14 páginas2 Perfil Do Conselheiro CristãoRute Crispim OliveiraAinda não há avaliações
- Gêneros Literários Do Novo Testamento STJEDocumento86 páginasGêneros Literários Do Novo Testamento STJEchannel.nobreak100% (2)
- Faculdades MontenegroDocumento32 páginasFaculdades MontenegroEdkleyton Leão100% (1)
- My Arquivo PDF - Livro-Texto-ULBRA PDFDocumento128 páginasMy Arquivo PDF - Livro-Texto-ULBRA PDFArieh Ibn GabaiAinda não há avaliações
- Catalogo Cebi CompletoDocumento38 páginasCatalogo Cebi CompletoviniciusrfbAinda não há avaliações
- Resumo Biblia de Estudo Da Reforma Varios AutoresDocumento2 páginasResumo Biblia de Estudo Da Reforma Varios Autoreswilliamtsutsui.sAinda não há avaliações
- Modelo de Projeto de PesquisaDocumento21 páginasModelo de Projeto de PesquisaFAAMA - Coordenação SALTAinda não há avaliações
- Limnologia - Impacto Ambiental de Represas ArtificiaisDocumento22 páginasLimnologia - Impacto Ambiental de Represas ArtificiaisRoger landin0% (1)
- Teologia Do A T XXX FazerDocumento267 páginasTeologia Do A T XXX FazerDaniel MartinsAinda não há avaliações
- 15 - Arqueologia BiblicaDocumento45 páginas15 - Arqueologia Biblicafrancisco santos100% (1)
- Método TeologicoDocumento22 páginasMétodo TeologicoLucas Martins100% (1)
- Loucura Dos Últimos DiasDocumento30 páginasLoucura Dos Últimos DiasKissyan CastroAinda não há avaliações
- Moisés Silva - Abordagens Contemporâneas Na Interpretação BíDocumento17 páginasMoisés Silva - Abordagens Contemporâneas Na Interpretação BíLucas Evangelista Jr.Ainda não há avaliações
- PPC Pedagogia Da Terra Versao Final PDFDocumento165 páginasPPC Pedagogia Da Terra Versao Final PDFFernandaAinda não há avaliações
- A Bíblia Como LiteraturaDocumento10 páginasA Bíblia Como LiteraturaInácio JoséAinda não há avaliações
- Teologia Do ProcessoDocumento20 páginasTeologia Do ProcessoPlabyo GeanineAinda não há avaliações
- MPE - Crítica Textual PDFDocumento8 páginasMPE - Crítica Textual PDFWesley Porfírio NobreAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Tópicos Interdisciplinares em TeologiaDocumento3 páginasPlano de Ensino Tópicos Interdisciplinares em TeologiaKevin ViniciusAinda não há avaliações
- Ética Situacional Joseph Fletcher e Um Novo Conjunto de Valores para o Homem ModernoDocumento3 páginasÉtica Situacional Joseph Fletcher e Um Novo Conjunto de Valores para o Homem Modernocicero_csAinda não há avaliações
- Augustus Nicodemus Lopes Fundamentalismo e Fundamentalistas PDFDocumento21 páginasAugustus Nicodemus Lopes Fundamentalismo e Fundamentalistas PDFAnderson GóesAinda não há avaliações
- Jesus de Nazare e Suas Milicias A OralidDocumento19 páginasJesus de Nazare e Suas Milicias A Oralidedssonleite-1Ainda não há avaliações
- POP 17 - 2016 - Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial Versão FinalDocumento33 páginasPOP 17 - 2016 - Fisioterapia Pulmonar Ambulatorial Versão Finalcarlos roberto100% (1)
- 150 Perguntas Sobre A Bíblia PDFDocumento16 páginas150 Perguntas Sobre A Bíblia PDFcarlos robertoAinda não há avaliações
- 2 Referencial TeóricoDocumento42 páginas2 Referencial Teóricocarlos robertoAinda não há avaliações
- Manual Montagem Novos Serviços BOBDocumento11 páginasManual Montagem Novos Serviços BOBcarlos roberto100% (1)
- História Da Educação CristãDocumento17 páginasHistória Da Educação Cristãcarlos robertoAinda não há avaliações
- Glauco Martins Da Silva - A Cura Do Rei EzequiasDocumento4 páginasGlauco Martins Da Silva - A Cura Do Rei Ezequiascarlos robertoAinda não há avaliações
- Etica Do Antigo TestamentoDocumento6 páginasEtica Do Antigo Testamentocarlos robertoAinda não há avaliações
- Augustus Nicodemus - Relativismo Certeza e Agnosticismo em TeologiaDocumento4 páginasAugustus Nicodemus - Relativismo Certeza e Agnosticismo em Teologiacarlos robertoAinda não há avaliações
- Casanova - Stefan Zweig PDFDocumento53 páginasCasanova - Stefan Zweig PDFAlfa MaxAinda não há avaliações
- Diálogos Junguianos Vol 3-1Documento207 páginasDiálogos Junguianos Vol 3-1rzaia100% (2)
- Paidéia Negra (Eko Orisa) Ivan Da Silva Poli (Osunfemi Elebuibon)Documento196 páginasPaidéia Negra (Eko Orisa) Ivan Da Silva Poli (Osunfemi Elebuibon)Evaldo Gonçalves Silva100% (2)
- Comemos, Ó Senhor - M. Borda PDFDocumento1 páginaComemos, Ó Senhor - M. Borda PDFsbictus7614Ainda não há avaliações
- RomantismoDocumento11 páginasRomantismoTania DuarteAinda não há avaliações
- TRABALHO DE LITERATURA ALJOFREIIpdfDocumento11 páginasTRABALHO DE LITERATURA ALJOFREIIpdfpaulo M. JulioAinda não há avaliações
- Autobiografia de José SaramagoDocumento4 páginasAutobiografia de José SaramagoEspanholesAinda não há avaliações
- Apresentação - Projeto Respeito Às DiferençasDocumento10 páginasApresentação - Projeto Respeito Às DiferençasDébora DanieleAinda não há avaliações
- A Importância Da Mulher Na CriaçãoDocumento5 páginasA Importância Da Mulher Na CriaçãoCesar AraujoAinda não há avaliações
- Ó Áridas MessalinasDocumento4 páginasÓ Áridas Messalinasluisao99grAinda não há avaliações
- Teoria Da AcomodaçãoDocumento4 páginasTeoria Da AcomodaçãoMarceloOlegarioIgnez100% (1)
- EDUCACAO LITERARIA Parte1Documento38 páginasEDUCACAO LITERARIA Parte1JohnnyAinda não há avaliações
- Gabarito TC Português 3º Bimestre - 1º AnoDocumento4 páginasGabarito TC Português 3º Bimestre - 1º AnocamsinhaAinda não há avaliações
- Faces e Interfaces Do Verbal - Maria Zilda Cunha e Maria Auxiliadora BaseioDocumento183 páginasFaces e Interfaces Do Verbal - Maria Zilda Cunha e Maria Auxiliadora BaseioRodriguesRPAinda não há avaliações
- Divórcio e Novo CasamentoDocumento24 páginasDivórcio e Novo CasamentoFabiopres SilvaAinda não há avaliações
- Memorial - Cenário de AprendizagemDocumento3 páginasMemorial - Cenário de AprendizagemDiogo CamposAinda não há avaliações
- Maias PDFDocumento16 páginasMaias PDFMárcia FernandesAinda não há avaliações
- Manual de Normas UNIPAR 2019Documento88 páginasManual de Normas UNIPAR 2019Dezirèè BreganoAinda não há avaliações
- Analise Despedidas em BelemDocumento3 páginasAnalise Despedidas em BelemJosé RodriguesAinda não há avaliações
- Um Carater RefinadoDocumento2 páginasUm Carater RefinadoJaime FrancinoAinda não há avaliações
- 26 - Português - 12.º - Ano - O Conto "George", Maria Judite de CarvalhoDocumento2 páginas26 - Português - 12.º - Ano - O Conto "George", Maria Judite de CarvalhoAfonso FernandesAinda não há avaliações
- Atividade Genero TextualDocumento4 páginasAtividade Genero Textualdennisegonzaga9793Ainda não há avaliações
- 10Documento24 páginas10Sololectura KCAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 3º ANO OficialDocumento3 páginasAVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 3º ANO OficialDaiana AlmeidaAinda não há avaliações
- Jonathan Swift em Seu Texto 'A Modesta Proposta'Documento6 páginasJonathan Swift em Seu Texto 'A Modesta Proposta'Nuno J. LoureiroAinda não há avaliações