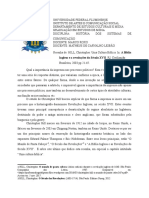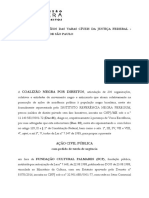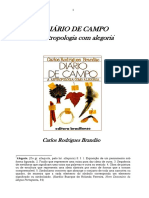Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Natureza, Trabalho e Tecnociencia PDF
Natureza, Trabalho e Tecnociencia PDF
Enviado por
Ivson Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações16 páginasTítulo original
natureza, trabalho e tecnociencia.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações16 páginasNatureza, Trabalho e Tecnociencia PDF
Natureza, Trabalho e Tecnociencia PDF
Enviado por
Ivson SilvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 16
Natureza, trabalho e tecnociência
Maíra Baumgarten
1. Natureza, trabalho e conhecimento são conceitos essenciais para
pensar o ser humano. Como ser vivente o homem integra a natureza
possuindo com ela uma relação de parte com o todo. Ser humano é fazer
parte da natureza. Por outro lado, o homem, como ser vivo consciente de si
e de seu entorno, como ser social exerce sobre a natureza uma ação
deliberada visando satisfazer suas necessidades. Nessa ação (o ser humano)
emprega suas qualidades naturais (força vital) opondo-se à matéria da
natureza, modificando-a. Poder-se-ia, assim, definir o trabalho humano
como a ação do homem (parte) sobre a natureza (todo), que tem como
pressuposto a consciência (conhecimento). Todo trabalho é ação consciente,
parte de um objetivo - satisfação de carências - e evolui de acordo com um
plano.
A história das carências humanas e das trocas que as mesmas
originam entre o homem e seu meio natural e social é o eixo em torno do
qual gira o processo de conhecimento humano, cuja expressão atual vem
sendo denominada tecnociência.
Nessa perspectiva, as relações entre natureza, sociedade, ciência e
técnica são permanentemente construídas. No desenvolvimento histórico -
processo geral de naturalização/humanização (hibridação) - forças
simultaneamente naturais e sociais conformam o conhecimento do humano,
que é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto na busca pela compreensão da
natureza e da sociedade as quais integra.
2
2. A ciência e sua história encontram-se profundamente imbricadas com
a perspectiva humana sobre a natureza e com as formas assumidas pelas
relações entre os homens e desses com a natureza na produção de sua vida.
Uma nova relação com a natureza acompanha o declínio das
sociedades tradicionais predominantemente agrárias e a estruturação de um
modo de produção social cuja base é constituída pelo comércio e pela
indústria. A natureza deixa de ser reconhecida como uma potência por si,
como ordem de todas as coisas, passando a ser percebida como algo
exterior ao humano, algo que deve (e pode) ser submetido e utilizado seja
como objeto de consumo, seja como meio de produção.
O princípio de Vico (1988) pelo qual ...só conhecemos as razões
daquilo que podemos construir com as mãos ou com o intelecto... orienta a
ciência baconiana. que percebe a natureza como uma selva, um labirinto
para o qual o método fornece o fio de Ariadne, necessário para o
desvelamento de seus segredos e, com isso, a apropriação de suas
virtualidades de poder.
O critério de verdade que se impõe, então, é o da efetividade e
eficiência. Conhecer como fazer é o que importa, estabelecendo-se a
identidade entre conhecer e construir ou reconstruir. As causas últimas da
natureza são reservadas ao artífice do mundo (Deus) e, portanto, realidade
não cognoscível. Conhecer a natureza, nesse contexto, significa perceber
como funciona a máquina do mundo. Os engenhos e as máquinas
construídas pelos homens constituem modelos para a compreensão da
natureza.
A partir da revolução industrial, os modos de apreensão e
conhecimento dos fenômenos naturais e sociais que se estruturam
3
conjuntamente com as novas formas materiais de produção da vida
assumem uma perspectiva de futuro articulada à idéia de progresso visto,
este, como processo dinâmico, contínuo e irreversível de mudança
tecnológica. A premissa aqui envolvida é a de uma base técnica em
mutação evolutiva. Toda perspectiva de futuro nos séculos XIX e XX tem
por base os avanços científicos e tecnológicos (Marinho & Quirino, 1995).
A racionalidade instrumental que orienta o chamado paradigma da
ciência moderna articula-se à racionalidade utilitária característica da
cultura industrial ocidental. Em linhas gerais a ciência moderna tem sido
definida como um instrumento na busca do conhecimento, visando à
dominação e ao controle da natureza e, eventualmente, à planificação da
sociedade. O paradigma da ciência moderna apresenta-se, em geral, como
prática neutra (não social) e estabelece uma cisão e um distanciamento
radicais com seu objeto - a natureza - visto como exterior, inanimado e
passivo.
Como sistema universal de exploração das propriedades naturais e
humanas a civilização capitalista industrial aciona um processo de
dessacralização da natureza na forma de desencantamento do mundo. O
capital cria, sob as formas ainda religiosas do fetichismo, as pré-condições
de uma secularização da existência humana liberada de seus pesadelos
místicos. A partir desse impulso passa-se diretamente da desmistificação da
natureza à sua "apropriação universal”. A natureza por muito tempo
suportada como um poder tirânico passa a ser vista como um mero objeto
para o homem, como algo útil (Bensaïd, 1999).
Esse modelo de racionalidade científica construiu-se em oposição a
outros modelos de conhecimento concorrentes, consolidando-se pela
4
identidade com as formas materiais de produção características da
sociedade capitalista sendo, ele próprio, instrumento de legitimação e força
produtiva fundamental do capitalismo.
A constituição da natureza como objeto (separado e estranho ao
sujeito) está na base da revolução tecnológica que se respalda em uma razão
instrumental cujo objetivo é a manipulação dos fenômenos naturais. A
tecnologia, resultado desse processo, gradativamente se autonomiza da
sociedade como esfera autodiretiva. A ambigüidade tecnológica
contemporânea em que técnica e ciência são vistas, ao mesmo tempo, como
perigo e como elemento de salvação da humanidade, decorre,
fundamentalmente, dessas características históricas de seu desenvolvimento
(Moraes, 1997).
A crescente inter-relação, no século XX, entre ciência, tecnologia e
produção de bens e serviços, transforma o modo de produção do
conhecimento que, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial,
passa a ser objeto de planejamento e de políticas governamentais. Na era da
big science, atividades de pesquisa cada vez mais complexas e dispendiosas
exigem sofisticados aparatos instrumentais e institucionais, ocupando lugar
destacado no próprio centro do sistema produtivo.
Ciência e tecnologia que, em estreita vinculação, já desempenhavam
papel estratégico como força produtiva, dão lugar à tecnociência que é,
conforme Echeverría (2003), um sistema de ações eficientes, baseadas em
conhecimento científico. Essas ações se orientam tanto para a natureza
quanto para a sociedade, visando transformar o mundo, para além de
descrever, predizer, explicar, compreender. A tecnociência implica a
empresarialização da atividade científica e, sendo um fator relevante de
5
inovação e de desenvolvimento econômico, passa a ser também um poder
dominante na sociedade, tendendo, sua prática, ao segredo e à privatização.
Objeto de apropriação privada, a técnica incorpora a ciência,
convertendo-se em tecnociência (Oliveira, 2003; Baumgarten, 2005) que se
transmuta em mercadoria de alto valor, progressivamente inserida no
cotidiano das sociedades, em sua estrutura de poder e em suas matrizes
simbólicas e culturais (Albagli, 1999).
3. A hegemonia desse paradigma da ciência (até o final da década de
70) não impediu o surgimento e a coexistência de perspectivas alternativas
à racionalidade instrumental (em termos de método e de visão de mundo).
Um exemplo de alternativa teórica ao paradigma clássico é a obra
resultante da crítica efetuada por Marx e Engels à Economia Política e à
concepção mecanicista da natureza transposta para a análise da sociedade
(Marx, 1962, 1974; Engels, 1968; Marx & Engels, 1968). Encontram-se ali
os alicerces de uma tradição de conhecimento que, ao reintegrar sociedade e
natureza, fundamenta boa parte do debate contemporâneo sobre as relações
entre natureza e sociedade, mediadas pelo conhecimento.
Tributário de seu tempo, Marx assume a idéia de futuro na qual o
progresso técnico é potencialmente instrumento de emancipação social,
entretanto sua visão de progresso não é determinista e unívoca como o
demonstram as noções de desenvolvimento desigual (entre esferas
diferentes da vida social) e de história como um devir incerto, condicionado
tanto pela luta quanto pela necessidade, encontradas em seus escritos. Nessa
perspectiva, a correspondência entre infra e super-estrutura não significa
adequação, apenas delimita um feixe de possibilidades
6
Em sua obra a organização conceitual do tempo como relação social
que contempla ciclos e rotações, ritmos e crises, tempos e contra-tempos
estratégicos, aponta para a idéia que não há um liame, uma identidade
demonstrável entre a análise do conflito social e a compreensão do devir
histórico. A noção abstrata de progresso é posta em xeque pela idéia de
necessidade histórica como lei tendencial (Bensaïd, 1999).
Ao empreender a crítica do capital Marx revoluciona a perspectiva
científica reducionista e positivista de sua época. Retomando de Spinosa o
conceito de natureza e de homem como ser natural concreto e corrigindo
Spinosa com Hegel e reciprocamente, Marx faz do trabalho a relação com a
natureza pela qual ...o homem contempla a si mesmo num mundo de sua
criação... De acordo com Bensaïd (1999, p. 295), ao contrário do
naturalismo inconseqüente que subordina as ciências humanas a uma meta
ciência natural, a estratégia cognitiva encontrada em Marx é fazer da
natureza socializada o verdadeiro objeto do conhecimento. Tal estratégia,
já se encontra esboçada nos Manuscritos de 44, em que se encontra
assinalado o caminho de um desenvolvimento recíproco das diferentes
ciências, no qual as ciências da natureza compreendem a ciência do homem
que as engloba.
Influenciado pela tradição alemã que vê a natureza como um grande
processo de transformação e de troca, Marx afirma que o nó estratégico do
ser social é a troca orgânica entre o homem e a natureza, mediada pelo
fogo vivo do trabalho. O trabalho é a mediação natural externa necessária
entre homem e natureza. Para o autor, a dominação e a apropriação da
natureza (fonte primária de todos os meios e materiais de trabalho)
permitem à Economia Política ver o trabalho humano (ele próprio expressão
7
de uma força natural - vital) como fonte de valores de uso e, portanto, de
riqueza. É importante ressaltar que o trabalho, como criador de valores de
uso, é condição de existência do homem, independente das formas sociais
de reprodução (Bensaïd, 1999, pp 447 - 450).
A perspectiva marxiana enseja a análise crítica do paradigma da
ciência moderna em sua intrínseca relação com a ordem capitalista,
possibilitando vislumbrar a pluralidade de desenvolvimentos possíveis que
a presente crise socio-econômica e paradigmática oferece.
As últimas décadas do século XX caracterizaram-se por mudanças
significativas nas formas de produção e acumulação capitalista. A resposta
à crise sistêmica dos anos 70 ocorreu basicamente em duas frentes: a) a
expansão do sistema; e b) a produção de bens de tipo radicalmente novo
(Jameson, 1999, p. 187).
A primeira frente diz respeito à chamada globalização, que pode ser
traduzida por financeirização acelerada e crescente da economia mundial. A
globalização opera de forma desigual para os diferentes atores: o capital
move-se livremente em busca de espaços de valorização, pressionando pela
abertura das fronteiras nacionais e pela desregulamentação do trabalho. Os
trabalhadores, entretanto, são limitados às fronteiras nacionais. A expansão
das esferas financeira e técnico-produtiva se faz acompanhar pela
aceleração dos processos de deslocalização e segmentação econômica e
social. O Estado, por sua vez, assume nova forma e outros papéis. Sua
intervenção se dá no sentido de baixar os custos de produção (legislação
trabalhista modificada), garantir a estabilidade da moeda (câmbio), a
institucionalização dos ajustes macroeconômicos necessários à livre
expansão do capital e impulsionar a revolução tecno-científica e gerencial,
8
cujos objetivos indissociáveis são: mudar o perfil da composição do mundo
do trabalho e aumentar a produtividade do trabalho (Vilas, 1999; Roio,
1999).
A segunda estratégia de resposta à crise - a produção de tipos
radicalmente novos de bens - apoia-se no recurso a inovações e
"revoluções" na tecnologia (Jameson, 1999, p. 188). Uma maior intensidade
no uso de informação e de conhecimento nos processos de produção, de
comercialização e consumo de bens e serviços, assim como na cooperação e
competição entre agentes e na circulação e valorização do capital leva a
novas práticas nesses processos. As tecnologias de informação e de
comunicação têm sido vistas como centrais na nova dinâmica técnico-
econômica. Novos saberes e competências, aparatos e instrumentos
tecnológicos, produzem tipos novos de bens, viabilizando a abertura de
espaços de atuação e mercados, encolhendo o globo e reorganizando o
capitalismo em uma escala diferente e ampliada (Lastres & Albagli, 1999).
Na sociedade contemporânea, mudanças profundas podem ser
identificadas na forma e no conteúdo do trabalho, que assume um caráter
crescentemente "informacional". Essas modificações provocam impactos
significativos no perfil do emprego, nas relações entre trabalho morto e
trabalho vivo, entre trabalho manual e intelectual e na agregação de valor e
valorização do capital (Lastres & Albagli, 1999, p. 9).
Controvérsias teóricas importantes têm se estabelecido em torno dos
nexos entre as temáticas da informação/conhecimento, da globalização e do
trabalho. O debate sobre a centralidade do trabalho como categoria para
pensar a sociedade é um exemplo: de um lado situam-se aqueles que
afirmam que o trabalho teria deixado de constituir-se em recurso produtivo
9
fundamental, apresentando a tendência a ser deslocado ou eliminado em
decorrência da automação crescente e das atuais características assumidas
pela sociedade capitalista em que o paradigma da comunicação estaria
substituindo o paradigma do trabalho (Offe, 1989 a, b ; Habermas, 1997).
De outro lado, na contracorrente dessas teses estão aqueles que
argumentam que o trabalho (vivo) investe-se de uma centralidade
ascendente na dinâmica e nas estratégias de acumulação contemporâneas ao
passarem a informação e o conhecimento a atuar como força produtiva
determinante. Apontam, também, uma diferente proporção na utilização da
matéria, com maior intensidade no uso da informação no processo
produtivo. As mudanças nas relações espaço-temporal e a desmaterialização
crescente do trabalho na produção high-tech são vista como elementos
centrais na relação e na hierarquia entre trabalho manual e intelectual, bem
como na tendência à diluição ou velamento de fronteiras entre trabalho e
lazer, produção e circulação, comunicação e consumo (Lastres e Albagli,
1999; Dantas, 1999; Marques, 1999; Cocco, 1999).
4. A financeirização da economia, o fortalecimento dos mercados,
frente aos estados, como instâncias reguladoras e a utilização intensiva de
conhecimento e informação alteram radicalmente as condições de existência
de parcelas significativas de populações tanto nos centros capitalistas do
Norte, quanto nos países periféricos do Sul.
Pode-se afirmar que deparamo-nos, atualmente, com uma
globalização planetária do processo racional de “perseguição de lucro
máximo” que integra a civilização capitalista.
10
A racionalidade instrumental característica do capitalismo traz em si
duas tendências: a) a do desencaixe entre sociedade, política e economia,
onde a economia de mercado é um sistema auto-regulado, não encaixado na
sociedade, escapando aos controles sociais, morais e políticos; e b) a
quantificação crescente, ou seja, o predomínio do espírito de cálculo
racional, com a monetarização das relações sociais (Löwy, 1999, pp.91-92).
A concepção de mundo hegemônica da sociedade contemporânea
resulta do enfrentamento entre valores em um campo de conflitos no qual
aqueles critérios ligados à dignidade humana e à preservação da natureza
vêm sendo rejeitados, vistos como freios ao progresso, dada a sua
incompatibilidade com a busca do lucro máximo.
As conseqüências de uma visão de futuro alicerçada no credo
produtivista e na racionalidade instrumental, característica do paradigma
científico e tecnológico da civilização industrial moderna, se fazem sentir
tanto na cultura e nas relações sociais, quanto nos efeitos causados nas
condições de manutenção da vida do próprio planeta. Dentre os perigos que
ameaçam o planeta em decorrência do atual modo de produção e de
consumo pode-se citar: o crescimento exponencial da poluição do ar, do
solo, da água, a eliminação maciça de espécies vivas, a acumulação de
dejetos nucleares incontroláveis.
A crise da ciência - que se expressa tanto pelo questionamento de
suas aplicações como pela crítica de seus pressupostos, objeto e métodos -
encontra-se relacionada à percepção dos limites e, mesmo, dos riscos de um
conhecimento gestado para a dominação, controle (da natureza) e
domesticação (da sociedade).
11
Como empreendimento coletivo, as ciências as técnicas e suas
instituições, seguem a racionalidade que circula no conjunto das relações
humanas. Os fatos científicos e os objetos técnicos são, em verdade,
concretização de redes de relações que ligam seres humanos e coisas
(naturais ou artificiais) e, como tal, também são humanos e incluem
interesses políticos, econômicos e valores sociais e morais (Araújo, 1998, p.
13). A tecnociência - pressuposto e resultado da estruturação social e
econômica contemporânea - deve ser objeto de permanente discussão e
avaliação dada a sua influência na vida cotidiana e nas estratégias em escala
mundial.
Alguns exemplos da problemática relativa a tecnociência, sua lógica
e seus usos são: a definição de agendas de pesquisa a partir de interesses de
criação de novos mercados, os perigos envolvidos nas manipulações
genéticas atuais que podem ocasionar dramáticas conseqüências para a
biodiversidade. A apropriação privada de organismos vivos que pode
resultar no controle do mercado mundial de exportações agrícolas. A
capacidade potencial de clonagem de seres humanos, que desperta
infindáveis debates sobre ética e viabiliza assustadoras possibilidades
apontadas pela literatura e pelo cinema.
Há inúmeros exemplos de antecipações ficcionais em torno dos temas
aqui tratados, dentre eles pode-se citar: O admirável mundo novo de Aldous
Huxley (1974), 1984 de George Orwel (1973); e, mais recentemente, os
filmes Blade Runner, de Ridley Scott (1981), Matrix, dos Wachowski
Brothers (1999); e Gattaca, a experiência genética, de Andrew Niccol
(1997).
12
Enfim, coletivizar o saber científico e tecnológico contemporâneo é
uma necessidade concreta, sob pena de realizarem-se, no futuro, riscos
sociais envolvidos em tecnologias de uso cotidiano em nossa sociedade.
Esboçadas no horizonte de um futuro próximo podem ser antevistas
possibilidades de totalitarismo associadas à globalização midiatiática (que
escapa ao controle democrático) e às novas técnicas de teleação e
teledetecção, que eliminam as distâncias físicas, anulam os tempos locais
(Araújo, 1999; Virilio, 1999) e que possibilitam um maior controle social.
5. Uma crítica conseqüente das atuais relações entre os seres humanos,
seu ambiente (natural e artificial) e o saber que se constrói nessas relações e
que, reciprocamente, as informa passa pela crítica às formas fetichizadas de
produção da vida através das quais natureza e sociedade transmutaram-se
em mercadorias. Não há possibilidade de um desenvolvimento econômico e
social sustentado que repouse sobre uma base de exploração depredadora do
ambiente e dos seres que o constituem, bem como, no sistemático
desperdício de recursos e desrespeito pela natureza tanto humana quanto
não humana.
Alguns dos argumentos que vem sendo utilizados nessa crítica são:
1) a extensão ao conjunto do planeta do modo de produção e de consumo
atual dos países de capitalismo avançado ocasionaria danos ecológicos
insustentáveis ao planeta (lógica da acumulação ilimitada, de
desperdício de recursos, consumo ostensivo, destruição acelerada do
ambiente). A globalização é, portanto, necessariamente fundada na
manutenção e no agravamento da desigualdade cada vez maior entre o
Norte e o Sul;
13
2) a continuação do “progresso” capitalista e da expansão da civilização
baseada na economia de mercado, ameaça a curto ou médio prazo a
própria sobrevivência da espécie humana. Sendo assim, a salvaguarda do
meio natural é um imperativo da dignidade humana;
3) As diferenças entre os ciclos naturais que são de uma temporalidade
longa (macrorracionalidade social ecológica); e os ciclos curtos,
baseados na micro-racionalidade do lucro, tornam problemáticos o
planejamento a a atuação com base no cálculo de perdas e lucros do
mercado. Faz-se necessária uma reorientação tecnológica que considere
os ciclos naturais, bem como a substituição das fontes atuais de energia
por novas fontes, não poluentes e renováveis;
4) é premente uma reorganização do conjunto do modo de produção e de
consumo, baseada em critérios exteriores ao mercado capitalista
(necessidades reais da população e salvaguardas ao ambiente); frente ao
fetichismo da mercadoria e à autonomização reificada da economia pelo
neoliberalismo, o grande desafio é a aplicação uma política econômica
baseada em critérios não monetários e extra-econômicos que possibilite
uma outra vinculação do econômico ao meio natural e social (Löwy,
1999; Bensaïd, 1999; Wood & Foster, 1999).
Natureza, trabalho e conhecimento são conceitos centrais para, a
partir do feixe de possíveis que a realidade atual nos apresenta, pensar uma
utopia que supere as conquistas da modernidade e incorpore o domínio
coletivo e consciente das ciências, das técnicas, das escolhas de produção,
de distribuição e de consumo de bens materiais e não materiais.
Uma nova e equilibrada relação entre o ser humano e o mundo
natural é o pressuposto dessa utopia, que contrapõe ao progresso sem
14
sujeito de um mundo mercadorizado, o progresso humano, no qual
produção e distribuição de valores de uso sejam tomadas pelo que
realmente são: produto social da interação entre seres humanos e a natureza
da qual fazem parte e que, como tal, necessitam preservar. Nesse futuro o
conhecimento será consciência coletiva.
Referências
ALBAGLI, SARITA. Novos espaços de regulação na era da informação e
do conhecimento IN: LASTRES, H. & ALBAGLI, S. (orgs.).
Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de Janeiro:
ed. Campus, 1999.
ARAÚJO, HERMETES (org). Tecnociência e cultura (Apresentação).
São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
BAUMGARTEN, M. (org.) Conhecimentos e redes: sociedade, política e
inovação. Porto Alegre, Editora UFRGS, 2005.
BENSAÏD, DANIEL. Marx, o intempestivo – grandezas e misérias de
uma aventura crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999
(edição original, 1997).
CARVALHO, Edgard de Assis. Tecnociência e complexidade da vida. In:
São Paulo em Perspectiva, São Paulo, Fundação SEADE, v. 14, n. 3,
jul./set., p. 68-77, 2000.
COCCO, G. A nova qualidade do trabalho na era da informação. In
LASTRES, H. & ALBAGLI, S. (orgs.). Informação e globalização na
era do conhecimento. Rio de Janeiro: ed. Campus, 1999.
DANTAS, M. Capitalismo na era das redes: trabalho, informação e valor no
ciclo da comunicação produtiva. In: LASTRES, H. & ALBAGLI, S.
(orgs.). Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de
Janeiro: ed. Campus, 1999.
ECHEVERRÍA, J. Introdução à Metodologia da Ciência. Coimbra:
Almedina, 2003.
ENGELS, F. La Dialectique de la nature, Paris: Éditions sociales, 1968.
FERNANDES, A. M. O paradigma clássico versus o surgimento de um
novo paradigma da ciência e da tecnologia e suas relações com o
homem, a natureza, sua história e a cultura. IN: Natureza, história e
15
cultura: repensando o social. Porto Alegre: Editora da
Universidade/UFRGS e Sociedade Brasileira de Sociologia, 1993
HABERMAS, J. Técnica e ciência como ideologia. São Paulo: Ed. Abril,
1975. (Coleção Os Pensadores, Vol. XLVIII)
________. Uma conversa sobre questões da teoria política. In: Novos
Estudos CEBRAP, nº 47, São Paulo: Ed. Brasileira de Ciências Ltda,
1997.
HUXLEY, A. Admirável Mundo Novo. 1ª ed. São Paulo: Abril.1974,
312p.
JAMESON, F. cinco teses sobre o marxismo atualmente existente, IN
WOOD & FOSTER Em defesa da história: marxismo e pós-
modernismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
LASTRES, H. & ALBAGLI, S. (orgs). Informação e globalização na era
do conhecimento. Rio de Janeiro: ed. Campus, 1999.
LEITE, Marcelo. Biotecnologias, clones e quimeras sob controle social:
missão urgente para a divulgação científica. In: São Paulo em
Perspectiva, São Paulo, Fundação SEADE, v. 14, n. 3, jul./set. 2000, p.
40-46.
LÖWY, MICHAEL. De Marx ao Ecossocialismo In: SADER & GENTILI
(orgs.). Pós-NeoliberalismoII – que Estado para que democracia?
Petrópolis: Editora Vozes, 1999.
MARINHO, D. & QUIRINO, T. Considerações sobre o estudo do futuro In
Sociedade e Estado, v. x, n.1, p. 13-48, jan./jul., Brasília, 1995
MARQUES, I. Desmaterialização do trabalho. In: LASTRES, H. &
ALBAGLI, S. (orgs.). Informação e globalização na era do
conhecimento. Rio de Janeiro: ed. Campus, 1999.
MARX, K. & ENGELS, F. La ideologia alemana. Montevideo: Ed.
Pueblos Unidos, 1968.
MARX, K. El Capital, vols I, II e III. México: Fondo de Cultura
Economica, 1974 (ed. original: 1867 – I, 1885 – II, 1894 – III)
____. Manuscritsde 1844, Paris: Éditions sociales, 1962.
MENDELSOHN, Everett. História e ciência e estudos em política
científica. Anais Do Seminário Internacional De Estudos Sobre Política
Científica, p.1-36. Rio de Janeiro: CNPq, 1978.
NICCOL, A. (Dir.). Gattaca: a experiência genética. Sony, EUA, 112
min. Ficção Científica, 1997.
OFFE, CLAUS. Trabalho: categoria chave da sociologia. In: Revista
Brasileira de Ciências Sociais, n. 10, v. 4 junho, p. 5-20. São Paulo,
1989.
16
OLIVEIRA, M.B. Desmercantilizar a tecnociência. In SANTOS, B.
Conhecimento prudente para uma vida decente. Porto, Ed.
Afrontamento, 2003
ORWEL, George. 1984. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973.
MORAES, A. C. Meio ambiente e ciências humanas. São Paulo: Hucitec,
1997 (segunda edição).
ROIO, MARCOS DEL. O Estado da globalização. In Estudos de
Sociologia, ano 3, n. 6, primeiro semestre, p. 143-148. Araraquara,
1999.
ROSSI, P. A Ciência e a filosofia dos modernos. São Paulo: Ed. UNESP,
1992.
SHIVA, V. The second coming of Columbus. In: Resurgence, n. 182,
may./june 1997, p. 12-14.
SANTOS, B. Introdução a uma Ciência Pós-moderna. Rio de Janeiro:
Graal, 1989.
SANTOS, B. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da
experiência. São Paulo: Cortez, 2000.
SCOTT, R. (Dir.). Blade Runner. Warner Bros., EUA, 117 min. Ficção
Científica, 1981.
VICO, G., [1710] On the Most Ancient Wisdom of the Italians, Ithaca,
1988.
VILAS, C. Seis idéias falsas sobre a globalização. In: Estudos de
Sociologia, ano 3, n. 6, primeiro semestre, p. 21-62. Araraquara, 1999.
VIRILIO, P. Entrevista com Paul Virílio. In: ARAÚJO, H. (org).
Tecnociência e cultura. São Paulo: Estação Liberdade, 1998.
WACHOWSKI, Andy; WACHOWSKI, Larry (Dirs.). Matrix. Warner
Bros., EUA, 136 Minutos. Ficção Científica, 1999.
WOOD, ELLEN & FOSTER, JOHN Em defesa da história: marxismo e
pós-modernismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
Você também pode gostar
- A União Europeia. O Direito e A Atividade. Margarida Salema D'Oliveira Martins PDFDocumento4 páginasA União Europeia. O Direito e A Atividade. Margarida Salema D'Oliveira Martins PDFGiovanna DamascenoAinda não há avaliações
- NEDER, Gizlene. Coimbra e Os Juristas Brasileiros.Documento20 páginasNEDER, Gizlene. Coimbra e Os Juristas Brasileiros.JoicinhaaaAinda não há avaliações
- Os Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaNo EverandOs Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaAinda não há avaliações
- Uma Cultura Bíblica - ResenhaDocumento3 páginasUma Cultura Bíblica - ResenhaMatheus de CarvalhoAinda não há avaliações
- Subjetividades Antigas e ModernasDocumento253 páginasSubjetividades Antigas e ModernasAi LaZz100% (1)
- Alteração Abertura de FilialDocumento1 páginaAlteração Abertura de FilialArthur Medeiros0% (2)
- Coalizão Negra Por Direitos - ACP Fundação Palmares - ManutençãoAcervoDocumento36 páginasCoalizão Negra Por Direitos - ACP Fundação Palmares - ManutençãoAcervoMetropolesAinda não há avaliações
- O Espectro de Lukács. Política, Estética e Estranhamento Na Era Da Barbárie Social (Giovanni Alves, Ariovaldo Santos Etc.)Documento238 páginasO Espectro de Lukács. Política, Estética e Estranhamento Na Era Da Barbárie Social (Giovanni Alves, Ariovaldo Santos Etc.)Alysson Quirino SiffertAinda não há avaliações
- Slides - A ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICASDocumento19 páginasSlides - A ESTRUTURA DAS REVOLUÇÕES CIENTÍFICASAgnes RochaAinda não há avaliações
- Ementas Disciplinas AntropologiaDocumento74 páginasEmentas Disciplinas AntropologiaNão vou informar5100% (1)
- FEDERICI - S - Notas Sobre Gênero em O Capital de MarxDocumento11 páginasFEDERICI - S - Notas Sobre Gênero em O Capital de MarxCamila Bonfietti SoaresAinda não há avaliações
- Emediato RetorDocumento21 páginasEmediato Retorzzim12143Ainda não há avaliações
- Cadernos Didáticos para o Ensino de Filosofia - Vol 1 - 2013Documento178 páginasCadernos Didáticos para o Ensino de Filosofia - Vol 1 - 2013Kildary SilvaAinda não há avaliações
- Os Nuer Resumo Sist PoliticoDocumento4 páginasOs Nuer Resumo Sist PoliticoDaniela CostaAinda não há avaliações
- Lourenco Da Conceicao CardosoDocumento116 páginasLourenco Da Conceicao CardosoÉlida LimaAinda não há avaliações
- Pegada de PatrãoDocumento121 páginasPegada de PatrãoGime RoqueAinda não há avaliações
- Diário de Campo - Antropologia Como Alegoria - Carlos Rodrigues BrandãoDocumento168 páginasDiário de Campo - Antropologia Como Alegoria - Carlos Rodrigues BrandãoMatheus MartinsAinda não há avaliações
- WEBER, M. A Objetividade Do Conhecimento Nas Ciências SociaisDocumento11 páginasWEBER, M. A Objetividade Do Conhecimento Nas Ciências SociaisArthur MonzelliAinda não há avaliações
- DFD0314 - Antropologia Jurídica - Orlando Villas BoasDocumento62 páginasDFD0314 - Antropologia Jurídica - Orlando Villas BoasmarcelaAinda não há avaliações
- Foucault X HabermasDocumento10 páginasFoucault X HabermasSílvio CarvalhoAinda não há avaliações
- MANUELA CARNEIRO DA CUNHA - Libertos Sujeição Política Cap. 2Documento23 páginasMANUELA CARNEIRO DA CUNHA - Libertos Sujeição Política Cap. 2Rafael RamessesAinda não há avaliações
- Desenvolvimento, Poder, Gênero e Feminismo PDFDocumento17 páginasDesenvolvimento, Poder, Gênero e Feminismo PDFJulio CezarAinda não há avaliações
- Prefácio Contribuição Economia Política de Karl MarxDocumento6 páginasPrefácio Contribuição Economia Política de Karl MarxLucas GuedesAinda não há avaliações
- Adorno e A Industria CulturalDocumento3 páginasAdorno e A Industria CulturalTathi CamargoAinda não há avaliações
- Annales PDFDocumento14 páginasAnnales PDFestevaofreixoAinda não há avaliações
- Barata Andre Crenca Corroboracao Verdade CientificaDocumento26 páginasBarata Andre Crenca Corroboracao Verdade CientificaF@BIOIlluminatusAinda não há avaliações
- Breve Histórico Do Pensamento Psicológico Brasileiro Sobre Relações Étnico-Raciais PDFDocumento10 páginasBreve Histórico Do Pensamento Psicológico Brasileiro Sobre Relações Étnico-Raciais PDFAlice SalesAinda não há avaliações
- Feminismos SubalternosDocumento21 páginasFeminismos SubalternosJennifer M RodríguezAinda não há avaliações
- Evolucionismo e EtnografiaDocumento5 páginasEvolucionismo e EtnografiaVanessaAinda não há avaliações
- Biografia de Emile DurkheimDocumento2 páginasBiografia de Emile DurkheimMistério Nerd100% (1)
- Lewis Gordon - o Pensamento Decolonial Africano de Oyèrónké OyĕwùmíDocumento11 páginasLewis Gordon - o Pensamento Decolonial Africano de Oyèrónké OyĕwùmíWolffi S. SantanaAinda não há avaliações
- A Colonialidade Do Saber - Edgar LanderDocumento143 páginasA Colonialidade Do Saber - Edgar LanderArthur PereiraAinda não há avaliações
- Karl MarxDocumento12 páginasKarl MarxLohanna EufrazioAinda não há avaliações
- Roque Laraia - ÉTICA E ANTROPOLOGIA ALGUMAS QUESTÕESDocumento11 páginasRoque Laraia - ÉTICA E ANTROPOLOGIA ALGUMAS QUESTÕESCamila TribessAinda não há avaliações
- Pesquisa Cientifica Direito PDFDocumento159 páginasPesquisa Cientifica Direito PDFPriscila CunhaAinda não há avaliações
- Corrupção e FoucaultDocumento138 páginasCorrupção e FoucaultGiovanna ToledoAinda não há avaliações
- A Crítica de Carnap Aos Enunciados Da MetafísicaDocumento8 páginasA Crítica de Carnap Aos Enunciados Da MetafísicaAldrea AzevedoAinda não há avaliações
- A Escola de Frankfurt e A Questão Da Cultura - Renato OrtizDocumento22 páginasA Escola de Frankfurt e A Questão Da Cultura - Renato OrtizRaphaelAinda não há avaliações
- Cronograma Do Catecumenato Crismal - 2011Documento1 páginaCronograma Do Catecumenato Crismal - 2011fernandasegalin1184Ainda não há avaliações
- Ribard - Os Usos Politicos Do Passado - EbookDocumento228 páginasRibard - Os Usos Politicos Do Passado - EbookCésar Augusto QueirósAinda não há avaliações
- 2022 Direitos Da 3a Geração 2Documento12 páginas2022 Direitos Da 3a Geração 2xmariAinda não há avaliações
- Lenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbDocumento34 páginasLenio Luiz Streck - A Revolução Copernicana Do Neoconstitucionalismo e A (Baixa) Compreensão Do Fenômeno No Brasil - Uma AbMateus Barbosa Gomes AbreuAinda não há avaliações
- BATISTA, Vera Malaguti. Adesão Subjetiva À BarbárieDocumento12 páginasBATISTA, Vera Malaguti. Adesão Subjetiva À BarbárieCarol ColombaroliAinda não há avaliações
- MARCUS, George. O Intercâmbio Entre Arte e Antropologia - Revista de Antropologia. São Paulo, 2004.Documento26 páginasMARCUS, George. O Intercâmbio Entre Arte e Antropologia - Revista de Antropologia. São Paulo, 2004.Rodrigo Duarte100% (1)
- De Que Riem Os Bóia-FriasDocumento519 páginasDe Que Riem Os Bóia-FriasMaurício CaetanoAinda não há avaliações
- BRANDÃO, Leonardo. A Cidade e A Tribo Skatista. Juventude, Cotidiano e Práticas Corporais Na História Cultural. Ebook PDFDocumento160 páginasBRANDÃO, Leonardo. A Cidade e A Tribo Skatista. Juventude, Cotidiano e Práticas Corporais Na História Cultural. Ebook PDFjulio brottoAinda não há avaliações
- O Debate Da Arquitetura Moderna - BaieuxDocumento7 páginasO Debate Da Arquitetura Moderna - Baieuxjhsantos2013Ainda não há avaliações
- Resumo Ensaio Sobre As Dadivas Mauss PDFDocumento22 páginasResumo Ensaio Sobre As Dadivas Mauss PDFRaphael LaghiAinda não há avaliações
- Identidade Na Pós-Modernidade Uminho PDFDocumento13 páginasIdentidade Na Pós-Modernidade Uminho PDFjooo93Ainda não há avaliações
- Mascaro, Alysson - Utopia - e - DireitoDocumento190 páginasMascaro, Alysson - Utopia - e - DireitoHenrique GomesAinda não há avaliações
- Coroas MGoldenbergDocumento21 páginasCoroas MGoldenbergJoão Pedro MendesAinda não há avaliações
- O Conceito de Jaula de Aço WeberDocumento14 páginasO Conceito de Jaula de Aço WeberThalisson MaiaAinda não há avaliações
- Georg Simmel e A Sociologia Da ModaDocumento21 páginasGeorg Simmel e A Sociologia Da Modatheusma5Ainda não há avaliações
- 06 Morin X LuhmannDocumento16 páginas06 Morin X LuhmannMarcelynne AranhaAinda não há avaliações
- HUTCHEON, Linda. Poética Do Pós-Moderno. Tradução de Ricardo Cruz. Rio de Janeiro Imago, 1991.Documento15 páginasHUTCHEON, Linda. Poética Do Pós-Moderno. Tradução de Ricardo Cruz. Rio de Janeiro Imago, 1991.jamesscheresAinda não há avaliações
- Historia e Arte Heranca Memoria PatrimonDocumento1 páginaHistoria e Arte Heranca Memoria PatrimonVíctor Veríssimo GuimarãesAinda não há avaliações
- A Abrangência Da AntropologiaDocumento21 páginasA Abrangência Da AntropologiaCarlos Alberto DiasAinda não há avaliações
- Teoria ContemporãneaDocumento17 páginasTeoria ContemporãneaFabricio NevesAinda não há avaliações
- Um Roteiro de Leitura para A Antropologia - Ensaios e Notas PDFDocumento15 páginasUm Roteiro de Leitura para A Antropologia - Ensaios e Notas PDFLuan SantosAinda não há avaliações
- Filosofia Da Tecnologia - Um Convite PDFDocumento26 páginasFilosofia Da Tecnologia - Um Convite PDFJuliana R PereiraAinda não há avaliações
- O Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)No EverandO Planejamento Educacional em Mazagão-AP: um olhar sobre o Plano Municipal de Educação no triênio (2015-2017)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- Tapiro. J - o Contexto Da ReconceitualiaçãoDocumento9 páginasTapiro. J - o Contexto Da ReconceitualiaçãoisabelaAinda não há avaliações
- Simulado Einstein 1 - ObjetivaDocumento17 páginasSimulado Einstein 1 - ObjetivaGiovanna Galvão ScheideggerAinda não há avaliações
- Trabalho Educacao Civica para CidadaniaDocumento8 páginasTrabalho Educacao Civica para CidadaniaMachisso Montgomery SilvérioAinda não há avaliações
- Histo Ria Antiga - Gre CiaDocumento19 páginasHisto Ria Antiga - Gre CiaJoão Bosco DuarteAinda não há avaliações
- Slide 2Documento19 páginasSlide 2EmpresarialAinda não há avaliações
- TestDocumento1 páginaTestAna Isabel Lobo CésarAinda não há avaliações
- Populismo o Que É, Características e Populismo de DireitaDocumento1 páginaPopulismo o Que É, Características e Populismo de DireitaEu Sthefany XavierAinda não há avaliações
- Livro Definitivo Proext 2013 - Ressocialização FemininaDocumento334 páginasLivro Definitivo Proext 2013 - Ressocialização FemininaNikácio Júnior100% (1)
- Lei Complementar N° 94, de 1998Documento2 páginasLei Complementar N° 94, de 1998Leandro MaxcielAinda não há avaliações
- Lei Complementar #073 - 2013Documento7 páginasLei Complementar #073 - 2013Lorena CarvalhoAinda não há avaliações
- O Ensino de Geografia No Seculo XxiDocumento8 páginasO Ensino de Geografia No Seculo XxiLusianne TorresAinda não há avaliações
- Ensino Técnico Subsequente 2022Documento13 páginasEnsino Técnico Subsequente 2022yellow birdAinda não há avaliações
- Causas Dos Movimentos MigratóriosDocumento26 páginasCausas Dos Movimentos Migratórios697958650% (4)
- Dissertacao Kelly Cristina Da Silva NevesDocumento94 páginasDissertacao Kelly Cristina Da Silva NevesCarol BernardesAinda não há avaliações
- A Exaltação Da Razão No Iluminismo e A Crítica À Razão Instrumental Da Escola de Frankfurt 1 PDFDocumento11 páginasA Exaltação Da Razão No Iluminismo e A Crítica À Razão Instrumental Da Escola de Frankfurt 1 PDFAlexander NantesAinda não há avaliações
- Convenção de Viena Sobre o Direito Dos TratadosDocumento32 páginasConvenção de Viena Sobre o Direito Dos TratadosLari1978Ainda não há avaliações
- Servidões - RestriçõesDocumento203 páginasServidões - Restriçõesjaneiro2009Ainda não há avaliações
- Texto - Afinal o Que É Ser CidadãoDocumento2 páginasTexto - Afinal o Que É Ser CidadãoJamile NascimentoAinda não há avaliações
- A Invenção Da Infância No Século XIX - Aula 1Documento18 páginasA Invenção Da Infância No Século XIX - Aula 1Gimene BragaAinda não há avaliações
- O Que É Esclarecimento - KantDocumento6 páginasO Que É Esclarecimento - KantfahxcxAinda não há avaliações
- 2019 07 03 DoeDocumento139 páginas2019 07 03 DoeCarlos Eduardo VianaAinda não há avaliações
- Ica 10-1 Icaer ResumãoDocumento7 páginasIca 10-1 Icaer ResumãoHeitor MagnaniAinda não há avaliações
- 3º Ano - História - RecuperaçãoDocumento1 página3º Ano - História - RecuperaçãoSérgio RêgoAinda não há avaliações
- Ação de Cobrança Rescisão ContratualDocumento7 páginasAção de Cobrança Rescisão ContratuallanaufAinda não há avaliações
- Textos para Leitura Comuna de ParisDocumento23 páginasTextos para Leitura Comuna de ParisCyro GarciaAinda não há avaliações
- Construtores e HerdeirosDocumento9 páginasConstrutores e HerdeirosEvelyn GomesAinda não há avaliações